Special Issue
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Africans: the HISTORY of a CONTINENT, Second Edition
P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 This page intentionally left blank ii P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 africans, second edition Inavast and all-embracing study of Africa, from the origins of mankind to the AIDS epidemic, John Iliffe refocuses its history on the peopling of an environmentally hostilecontinent.Africanshavebeenpioneersstrugglingagainstdiseaseandnature, and their social, economic, and political institutions have been designed to ensure their survival. In the context of medical progress and other twentieth-century innovations, however, the same institutions have bred the most rapid population growth the world has ever seen. The history of the continent is thus a single story binding living Africans to their earliest human ancestors. John Iliffe was Professor of African History at the University of Cambridge and is a Fellow of St. John’s College. He is the author of several books on Africa, including Amodern history of Tanganyika and The African poor: A history,which was awarded the Herskovits Prize of the African Studies Association of the United States. Both books were published by Cambridge University Press. i P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 ii P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 african studies The African Studies Series,founded in 1968 in collaboration with the African Studies Centre of the University of Cambridge, is a prestigious series of monographs and general studies on Africa covering history, anthropology, economics, sociology, and political science. -

Downloaded Cc-By-Nc from License.Brill.Com10/02/2021 05:36:28AM Via Free Access
chapter 2 Group Identifications: African and Global Categories Defining African Ethnicities against a Global Background Discussions about group identifications in sub-Saharan Africa, and elsewhere in the world, are today dominated by a somewhat odd parallelism between different concepts, which are rarely understood as alternatives. This relates to the factors of ethnicity, religion, and the post-colonial nation-building proj- ects: in the case of West Africa, for some regions, like Nigeria, the debate now favours religion almost exclusively as a divisive problem; in Ghana and Sierra Leone, regional and ethnic factors are broadly discussed; for Côte d’Ivoire, scholars seek explanations for what they regard as the failure of nation- building. The different factors, to which we can add family, kinship, and mod- els of political organisation, are rarely brought into a larger panorama. Moreover, they are not really seen as different options for identification for an individual or for a group.1 The current chapter endeavours to give the reader a solid general idea about ethnic sentiment as a conceptual factor in sub-Saharan Africa and in its global dimensions. It addresses key problems in this context: the debate about the nature of ethnicity, with its slowly changing arguments over the last five decades; and the quest for a working definition of ethnic groups. Concerning the former, it is necessary to engage with a basic discussion of whether ethnic identification is a long-lasting ‘traditional’ fact or a construction under condi- tions of colonial rule: that is, would a member of a certain community have automatically been inclined to identify herself or himself as belonging to her or his ethnic group, or was she or he usually led or even manipulated to do so? The second problem is also quite intriguing. -
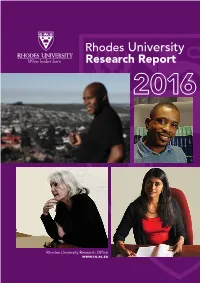
Annual Research Report 2016
RRR Cover Final 11/9/17 5:23 PM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K Composite RRR 2017 | Intro pages 11/10/17 11:59 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K A publication of the Rhodes University Research Office, compiled and edited by: Tarryn Gillitt, Thumeka Mantolo, Jill Macgregor and Jaine Roberts. Cover: Rhodes University researchers Visiting Professor Research Office Thembela Kepe (top left), Associate Professor Dion Nkomo Director: Jaine Roberts (top right), Professor Sioux McKenna (below left) and [email protected] Associate Professor Sam Naidu (below right). Tel: +27 (46) 603 8756/7572 Cover photos: Snow Cindy Harris www.ru.ac.za Composite RRR 2017 | Intro pages 11/10/17 10:10 AM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K Rhodes University Research Report | 2016 03 FOREWORD Dr Sizwe Mabizela, Vice-Chancellor 05 INTRODUCTION Dr Peter Clayton, Deputy Vice-Chancellor: Research & Development 07 TOP 30 RESEARCHERS 08 PHD GRADUATES AT THE 2016 GRADUATION CEREMONIES 13 VICE-CHANCELLOR’S DISTINGUISHED SENIOR RESEARCH AWARD Professor Heila Lotz-Sisitka 15 VICE-CHANCELLOR’S DISTINGUISHED RESEARCH AWARD Associate Professor Dion Nkomo 18 VICE-CHANCELLOR’S DISTINGUISHED RESEARCH AWARD Associate Professor Julie Coetzee 20 RESEARCH FOCUS Associate Professor Sam Naidu 22 HUMAN GEOGRAPHY Professor Thembela Kepe 24 THE CENTRE FOR POSTGRADUATE STUDIES Professor Sioux McKenna 26 RETRIEVING & RE-PUBLISHING ISIXHOSA WRITINGS 01 Composite RRR 2017 | Intro pages 11/10/17 10:10 AM Page 3 C M Y CM MY CY CMY K Rhodes University Research Report | 2016 30 Publications from the Vice-Chancellorate -
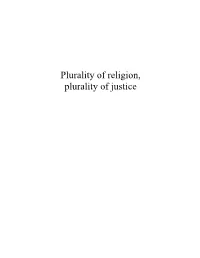
Plurality of Religion, Plurality of Justice
Plurality of religion, plurality of justice African Studies Centre African Studies Collection, vol. 28 Plurality of religion, plurality of justice Exploring the role of religion in disputing processes in Gorongosa, Central Mozambique Carolien Jacobs African Studies Centre P.O. Box 9555 2300 RB Leiden The Netherlands [email protected] http://www.ascleiden.nl Cover design: Heike Slingerland Photographs: Carolien Jacobs Printed by Ipskamp Drukkers, Enschede ISSN: 1876-018X ISBN: 978-90-5448-099-0 © Carolien Jacobs, 2010 Contents List of tables and figures vii Acknowledgements viii 1. INTRODUCTION: RELIGION AND DISPUTING 1 Central question 2 The concept of religion 4 Approaching religion in the field 9 The context of legal pluralism 14 Disputing 16 Religion in the disputing process 19 Introduction to the field of Mozambique 23 Structure of the book 31 2. A HISTORY OF MOZAMBIQUE, A HISTORY OF GORONGOSA 34 Early history 34 Intensifying colonisation 40 Defending a colony 44 Independence and civil war 55 Post-war reconstruction 63 3. IN SEARCH OF SPIRITUAL SECURITY IN A CHANGING WORLD 70 Changing society, changing beliefs 73 Converting or entangling? 88 Conclusion 94 4. NAVIGATING THROUGH A LANDSCAPE OF POWERS OR GETTING LOST ON MOUNT GORONGOSA 97 Mount Gorongosa: Locating a landscape of powers 100 Conclusion: Getting lost or finding the way? 117 5. CONFLICT MEDIATION BY SPIRIT MEDIUMS AND PASTORS 120 Dispute management by spirit mediums 121 Christian-oriented dispute management 146 Conclusion 155 v 6. SPIRITS AT THE POLICE STATION AND THE DISTRICT COURT 159 The Gorongosa district police station 161 Spirits at the district court 173 Conclusion 180 7. -
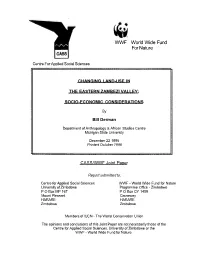
WWF World Wide Fund for Nature
WWF World Wide Fund For Nature Centre For Applied Social Sciences CHANGING LAND-USE IN THE EASTERN ZAMBEZI VALLEY: SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS By Bill Derman Department of Anthropology & African Studies Centre Michigan State University December 22 1995 Printed October 1996 CASS/WWF Joint Paper Report submitted to: Centre for Applied Social Sciences WWF - World Wide Fund for Nature University of Zimbabwe Programme Office - Zimbabwe P O Box MP 167 P O Box CY 1409 Mount Pleasant Causeway HARARE HARARE Zimbabwe Zimbabwe Members of IUCN - The World Conservation Union The opinions and conclusions of this Joint Paper are not necessarily those of the Centre for Applied Social Sciences, University of Zimbabwe or the WWF - World Wide Fund for Nature. TABLE OF CONTENTS PREFACE ................ ii INTRODUCTION ............... 1 PART 1 The Eastern Zambezi Valley: An Historical Overview . 4 PART 2 Development Interventions in the Eastern Valley . 13 PART 3 Non-Governmental Organisations ...... 19 PART 4 Migration and Migrants ......... 22 PART 5 Local Responses to Change ........ 26 PART 6 New and Planned Development Initiatives .. 32 PART 7 The Organisational Environment ...... 46 PART 8 Policy and Land Use Planning ....... 50 ENDNOTES ............. 52 BIBLIOGRAPHY .............. 57 PREFACE This study by Professor Bill Derman is intended to provide an overview of socio- economic dimensions which have influenced, and often controlled, land use in the eastern Zambezi Valley of Zimbabwe. The study also provides a wider contextual framework to several more detailed studies of the ecological, economic and social components of land use, agriculture, and natural resource use and management being undertaken by CASS and WWF. Much of this work is in support of Zimbabwe's Communal Areas Management Programme for Indigenous Resources - CAMPFIRE, but has wider implications for the development of sustainable land use practices and resource management regimes in the region. -

Ivory and Slaves in East and Central Africa (C
Ivory and slaves in East and Central Africa (c. 1800- 1880) Com- Under Central and East Africa we include most of the land north of the Limpopo and Pari' south of the Equator. The coast of what is often called West Central Africa featured in the chapters on the Atlantic slave trade and West Africa, but the peoples and routes that other supplied the slaves for the coast will be discussed here. There are some similarities ports of between the situation in North and West Africa and that existing in East and Central Africa Africa. In Northeast Africa and in the central Sudan of West Africa we come across warlords such as Zubayr and Rabih. In Central and East Africa we meet up with leaders such as Msiri, Mirambo, Tippu Tip and Mlozi who also built up secondary trading and conquest states that dealt in slaves and ivory. In these other regions we witness some empire building during the period of the jihads by people such as al-Hajj Umar and Samory Toure, by Mohammad Ali in Egypt and Menelik in Ethiopia. In this region too, we have some empire building and state expansion, for example on the island of Madagascar by the Merina, in the area of the Great Lakes by Buganda, and also the growth of the trading empire of the Omani Arabs in East Africa. But large empires were scarce because the geography did not encourage the growth of big polities. It was mainly in the Great Lakes region that we find sizeable states such as Buganda. -

Africans: the HISTORY of a CONTINENT, Second Edition
P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 This page intentionally left blank ii P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 africans, second edition Inavast and all-embracing study of Africa, from the origins of mankind to the AIDS epidemic, John Iliffe refocuses its history on the peopling of an environmentally hostilecontinent.Africanshavebeenpioneersstrugglingagainstdiseaseandnature, and their social, economic, and political institutions have been designed to ensure their survival. In the context of medical progress and other twentieth-century innovations, however, the same institutions have bred the most rapid population growth the world has ever seen. The history of the continent is thus a single story binding living Africans to their earliest human ancestors. John Iliffe was Professor of African History at the University of Cambridge and is a Fellow of St. John’s College. He is the author of several books on Africa, including Amodern history of Tanganyika and The African poor: A history,which was awarded the Herskovits Prize of the African Studies Association of the United States. Both books were published by Cambridge University Press. i P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 ii P1: RNK 0521864381pre CUNY780B-African 978 0 521 68297 8 May 15, 2007 19:34 african studies The African Studies Series,founded in 1968 in collaboration with the African Studies Centre of the University of Cambridge, is a prestigious series of monographs and general studies on Africa covering history, anthropology, economics, sociology, and political science. -

Appendix Countries of Africa
COUNTRIES OF AFRICA 491 Appendix Countries of Africa Official name C apital Date of independence and former/present rul ing pow er ALGERIA, Democratic and Popular Republic of Algiers 3 July 1962 - France ANGOLA, People's Republic of Luanda 11 November 1975 - Portu gal BENIN, Republic of Porto Novo 1 August 1960 - France BOTSWANA, Republic of Gaborone 30 September 1966 - Britain BURKINA FASO, Popular Democratic Repub Ouagadougou 5 August 1960 - France lic of BURUNDI, Republic of Bujumbura 1 July 1962 - Belgium CAMEROON, Republic of Yaounde 1 January 1960 - France CAPE VERDE, Republic of Praia (SSo Tiago 5 July 1975 - Portugal Island) CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Bangui 13 August 1960 - France CHAD, Republic of N'Djamena 11 August 1960 - France COMOROS, Federal Islamic Republic of the Moroni (Grand 6 July 1975 - France Comoro Island) CONGO, Republic of the Brazzaville 15 August 1960 - France 492 APPENDIX Official name C apital Date of independence and former/present rul ing pow er C6TE D'IVOIRE, Republic of Abidjan/Yamous- 7 August 1960 - France soukro DJIBOUTI, Republic of Djibouti 27 June 1977 - France EGYPT, Arab Republic of Cairo 28 February 1922 - Britain EQUATORIAL GUINEA, Republic of Malabo (Bioko 12 October 1968 - Spain Island) ETHIOPIA, People's Democratic Republic of Addis Ababa Since early times GABON, Republic of Libreville 17 August 1960 GAMBIA, Republic of The Banjul 18 February 1965 - Britain GHANA, Republic of Accra 6 March 1957 - Britain GUINEA, Republic of Conakry 2 October 1958 - France GUINEA-BISSAU, Republic of Bissau -

On Lives, Politics and History
On lives, politics and history A conversation with Allen F. Isaacman and Barbara S. Isaacman about activism, Mozambique and other African histories Diogo Ramada Curto and Nuno Domingos Práticas da História, n.º 12 (2021): 216-267 www.praticasdahistoria.pt On lives, politics and history A conversation with Allen F. Isaacman and Barbara S. Isaacman about activism, Mozambique and other African histories by Diogo Ramada Curto and Nuno Domingos* In late 2019, Allen and Barbara Isaacman were in Portugal to conduct research on Samora Machel – guerrilla fighter and first president of the People’s Republic of Mozambique – which led to the book Samora Machel. A life cut short, published in 20201, which will be followed by another biography, more developed and academic in tone. During this research stay, they presented the Portuguese translation of their book about the Cahora Bassa dam2. Since the late 1960s, Allen and Barbara Isaacman have been working on what is now the territory of Mozambique, developing one of the most extensive and solid researches on the history of Africa. Their analyses focus on African political and social structures, the process of Portuguese colonial occupation, and how it affected the lives of African populations. In their books, archival knowledge and oral sources support a historiography concerned with the analysis of field processes, namely with the intention of bringing to the forefront the practices, expectations, and worldviews of the local populations. * Diogo Ramada Curto ([email protected]). Instituto de Política e Relações Internacionais (IPRI), NOVA FCSH. Rua de D. Estefânia, 195 - 5ºD, 1000-155, Lisboa, Portugal. -

Brazil & Lusophone Africa
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL BBRAZIL & LUSPHONE AFRICA: A STUDY OF HISTORY, INTERNATIONAL RELATIONS, & INTERNATIONAL TRADE DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE THOMAS SUTTON Rio de Janeiro - 2014 Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV Sutton, Thomas Brazil & Lusphone Africa: a study of history, international relations, & international trade / Thomas Sutton. – 2014. 143 f. Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. Orientador: Istvan Karoly Kasznar. Inclui bibliografia. 1. Relações internacionais. 2. Relações econômicas internacionais. 3. Comércio internacional. 4. Brasil – História. 5. Países de língua portuguesa – História. 6. Brasil – Relações exteriores – Países de língua portuguesa. 7. Países de língua portuguesa – Relações exteriores – Brasil. I. Kasznar, Istvan Karoly. II. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. CDD – 327 2 3 ACKNOWLEDGMENTS The opportunity to have participated in the Corporate International Master (CIM) sponsored by Georgetown University (GU), Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), and La Escola Brasiliera de Administraçao Pública e de Empresas of the Fundaçao Getulio Vargas (EBAPE/FGV) has been a very unique and rewarding experience. I would like to extend my personal thanks to my family for their patience and support during a challenging but very knowledge filled year full of international experiences. I would like to thank my mother and sisters for their support of my academic pursuits; and also my father Henry Sutton for his unconditional support in all of my academic and professional pursuits – may he rest in peace. -

Mozambique: from Colonialism to Revolution, 1900-1982
Mozambique: from colonialism to revolution, 1900-1982 http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.cbp1004 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org Mozambique: from colonialism to revolution, 1900-1982 Author/Creator Isaacman, Allen; Isaacman, Barbara Publisher Westview Press, Inc Date 1983-00-00 Resource type Books Language English Subject Coverage (spatial) Mozambique Coverage (temporal) 1900 - 1982 Rights By kind permission of Allen Isaacman and Barbara Isaacman. Description 1. Introduction 2 The Precolonial Period, 1500-1880 Mozambique, 1500-1850 The Mirage of Portuguese Empire—Mozambique on the Eve of the Partition of Africa, ca. -

Ewe Mobilisation from the Late Nineteenth Century to the 1960S 220
Ethnicity and the Colonial State <UN> Studies in Global Social History Editor Marcel van der Linden (International Institute of Social History, Amsterdam, The Netherlands) Editorial Board Sven Beckert (Harvard University, Cambridge, ma, usa) Philip Bonner (University of the Witwatersrand Johannesburg, South Africa) Dirk Hoerder (University of Arizona, Phoenix, ar, usa) Chitra Joshi (Indraprastha College, Delhi University, India) Amarjit Kour (University of New England, Armidale, Australia) Barbara Weinstein (New York University, New York, ny, usa) VOLUME 22 The titles published in this series are listed at brill.com/sgsh <UN> Ethnicity and the Colonial State Finding and Representing Group Identifications in a Coastal West African and Global Perspective (1850–1960) By Alexander Keese LEIDEN | BOSTON <UN> This is an open access title distributed under the terms of the prevailing cc-by-nc License at the time of publication, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. An earlier version of this monograph was accepted as habilitation thesis by the Faculty of Humanities of the University of Berne, Switzerland, in 2010. Published with the support of the Faculty of Arts of the University of Geneva. Cover illustration: Large photo: View of Joal-Fadiouth (Senegal). Photograph and copyright by Alexander Keese. Photo insert left: “United Nations Trusteeship Council Grants Oral Hearing to African Petitioner”. (Conversation between Sylvanus Olympio, spokesman of the All-Ewe Conference, and Ralph J. Bunche, Director of the un Trusteeship Division, before the 11th meeting of the Trusteeship Council, 8 December 1947, Lake Success, New York, United States.) un Photo Archives, Photo 166842.