Os Rumos Do Conceito De Mito E a Fenomenologia Peirciana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Brill's Companion to Aphrodite / Edited by Amy C
Brill’s Companion to Aphrodite Edited by Amy C. Smith and Sadie Pickup LEIDEN • BOSTON 2010 On the cover:AnAtticblack-!gure amphora, featuring Aphrodite and Poseidon, ca. 520"#. London, British Museum B254. Drawing a$er Lenormant, de Witte, Élite des monuments céramographiques. Matériaux pour l’histoire des religions et des moeurs de l’antiquité (Paris, 1844–1861), 3, pl. 15. %is book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Brill's companion to aphrodite / edited by Amy C. Smith & Sadie Pickup. p. cm. Emerged from a conference at the University of Reading, May 8-10, 2008. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-18003-1 (hardback : alk. paper) 1. Aphrodite (Greek deity)–Congresses. I. Smith, Amy Claire, 1966- II. Title. BL820.V5B74 2010 292.2'114–dc22 2009052569 ISSN 1872-3357 ISBN 978 9004 18003 1 Copyright 2010 by Koninklijke Brill NV,Leiden, %eNetherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Hotei Publishing, IDC Publishers, Martinus Nijho& Publishers and VSP. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in aretrievalsystem,ortransmittedinanyformorbyanymeans,electronic,mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Brill has made all reasonable e&orts to trace all right holders to any copyrighted material used in this work. In cases where these e&orts have not been successful the publisher welcomes communications from copyright holders, so that the appropriate acknowledgements can be made in future editions, and to settle other permission matters. Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Koninklijke Brill NV provided that the appropriate fees are paid directly to %eCopyrightClearanceCenter, 222 Rosewood Drive, Suite 910, Danvers, MA 01923, USA. -
Comparative Religion, a Survey of Its Recent Literature, by Louis Henry Jordan
tjdvu "- )\-r\$l$cUiS lU 1 1? * SOUTHERN BRANCH UNIVERSITY of CALIFORNIA LIBRARY LOS ANGELES. CALIF. COMPARATIVE RELIGION A SURVEY OF ITS RECENT LITERATURE TEINTED IN ENGLAND AT THE OXFORD UNIVERSITY PRESS BY FREDERICK HALL COMPARATIVE RELIGION A SURVEY OF ITS RECENT LITERATURE BY LOUIS HENRY JORDAN, B.D. (EDIN.) MEMBER OF THE INSTITUT El HNOGRAPHIQUE INTERNATIONAL, PARIS ' ' AUTHOR OF COMPARATIVE RELIGION : ITS GENESIS AND GROWTH 'THE STUDY OF RELIGION IN THE ITALIAN UNIVERSITIES', ETC. SECOND EDITION, REVISED AND AUGMENTED VOLUME I 1900-1909 HUMPHREY MILFORD OXFORD UNIVERSITY PRESS LONDON EDINBURGH GLASGOW NEW YORK TORONTO MELBOURNE BOMBAY 1920 o o 2.T14 First Edition. Edinburgh, 1910 Srrond Edition. (Revised throughout, but not published.) 1910 Second Edition. London, 1920 Volumes II and III (1910-1915), revised and augmented, will be published next year. y^ 7751 71 CONTENTS r.vfJK Preface .......... vii FIRST SECTION 1900-1905 Bousset, Das Wesen der Religion ..... 7 Farnell, The Cults of tlie Greek States .... 11 Farnell, The Evolution of Religion ..... 13 Forlong, Short Studies in tlie. Science of Comparativi Religions 15 Frazer, Tlie Golden Bough. A Study in Magic and Religion . 17 Hall, Christian Belief interpreted by Christian Experience . 1!) Jordan, Comparative Religion: Its Genesis ami Growth 22 Kellogg, A Handbook of Comparative Religion . 24 MacCulloch, Comparative Theologi/ ..... 31 Mariano, Crista e Budda, e tUtri iddii deW Oriente, 8tudii i reUgione comparata ...... ::r, Reinach, Cidles, mythes, et religions .... 37 FOUR IMPERATIVE REQUIREMENTS A Rigidly Restrictod Area of Research ..... :'.!> Concentration therein upon Borne Individual Quesl . .40 A Competent S( ientific Journal ...... 41 Lectureships in Comparative Religion . .... 42 SECOND SECTION 1906-1909 Allen and Johnson, Transactions <\f the Third International Congress for the History of Religions .... -

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE the ANCIENT OLYMPIC GAMES AS POPULAR ENTERTAINMENT a Thesis Submitted in Partial Satisfa
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE THE ANCIENT OLYMPIC GAMES \\ AS POPULAR ENTERTAINMENT A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Master of Arts in Theatre by Jay Ross Waddill _-· June, 1980 The Thesis of Jay Ross Waddill is approved: Albert R. Baca Heinrich R. Falk, Chairman California State University, California ii I would like to thank Dr. Heinrich R. Falk for his invaluable advice and assistance throughout the preparation of the thesis and also his supportive enthusiasm and pa tience. iii ,.. TABLE OF CONTENTS PAGE ABSTRACT vi CHAPTER I INTRODUCTION 1 CHAPTER II ATHLETICS AND GREEK SOCIETY 6 Greek Ideal 6 The Polis and Panhellenism 8 Athletics and Everyday Life 13 CHAPTER III ATHLETICS AND RELIGION 22 Athletics and Funeral Ritual 24 Festivals 26 The Rustic Dionysia 30 The Greater Dionysia 31 The Greater Panathenaia 32 CHAPTER IV THE OLYMPIC GAMES 38 Origin of the Olympic Festival 39 History ~nd Description of the Olympic Festival 46 CHAPTER V POPULAR ENTERTAINMENT AND THE OLYMPIC GAM.ES 58 Popular Entertainment 58 iv PAGE 'l'he Athlete/Performer 61 ·~pectators/Audience_ 70 · Events/Perfo:rmance 77 CHAPTER VI CONCLUSION 88 NOTES 96 BIBLIOGRAPHY 108 v ABSTRACT 'I'HE ANCIENT OLYMPIC GAl-lES AS POPULAR EN'rERTAINMENT by Jay Ross Waddill Master of Arts in Theatre Many aspects of ancient Greek culture have influenced the development of Western civilization. None of these was more important to the ancient Greeks than t.he Olympic Games. Historians have suggested that the Olympic festi val may possibly have had its origins in a religious ritual, the funerary commemoration of a local hero, a new year's celebration, or an expression of military prowess and readiness. -

Appendixes Appendix A
APPENDIXES APPENDIX A Yeats's Notes in The Collected Poems, 1933 The Spelling of Gaelic Names In this edition of my poems I have adopted Lady Gregory's spelling of Gaelic names, with, I think, two exceptions. The 'd' of 'Edain' ran too well in my verse for me to adopt her perhaps more correct 'Etain,' and for some reason unknown to me I have always preferred 'Aengus' to her 'Angus.' In her Gods and Fighting Men and Cuchulain of Muirthemne she went as close to the Gaelic spelling as she could without making the names unpro nounceable to the average reader.'-1933. Crossways. The Rose (pages 3, 25) Many of the poems in Crossways, certainly those upon Indian subjects or upon shepherds and fauns, must have been written before I was twenty, for from the moment when I began The Wanderings of Oisin, which I did at that age, I believe, my subject-matter became Irish. Every time I have reprinted them I have considered the leaving out of most, and then remem bered an old school friend who has some of them by heart, for no better reason, as I think, than that they remind him of his own youth.' The little Indian dramatic scene was meant to be the first scene of a play about a man loved by two women, who had the one soul between them, the one woman waking when the other slept, and knowing but daylight as the other only night. It came into my head when I saw a man at Rosses Point carrying two salmon. -

The Three-Headed One at the Crossroad: a Comparative Study of the Slavic God Triglav
www.RodnoVery.ru The Three-Headed One at the Crossroad: A Comparative Study of the Slavic God Triglav* Jiří Dynda This paper introduces a comparative analysis combined with a historical source overview concerning a particular Slavic god: Triglav. The aim of this paper is to verify the hypothesis that Triglav was, in the cosmological perspective, a deity connecting the struc- tured layers of the world. Numerous indications from various written and archaeological sources may be drawn upon in the forming of a comprehensive picture of competences of this deity. Keywords: Triglav, tricephality, cosmology, crossroads, Indo-European comparative mythology 1. Introduction I would like to present an interpretation of western Slavic deity called Triglav. As a basis for this study, I have chosen the tricephalic nature of this deity, and I treat it both with the comparative and the historical-contextual methods. Setting the tricephality into the wider context of the Indo-European comparative mythology in correlation with a thorough analysis of our medieval sources, i.e. mostly Latin texts from medieval Po- merania and Brandenburgia from 11th to 13th centuries, can lead to the detection of some of the Triglav’s “faces” that were not much visible until now. The claimed tricephality of Triglav’s simulacrum (and, in general, the polycepha- lity of various Slavic deities) was an important issue in the long-standing scholarly dis- cussion, and the interpretation of this symbolic feature differs from scholar to scholar.1 Is the tricephality of Triglav a result of a Celtic influence? Or a Christian one? Or is there no need to search for complicated and perhaps artificial “influences”, and would much better option be to accept its genuine originality and its possible connection with the complex archaic symbolism of the number three?2 * I would like to thank to my friends and colleagues, who helped me with writing this paper during the winter of 2012: Michaela Šebetovská, Jan A. -
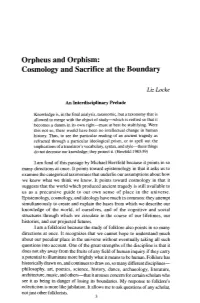
Orpheus and Orphism: Cosmology and Sacrifice at the Boundary
Orpheus and Orphism: Cosmology and Sacrifice at the Boundary Liz Locke An Interdisciplinary Prelude Knowledge is, in the final analysis, taxonomic, but a taxonomy that is allowed to merge with the object of study-which is reified so that it becomes a datum in its own right-must at best be stultifying. Were this not so, there would have been no intellectual change in human history. Thus, to see the particular reading of an ancient tragedy as refracted through a particular ideological prism, or to spell out the implications of a translator's vocabulary, syntax, and style-these things do not decrease our knowledge; they protect it. (Herzfeld 198359) I am fond of this passage by Michael Herzfeld because it points in so many directions at once. It points toward epistemology in that it asks us to examine the categorical taxonomies that underlie our assumptions about how we know what we think we know. It points toward cosmology in that it suggests that the world which produced ancient tragedy is still available to us as a precursive guide to our own sense of place in the universe. Epistemology, cosmology, and ideology have much in common: they attempt simultaneously to create and explain the bases from which we describe our knowledge of the world, of ourselves, and of the cognitive and social structures through which we circulate in the course of our lifetimes, our histories, and our projected futures. I am a folklorist because the study of folklore also points in so many directions at once. It recognizes that we cannot hope to understand much about our peculiar place in the universe without eventually taking all such questions into account. -

Politics, Philosophy, Writing : Plato's Art of Caring for Souls
Politics, Philosophy, Writing: Plato's Art of Caring for Souls Zdravko Planinc, Editor University of Missouri Press Politics, Philosophy, Writing This page intentionally left blank Politics, Philosophy, Writing i PLATO’S ART OF CARING FOR SOULS Edited with an Introduction by Zdravko Planinc University of Missouri Press Columbia and London Copyright © 2001 by The Curators of the University of Missouri University of Missouri Press, Columbia, Missouri 65201 Printed and bound in the United States of America All rights reserved 54321 0504030201 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Politics, philosophy, writing : Plato’s art of caring for souls / edited by Zdravko Planinc. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8262-1343-X (alk. paper) 1. Plato. I. Planinc, Zdravko, 1953– B395 .P63 2001 184—dc21 00-066603 V∞™ This paper meets the requirements of the American National Standard for Permanence of Paper for Printed Library Materials, Z39.48, 1984. Designer: Kristie Lee Typesetter: The Composing Room of Michigan, Inc. Printer and Binder: The Maple-Vail Book Manufacturing Group Typeface: Minion For Alexander Tessier This page intentionally left blank Contents Introduction 1 Zdravko Planinc Soulcare and Soulcraft in the Charmides Toward a Platonic Perspective 11 Horst Hutter Shame in the Apology 42 Oona Eisenstadt The Strange Misperception of Plato’s Meno 60 Leon Craig “A Lump Bred Up in Darknesse” Two Tellurian Themes of the Republic 80 Barry Cooper Homeric Imagery in Plato’s Phaedrus 122 Zdravko Planinc “One, Two, Three, but Where Is the Fourth?” Incomplete Mediation in the Timaeus 160 Kenneth Dorter Mystic Philosophy in Plato’s Seventh Letter 179 James M. -

Cambridge E-Books Title Author Collection Name Volume Edition
Cambridge E-Books Title Author Collection name Volume Edition The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements Ronald A. Brand, Paul Herrup 1 Edited by Evencio Mediavilla, Santiago Arribas, Martin Roth, Jordi 3D Spectroscopy in Astronomy Cepa-Nogué, Francisco Sánchez 1 A. W. H. Phillips: Collected Works in Contemporary Perspective Edited by Robert Leeson 1 Edited by Vincenzo Antonuccio- AGN Feedback in Galaxy Formation Delogu, Joseph Silk 1 The Abolition of the African Slave-Trade by the British Parliament Thomas Clarkson 2 1 The Abolition of the Death Penalty in International Law William A. Schabas 3 Herbert Cole Coombs, Foreword by Aboriginal Autonomy Mick Dodson 1 Absolutism and Society in Seventeenth-Century France William Beik 1 An Account of Some Recent Discoveries in Hieroglyphical Literature and Egyptian Antiquities Thomas Young 1 Account of the Harvard Greek Play Henry Norman 1 An Account of the Present State of the Island of Puerto Rico George D. Flinter 1 Accountability of Armed Opposition Groups in International Law Liesbeth Zegveld 1 Accounting Principles for Lawyers Peter Holgate 1 Achieving Industrialization in East Asia Edited by Helen Hughes 1 Acquiring Phonology Neil Smith 1 Across Australia Baldwin Spencer, F. J. Gillen 2 1 Archibald John Little, Edited by Across Yunnan Alicia Little 1 Across the Jordan Gottlieb Schumacher 1 Across the Plains Robert Louis Stevenson 1 Acta Mythologica Apostolorum in Arabic Edited by Agnes Smith Lewis 1 Acts of Activism D. Soyini Madison 1 Fenton John Anthony Hort, Edited by Brooke Foss Westcott, Thomas The Acts of the Apostles Ethelbert Page 1 Acute Medicine J. -

H.D.'S Helen in Egypt Origins Processes Genres
H.D.'S HELEN IN EGYPT ORIGINS PROCESSES GENRES Thesis submitted for the PhD. in English Literature at the University of Durham HARRIET ANN BOWEN TARLO SCHOOL OF ENGLISH UNIVERSITY OF DURHAM 1994 The copyright of this thesis rests with the author. No quotation from it should be published without his prior written consent and information derived from it should be acknowledged. i 1 2 SEP 1995 HARRIET TARLO H.D.'S HELEN IN EGYPT: ORIGINS, PROCESSES, GENRES ABSTRACT In the prelude to this thesis I introduce H.D.'s own very individualistic Hellenism. In the Origins section, I concentrate on the composition of the multiple characters of Helen in Egypt, both from original Greek sources and from contemporary ideas of classical and anthropological scholarship. I argue that the cosmology of the poem draws heavily on Greek, Egyptian and Tibetan legends of the underworld, suggesting that it can be read as an after-life adventure among spirits in a transitional state between life and death. In the second section of the thesis, Processes, I concentrate on how Helen's stream-of-consciousness, especially her remembering process, forms the structure of the poem. Helen in Egypt is also shaped, I argue, by a process of ritualistic roleplaying between characters which serves to explore essential human schemata. Showing how H.D. subverts traditional epic heroism in Helen in Egypt, I analyse the alternative occult and dialectical process of spiritual quest which takes place in the poem. Resolution, I argue, can only ever be momentary and experiential, focused on "supernormal" states of mind or the ritualistic ecstasy of the Mysteries. -

I WOMEN and RITUAL in PHILIPPI: WOMEN's RECEPTION of PAUL's
WOMEN AND RITUAL IN PHILIPPI: WOMEN’S RECEPTION OF PAUL’S LETTER TO THE PHILIPPIANS by Jason T. Lamoreaux Bachelor of Arts, 1995 Vanguard University of Southern California Costa Mesa, CA Master of Arts, 1999 Vanguard University of Southern California Costa Mesa, CA Master of Arts, 2003 University of Kentucky Lexington, KY Dissertation Presented to the Faculty of the Brite Divinity School Texas Christian University In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Biblical Interpretation Fort Worth, TX May 2011 i WOMEN AND RITUAL IN PHILIPPI: WOMEN’S RECEPTION OF PAUL’S LETTER TO THE PHILIPPIANS APPROVED BY DISSERTATION COMMITTEE Dr. Carolyn Osiek, Dissertation Director Dr. Peter Oakes, Reader Dr. Miguel Leatham, Reader Jeffrey Williams, Associate Dean of Academic Affairs Nancy Ramsay, Dean ii Contents LIST OF FIGURES . iii LIST OF TABLES . iv Chapter 1: Philippi in History and Scholarship . 1 Introduction . 1 The History of Philippi . 3 The Demography of Philippi . 7 Women in Philippi in Current Research . 8 Military and Athletic Language in the Philippian Letter . 21 Friendship Language in the Philippian Letter . 26 Conclusion . 30 Chapter 2: Ritual as a Window to the World of Women . 32 A Definition of Ritual . 33 A Typology of Ritual . 42 Ritual, Purity, and Pollution . 60 Conclusion . 63 Chapter 3: Women and the Artemis/Diana Cult . 65 Reliefs of Women on the Acropolis . 67 Reliefs of Artemis on the Acropolis . 75 Rituals Associated with the Artemis Cult . 82 Birth/Death Rites . 87 Marriage/Death Rites . 102 i Conclusion . 113 Chapter 4: Other Cults . 115 Dionysus (Liber Pater) . -

Mythology) 1 Pluto (Mythology)
Πλούτων The Angel of the Creative Word draws on the planetary energy of Pluto for his power, and in the ancient schools the Initiator was often referred to by the same name. Price, John Randolph (2010-11-24). Angels Within Us: A Spiritual Guide to the Twenty-Two Angels That Govern Our Everyday Lives (p. 266). Random House Publishing Group. Kindle Edition. Pluto (mythology) 1 Pluto (mythology) For the dwarf planet, see Pluto. For other uses, see Pluto (disambiguation). Pluto (Greek: Πλούτων, Ploutōn) was the ruler of the underworld in classical mythology. The earlier name for the god was Hades, which became more common as the name of the underworld as a place. In ancient Greek religion and myth, Pluto represents a more positive concept of the god who presides over the afterlife. Ploutōn was frequently conflated with Ploutos (Πλοῦτος, Plutus), a god of wealth, because mineral wealth was found underground, and because as a chthonic god Pluto ruled the deep earth that contained the seeds necessary for a bountiful harvest.[1] The name Ploutōn came into widespread usage with the Eleusinian Mysteries, in which Pluto was venerated as a stern ruler but the loving husband of Persephone. The couple received souls in the afterlife, and are invoked together in religious inscriptions. Hades by contrast had few temples and religious practices associated with him, and is portrayed as the dark and violent abductor of Persephone. Pluto velificans, with a Cupid attending his abduction of Proserpina in a four-horse chariot (Roman cinerary altar, Antonine Era, 2nd century) Pluto and Hades differ in character, but they are not distinct figures and share their two major myths. -

Heracles and Heroic Disaster by Katherine Elizabeth Lu
Heracles and Heroic Disaster by Katherine Elizabeth Lu A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Classical Studies) in the University of Michigan 2013 Doctoral Committee: Professor Ruth Scodel, Chair Professor Sharon Herbert Professor Richard Janko Associate Professor Francesca Schironi © Katherine Elizabeth Lu 2013 For my parents, Calvin and Florence Lu, who first taught me the importance of the text ii Acknowledgements A project such as this relies on the efforts of many people. First and foremost, I thank my advisor, Ruth Scodel. Her wisdom and willingness to push the implications of my ideas have been invaluable. The insightful and incisive criticism she has offered has, for many years now, sharpened my thinking and writing. I owe a large debt of gratitude to Richard Janko. His meticulous reading and comments have greatly improved this study, from its origins to its completion. His love for the Greek world and excellent scholarship have inspired me throughout my graduate training. I thank Francesca Schironi, who asked crucial questions of my work and then pointed me in the right directions. And I am grateful to Sharon Herbert. Her good humor and expertise in Greek vase painting supported this work, each in its own way. Arthur Verhoogt provided wise and practical counsel at each stage in my graduate education; without him, I fear for the choices I would have made. Michelle Biggs made every day at the University of Michigan a little smoother. My years spent at Michigan were made pleasurable by the company of many fine classicists, historians, archaeologists: Evelyn Adkins, Emily Bembeneck, Matt Cohn, Alex Conison, Anne Reidmiller Cooper, Jenn Finn, Carolyn Gersh, Joe Groves, Tom Landvatter, Karen Laurence, Charlotte Maxwell-Jones, Matt Newman, and Jared Secord.