Portuguese (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

O Calendário Agrícola Na Comunidade Kalunga Vão De Almas: Uma Proposição a Partir Das Práticas De Manejo Da Mandioca
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA MESTRADO PROFISSIONAL EM SUSTENTABILIDADE JUNTO A POVOS E TERRAS TRADICIONAIS ADÃO FERNANDES DA CUNHA O CALENDÁRIO AGRÍCOLA NA COMUNIDADE KALUNGA VÃO DE ALMAS: UMA PROPOSIÇÃO A PARTIR DAS PRÁTICAS DE MANEJO DA MANDIOCA Brasília Julho de 2018 ADÃO FERNANDES DA CUNHA O CALENDÁRIO AGRÍCOLA NA COMUNIDADE KALUNGA VÃO DE ALMAS: UMA PROPOSIÇÃO A PARTIR DAS PRÁTICAS DE MANEJO DA MANDIOCA Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do título de Mestre no Programa de Pós-Graduação Profissional em Desenvolvimento Sustentável (PPG-PDS), Área de Concentração em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais. Orientadora: Dra. Maria da Gloria Moura Brasília Julho de 2018 2 FICHA CATALOGRÁFICA CUNHA, Adão Fernandes da. O Calendário Agrícola na Comunidade Kalunga Vão de Almas: uma proposição a partir das práticas de manejo da mandioca. Adão Fernandes da Cunha. Brasília-DF, 2018, 157 p. Dissertação de Mestrado - Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília. Mestrado Profissional em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais (MESPT) Orientadora: Dra. Maria da Gloria Moura. 1. [Quilombo Kalunga] 2. [Comunidade Vão de Almas] 3. [Calendário Agrícola] 4. [Proposição] 5. [Educação Escolar Quilombola] 6. [Educação Informal] 7. [Manejo da Mandioca] I. [Cunha], [Adão Fernandes da]. II. Título. É concedida à Universidade de Brasília permissão para reprodução de cópias desta dissertação e emprestar ou vender tais cópias, somente para propósitos acadêmicos e científicos. O (a) autor (a) reserva -
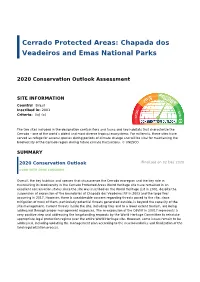
2020 Conservation Outlook Assessment
IUCN World Heritage Outlook: https://worldheritageoutlook.iucn.org/ Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks - 2020 Conservation Outlook Assessment Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks 2020 Conservation Outlook Assessment SITE INFORMATION Country: Brazil Inscribed in: 2001 Criteria: (ix) (x) The two sites included in the designation contain flora and fauna and key habitats that characterize the Cerrado – one of the world’s oldest and most diverse tropical ecosystems. For millennia, these sites have served as refuge for several species during periods of climate change and will be vital for maintaining the biodiversity of the Cerrado region during future climate fluctuations. © UNESCO SUMMARY 2020 Conservation Outlook Finalised on 02 Dec 2020 GOOD WITH SOME CONCERNS Overall, the key habitats and species that characterize the Cerrado ecoregion and the key role in maintaining its biodiversity in the Cerrado Protected Areas Wolrd Heritage site have remained in an excellent conservation status since the site was inscribed on the World Heritage List in 2001, despite the suspension of expansion of the boundaries of Chapada dos Veadeiros NP in 2003 and the large fires occurring in 2017. However, there is considerable concern regarding threats posed to the site, since mitigation of most of them, particularly potential threats generated outside, is beyond the capacity of the site management. Current threats inside the site, including fires and to a lower extent tourism, are being addressed through proper management responses. The re-expansion of the CdVNP in 20017 represents a very positive step and addressing the longstanding requests by the World Heritage Committee to reinstate appropriate legal protection regime over the entire World Heritage site. -

O BARULHO DA TERRA Nem Kalunga Nem Camponeses
Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Filosofia e Ciências Sociais Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia O BARULHO DA TERRA Nem Kalunga nem camponeses Rosy de Oliveira Orientadora: Yvonne Maggie Rio de Janeiro 2007 O BARULHO DA TERRA: NEM KALUNGA NEM CAMPONESES Rosy de Oliveira TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DA UNIVERDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA. Aprovada por: _____________________________________________ Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro (Orientadora) _____________________________________________ John Camerford (UFRRJ) _____________________________________________ Mari de Nazareth Baiocchi (UFG) _____________________________________________ Mirian Goldenberg(IFCS/UFRJ) _____________________________________________ Peter Fry (IFCS/UFRJ) _____________________________________________ RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL 2007 OLIVEIRA, ROSY O Barulho da Terra: Nem Kalunga Nem Camponês [Rio de Janeiro] 2007 PPGSA/IFCS/UFRJ, D. Sc, Antropologia e Sociologia Tese – Universidade Federal do Rio de Janeiro, PPGSA/IFCS 1. Comunidades Negras Rurais/Remanescentes de Quilombo I. PPGSA/IFCS/UFRJ II. Título (Série) RESUMO Nesta tese analiso a intrincada história que se passou em Tocantins e que diz respeito à questão da terra e aos processos identificação de grupos classificados como “comunidades remanescentes de quilombo” a partir dos critérios estabelecidos -

Estrutura E Ancestralidade Genética De Populações Afro-Derivadas Brasileiras
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL ESTRUTURA E ANCESTRALIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES AFRO-DERIVADAS BRASILEIRAS Carolina Carvalho Gontijo Brasília 2019 Estrutura e Ancestralidade Genética de Populações Afro-derivadas Brasileiras Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Universidade de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora. Candidata: Carolina Carvalho Gontijo Orientadora: Prof. Dra. Silviene Fabiana de Oliveira Brasília 2019 1 Trabalho desenvolvido conjuntamente no Laboratório de Genética Humana do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, e na Unidade de Xenética do Instituto de Ciencias Forenses da Universidade de Santiago de Compostela , Galícia, Espanha, com suporte financeiro da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF). 2 A minha família, Dedico. 3 AGRADECIMENTOS À minha orientadora Silviene Fabiana de Oliveira pelo apoio, confiança e amizade; A Maria Victoria Lareu, Christopher Phillips e Ángel Carracedo pela supervisão durante o estágio doutoral e por generosamente me receberem em sua equipe para a execução deste projeto; Aos membros da banca examinadora pela disponibilidade em avaliar esse trabalho; Às agências de fomento CAPES, CNPq e FAPDF, pelo apoio financeiro; Aos queridos professores e mestres que contribuiram -

ANN: Black Germany and Austria Bibliography
H-Black-Europe ANN: Black Germany and Austria Bibliography Discussion published by Tiffany N. Florvil on Wednesday, July 27, 2016 Dear Members, I have attached a bibliography on Black Germany and Austria in this email. The bibliography is not comprehensive, but offers literature (English and German) on the culture and history of Black Austrians and Germans. If you would like add more recommendations to this bibliography, please do not hesitate to email me [email protected]. In addition to this, H-Black-Europe would like to ask members to help us create additional Black Diaspora bibliographies for other countries such as France, Britain, Spain, the Netherlands, etc. If you are interested in creating a bibliography for one of these countries, please contact me at the email address that I mentioned above. I look forward to hearing from some of you. Please enjoy the bibliography. Best, Tiffany Florvil Select Bibliography on Black German and Black Austrian Culture and History Adebisi, Mola, Zwischen Rassenhass und Promihype (Zug: App2media, 2013). Amodeo, Immacolata, Die Heimat heißt Babylon: Zur Literatur ausländischer Autoren in der BRD (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996). Ani, Ekpenyong, „Die Frau, die Mut zeigt – der Verein ADEFRA. Schwarze Deutsche Frauen/Schwarze Frauen in Deutschland e. V.,“ in AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln von Öffentlichkeit gegen Gewalt e. V. und cyberNomads (cbN), eds.TheBlackBook. Deutschlands Häutungen (Frankfurt a. M./London, IKO Verlag, 2004), 145-149. Asamoah, Gerald, „Dieser Weg wird kein leichter sein ...“: Mein Leben und ich (München: Herbig, 2013). Aukongo, Stefanie-Lahya, Kalungas Kind: Wie die DDR mein Leben rettete (orig. 2009; Berlin: Brainstorm, 2013). -

Estudo Epidemiológico E Molecular Da Infecção Pelo Vírus Da Hepatite B Em Afro-Descendentes De Comunidade Isolada No Estado De Goiás (Kalungas)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA MÁRCIA ALVES DIAS DE MATOS ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E MOLECULAR DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B EM AFRO-DESCENDENTES DE COMUNIDADE ISOLADA NO ESTADO DE GOIÁS (KALUNGAS) Orientadora: Profª Drª Regina Maria Bringel Martins Tese de Doutorado Goiânia-GO 2007 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL MÁRCIA ALVES DIAS DE MATOS ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E MOLECULAR DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B EM AFRO-DESCENDENTES DE COMUNIDADE ISOLADA NO ESTADO DE GOIÁS (KALUNGAS) Orientadora: Profª Drª Regina Maria Bringel Martins Tese submetida ao Programa de Pós- Graduação em Medicina Tropical/ Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial para obtenção do Grau de Doutor em Medicina Tropical na área de concentração de Microbiologia. Este trabalho foi realizado com auxilio financeiro do CNPq, processo nº 4773319/2003-3 Goiânia-GO 2007 Termo de Ciência e de Autorização para Disponibilizar as Teses e Dissertações Eletrônicas (TEDE) na Biblioteca Digital da UFG Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás–UFG a disponibilizar gratuitamente através da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD/UFG, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título -

Public Spaces, Stigmatization and Media Discourses of Graffiti Practices in the Latin American Press: Dynamics of Symbolic Exclusion and Inclusion of Urban Youth
Public spaces, stigmatization and media discourses of graffiti practices in the Latin American press: Dynamics of symbolic exclusion and inclusion of urban youth Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Soziologie am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin vorgelegt von Alexander Araya López Berlin, 2015 Erstergutachter: Prof. Dr. Sérgio Costa Zweitgutachterin: Prof. Dr. Fraya Frehse Tag der Disputation: 10 Juli, 2014 2 Contents Acknowledgements .......................................................................................................... 5 Abstract ............................................................................................................................. 7 Zusammenfassung ............................................................................................................ 8 Introduction ...................................................................................................................... 9 Do cities still belong to us? ........................................................................................... 9 Chapter I ......................................................................................................................... 14 Youth: A social construction of otherness .................................................................. 14 Graffiti as social practice......................................................................................... 24 Chapter II ....................................................................................................................... -

Alfredo Wagner Berno De Almeida a Realização Deste Levantamento
Quilombos: Repertório Bibliográfico de uma Questão Redefinida (1995-1997) Alfredo Wagner Berno de Almeida A realização deste levantamento biblio medidas de mercado aberto, ao contrário, di gráfico, enfocando os títulos publicados no minuiria esta importância, bem como aquela decorrer do período de 1995 a 1997, direta ou da identidade nacional, ao favorecer a forma indiretamente referidos aos quilombos, tal ção de blocos econômicos e estabelecer medi como designados hoje, teve como finalidade das com pretensão homogeneizadora, que precípua atualizar referências bibliográficas de idealmente diluiriam as diferenças regionais trabalhos que produzi anteriormente, em 1988 através do princípio do “consumidor pleno”. A e 1994. Não foi pensado como um “balanço”, aceitação da assertiva inicial recoloca este le uma resenha ou uma revisão crítica da litera vantamento sobre os quilombos num campo tura concernente ao tema. Seus propósitos cir- temático polêmico e bastante redefinido.1 cunscreveram-se mais à enumeração de títulos, Em consonância com a premissa e a partir à distinção dos diferentes gêneros de produção também de realidades empiricamente observá intelectual e científica, às propriedades de po veis, pode-se adiantar que, mais do que antes, sição dos autores — e das agências a que estão o dado étnico conjuga-se e, por vezes, se so referidos — e às suas relações com o campo brepõe à condição camponesa nos pleitos e político. Aliás, o período selecionado é arbitrá reivindicações; constituindo-se, a nosso ver, rio, não obstante o destaque que os órgãos juntamente com os critérios relativos à cons públicos têm conferido ao tema, e se atém a ciência ecológica e aos vínculos locais profun necessidades próprias ao desdobramento de dos, numa das características elementares do projetos de pesquisa em curso. -

Festejos No Território Quilombola Kalunga
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TURISMO MESTRADO PROFISSIONAL EM TURISMO FESTEJOS NO TERRITÓRIO QUILOMBOLA KALUNGA O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL BRUNO LEONARDO DAMÁSIO SIMÕES ORIENTADOR: PROF. DR. JOÃO PAULO FARIA TASSO Brasília 2018 0 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TURISMO MESTRADO PROFISSIONAL EM TURISMO BRUNO LEONARDO DAMÁSIO SIMÕES FESTEJOS NO TERRITÓRIO QUILOMBOLA KALUNGA O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL Dissertação de Mestrado, apresentada como requisito parcial para a obtenção de título de Mestre em Turismo na Universidade de Brasília, Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo. ORIENTADOR: PROF. DR. JOÃO PAULO FARIA TASSO Brasília 2018 1 Simões, Bruno Leonardo Damásio. FESTEJOS KALUNGAS NA CHAPADA DOS VEADEIROS: Nuances do fenômeno turístico no maior território quilombola do Brasil/Bruno Leonardo Damásio Simões. Brasília, 2018. 112p. : Il. Dissertação de Mestrado. Centro de Excelência em Turismo, Universidade de Brasília, Brasília. 1. Comunidades Tradicionais. 2. Chapada dos Veadeiros. 3. Quilombolas. 4. Kalungas. 5. Planejamento Turístico. 6. Desenvolvimento Local. I. Universidade de Brasília. CET. É concedida à Universidade de Brasília permissão para reproduzir cópias desta dissertação e emprestar ou vender tais cópias, somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação de mestrado pode ser reproduzida sem -
![Revista África[S], V. 02, N. 03, 110 P., Jan/Jun. 2015 ISSN 2446-7375](https://docslib.b-cdn.net/cover/8253/revista-%C3%A1frica-s-v-02-n-03-110-p-jan-jun-2015-issn-2446-7375-3488253.webp)
Revista África[S], V. 02, N. 03, 110 P., Jan/Jun. 2015 ISSN 2446-7375
Revista África[s], v. 02, n. 03, 110 p., jan/jun. 2015 ISSN 2446-7375 Revista África(s) Núcleo de Estudos Africanos — NEA Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Estudos Africanos e Representações da África Universidade do Estado da Bahia — UNEB, Campus II, Alagoinhas Núcleo de Estudos Africanos — NEA Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos e Representações da África Departamento de Educação, Campus II Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Rodovia Alagoinhas-Salvador BR 110, Km 3 – CEP 48.040-210 Alagoinhas — BA Caixa Postal: 59 – Telefax.: (75) 3422-1139 Endereço eletrônico: [email protected] Editores gerais deste número: Prof. Dr. Raphael Rodrigues Vieira Filho Prof. Ms. Cândido Domingues Editoração eletrônica: Lino Greenhalgh Revisão linguística: Prof. Dr. Raphael Rodrigues Vieira Filho Prof. Ms. Cândido Domingues. Revisão (resumos inglês): Prof. Dr. Ales Vrbata (UEFS) Design da capa: Lino Greenhalgh Sítio de internet: www.revistas.uneb.br www.revistas.uneb.br/index.php/africas Ficha Catalográfica — Biblioteca do Campus II/UNEB – Bibliotecária: Maria Ednalva Lima Meyer (CRB: 5/504) África(s): Revista do Núcleo de Estudos Africanos e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos e Representações da África, Universidade do Estado da Bahia - v1, n.1 (jan./jun., 2014) – Alagoinhas: UNEB,2014 – v.; il. Semestral ISSN 2446-7375 online 1.Negros -História 2.África - Civilização 3. Brasil - Civilização – Influências africanas 4.Negros – Identidade racial 5. Cultura afro-brasileira CDD305.89 © 2016 do Núcleo de Estudos Africanos da UNEB É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem autorização expressa da Editora. Todos os direitos reservados ao Núcleo de Estudos Africanos e ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos e Representações da África da UNEB. -

Downloaded From
R. Price Scrapping Maroon history : Brazil's promise, Suriname's shame Argues that all American nations except Suriname now provide legal protection for its indigenous/Maroon populations. Demonstrates that successive Suriname governments have been pursuing an increasingly militant and destructive policy against both Maroons and indigenous communities. Calls for rapid legislation, to bring Suriname's constitution and legal code in line with the various human rights and ecological treaties to which the country is party. Also reviews recent work on remnants of quilombos in Brazil, which often uses research on Caribbean Maroon communities as implicit or explicit models. In: New West Indian Guide/ Nieuwe West-Indische Gids 72 (1998), no: 3/4, Leiden, 233-255 This PDF-file was downloaded from http://www.kitlv-journals.nl Downloaded from Brill.com09/28/2021 05:38:14PM via free access RICHARD PRICE SCRAPPING MAROON HISTORY: BRAZIL'S PROMISE, SURINAME'S SHAME From Canada in the north to Argentina in the south, every nation in the Americas now provides special legal protection for its indigenous (and, where relevant, Maroon) populations—except the Republic of Suriname. The history of Maroons in the Americas has always been linked to land. The seventeenth- and eighteenth-century treaties between Maroons and colonial powers in Colombia, Cuba, Ecuador, Jamaica, Mexico, Suriname, and elsewhere demarcated geographical zones of freedom, under the full control of the Maroons, in return for a cessation of hostilities.1 Collective control of territory (for agriculture, gathering, hunting, and fishing) also meant control over space in which to develop an autonomous culture. In Jamaica and Suriname, which had the largest enduring Maroon popula- tions, the spirit of these treaties was generally respected well into the second half of the twentieth century. -

SUBMIDIALOGIAS Peixe Morto
SUBMIDIALOGIAS Peixe Morto Estimulamos que este livro seja livre para ser copiado, modificado e distribuiído, sem a necessidade de permissao prévia, desde que não sirva para nenhum fim comercial, e desde que seja mantidos os nomes dos autores originais. Obras derivadas devem manter esta mesma licença ou outra com base na filosofia do comum. Toda utilização com objetivos artísticos, educacionais e submidiáticos é incentivada, assim como a adaptação para outras midias e formatos, como canções, videos, audiobooks, pinturas, programas de rádio ou TV. Este livro foi produzido por: Produção Gráfica: Roger Borges Organização do livro: Fabiane Morais Borges Capa: George Sanders Realização: Submidialogias Este livro foi produzido com a colaboração dos autores participantes da lista de discussão Submidialogias e alguns parceiros de redes convergentes. Foi diagramado inteiramente com softwares e fontes livres. Livro Submidialogia 3 Índice 5 - Introdução Fabiane Borges 7 - Manifesto Errorista Internacional Errorista 1 5 - Ciência Serena Maira Begalli & Amanda Wanderley 1 7 - Inovação e tecnologias livres Felipe Fonseca 29 - Copyright, Copyleft e Creative Anti-Commons Anna Nimus 59 - Dos abusos da lingua Morgana Gomes & Caio Resende 65 - Submidialogias - entre a mão e a contramão Ricardo Ruiz 85 - Quase infinito e/ou apodrece e vira adubo submidiático Vitoria Mario 94 - Decrystallization Jonathan Kemp 97 - Descristalização Jonathan Kemp 1 01 - Um corpo Grupo Empreza Mariana Marcassa 1 05 - A body Grupo Empreza Mariana Marcassa 1 1 1 - Sexo pela internet