Janaína Camara Da Silveira
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Socialist Planning
Socialist Planning Socialist planning played an enormous role in the economic and political history of the twentieth century. Beginning in the USSR it spread round the world. It influenced economic institutions and economic policy in countries as varied as Bulgaria, USA, China, Japan, India, Poland and France. How did it work? What were its weaknesses and strengths? What is its legacy for the twenty-first century? Now in its third edition, this textbook is fully updated to cover the findings of the period since the collapse of the USSR. It provides an overview of socialist planning, explains the underlying theory and its limitations, looks at its implementation in various sectors of the economy, and places developments in their historical context. A new chap- ter analyses how planning worked in the defence–industry complex. This book is an ideal text for undergraduate and graduate students taking courses in comparative economic systems and twentieth-century economic history. michael ellman is Emeritus Professor in the Faculty of Economics and Business, University of Amsterdam, Netherlands. He is the author, co- author and editor of numerous books and articles on the Soviet and Russian economies, on transition economics, and on Soviet economic and political history. In 1998, he was awarded the Kondratieff prize for his ‘contributions to the development of the social sciences’. Downloaded from Cambridge Books Online by IP 128.122.253.212 on Sat Jan 10 18:08:28 GMT 2015. http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139871341 Cambridge Books Online © Cambridge University Press, 2015 Downloaded from Cambridge Books Online by IP 128.122.253.212 on Sat Jan 10 18:08:28 GMT 2015. -

La Nueva Normalidad Económica China
www.politica-china.org 18º Primer trimestre 2016 La nueva normalidad económica china: desafíos internos y globales hacia una nueva estructura económica internacional en el siglo XXI Raquel Isamara León de la Rosa y Emilio Adolfo Calderón Mora China 2050: Base 2030 José Ignacio Martínez Cortés China: Factores potenciales y dificultades en su economía y sociedad a discutir y resolver en su XIII Plan Quinquenal Ernesché Rodríguez Asien El XIII Plan Quinquenal: antecedentes, contexto, contenidos y expectativas Xulio Ríos “13.5”: Uma nova estética para os planos quinquenais chineses André Bueno Outward direct investment and Chinese New Normal: A comparative analysis with Europe Alberto J. Lebrón Veiga www.politica-china.org Primer trimestre 2016 Dirección: Xulio Ríos Lugar de edición: Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40 36003 Pontevedra, Galicia, España Editor: Observatorio de la Política China Maquetación: PositiBos.gal ISSN: 2253-945X En el área iberoamericana, diferentes centros y personas vienen desarrollando desde hace años una ardua labor de seguimiento y análisis de la realidad china. El momento actual parece propicio para activar sinergias que permitan una mayor visibilidad de dicho trabajo, de forma que pueda ponerse en valor esa trayectoria y aflorar un discurso propio en nuestro ámbito político-cultural sobre los cambios en el mundo chino y sus implicaciones regionales y globales. Jiexi Zhongguo es una iniciativa del Observatorio de la Política China www.politica-china.org Índice 4 La nueva normalidad económica china: desafíos internos y globales hacia una nueva estructura económica internacional en el siglo XXI, Raquel Isamara León de la Rosa y Emilio Adolfo Calderón Mora. -
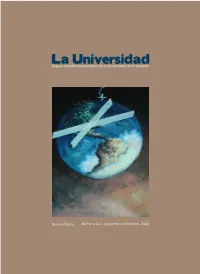
RLU3-4 CS3.Indd
La Universidad Órgano científi co-sociocultural de la Universidad de El Salvador Nueva Época Número 3-4, septiembre-diciembre, 2008 Autoridades universitarias Rector Secretario de comunicaciones Msc. Rufi no Antonio Quezada Sánchez Lic. Douglas Hernández Vicerrector académico Secretario de Proyección Social Msc. Miguel Ángel Pérez Ramos Ing. Miguel Ángel Rodríguez Arias Vicerrector administrativo Secretario de Planifi cación MAE. Óscar Noé Navarrete Romero Lic. Rodolfo Santos Velázquez Secretario general Secretaria de Relaciones Lic. Douglas Vladimir Alfaro Chávez Nacionales e Internacionales Máster Ada Ruth González de Nieto Fiscal general Dr. René Madecadel Perla Jiménez Secretaria de Arte y Cultura Lic. Ligia del Rosario Manzano Defensor de los derechos universitarios Msc. Nelson Boanerges López Carrillo Revista La Universidad: Director: Dr. David Hernández; Coordinadora: Lic. Lídice Nahomi González; Consejo Editorial: Msc. Rufi no Antonio Quezada Sánchez, Máster Miguel Ángel Pérez Ramos, MAE. Óscar Noé Navarrete, Máster Guillermo Campos, Lic. Douglas Hernández, Máster Vicente Cuchillas, Dr. Raúl Moreno Portada: Augusto Crespín Colaboraciones y contacto: Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador, Final Av. Mártires 30 de Julio, Ciudad Universitaria, 2225-1500 Ext. 5047, 2226-2282, [email protected], [email protected] ISSN 0041-8242 Univ al er ri si o t t a i r La Universidad d i Órgano científi co-sociocultural de la Universidad de El Salvador a E Nueva Época Número 3-4, septiembre-diciembre, -

Political Literature and Public Policy in Post-Mao China
University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 1989 Political literature and public policy in post-Mao China Steve Gideon The University of Montana Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/etd Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Gideon, Steve, "Political literature and public policy in post-Mao China" (1989). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 3248. https://scholarworks.umt.edu/etd/3248 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. COPYRIGHT ACT OF 1976 THIS IS AN UNPUBLISHED MANUSCRIPT IN WHICH COPYRIGHT SUBSISTS, ANY FURTHER REPRINTING OF ITS CONTENTS MUST BE APPROVED BY THE AUTHOR. MANSFIELD LIBRARY UNIVERSITY OF_ MONTANAA DATE : rm POLITICAL LITERATURE AND PUBLIC POLICY IN POST-MAO CHINA By Steve Gideon B.A., University of Montana, 1986 Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts University of Montana 1989 Approved by Chairman, Board of Examiners Jean, Graduate School AJ !5') I j E f Date UMI Number: EP34343 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent on the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. -

China's Politics of Modernization / by David Yuen Yeung.
CHINA'S POLITICS OF MODERNIZATION David Yuen Yeung B.A., Simon Fraser University, 1975 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in the Department of Political Science David Yuen Yeung SIMON FRASER UNIVERSITY AUGUST 1982 A11 rights reserved. This thesis may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission of the author. APPROVAL Name : David Yuen Yeung Degree : Master of Arts Title of Thesis: China's Politics of Modernization Examining Committee: Chairperson: Maureen Cove11 F. Qu&i/Quo, Senior Supervisor Ted Cohn KenY'? Okga, External Examiner ~ssodiateProfessor Department of Economics and Commerce Simon Fraser University PARTIAL COPY RIGHT LICENSE I hereby grant to Simon Fraser University the right to lend my thesis or dissertation (the title of which is shown below) to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. I further agree that permission for mu1 tiple copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by me or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Title of Thesi s1Dissertation : e CXtnds /3dh oj- ~d~a*nl~efim Author : (signature) (name) (date) ABSTRACT This thesis is an attempt to examine the modernization efforts of the People's Republic of China under Mao and the post-Mao period. -
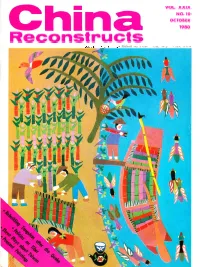
Searchable PDF Format
voL xxrx NO. IO OCTOBER ReconstFrrcts r980 Australia: A .$ 071 Neu NZ S 084 UK: i9 p LJSA: li 078 PUBLISHED MONTHLY Iry Ery.GlSt{, FRENCH, SPANISH, ARABIC, GERMAN, PORTUGUESE AND cHlNEsE BY THE cHtNA WELFARE rNsnrurE (sooNc c'xtr.ro uno, cuninu[nj vot. xxtx No. 10 ocToBER 1980 Articles of the Month CONTENTS Out ol the Ruint Tongshon Report After World's Worst Quake-Tangshan Rises Anew 2 Tongshon, one of Chi- A Power Plant no's most importont in- Restored, A Family Beborn I dustriol cities, wos Builders of the New City 11 leveled in the greot 1976 eorthquoke. A 1,700 Paraplegics 13 f ive-port report on its Sun Xiuqing's New Life IJ revivol, by o teom of reporters who spent two Notionolities weeks there. Present Policies for Tibet (lnterview) tb Poge 2 Economics Xue Muqiao lnnovative Economist 21 Present Policies lor Tibet 'Rare - Earths' Abound 56 A responsible codre Miedicine of the Stote Notion- olities Affoirs Commil. New Hands for Accident Victims 54 sion exploins the re. Culture cent dhonges in po- ond Art licy for Tibet, where New Plays About Taiwan 28 post mistokes hod Performers lrom Abroad produced economit 42 choos ond resentmenl The'Guqin'-Age-old Musical lnstrument 52 omong the people. Poge Peasant Paintings from Shanghai,s Outskirts 64 t6 Annols of Friendship lnnovotive Economist Xue Muqioo Frank Coe Ma Haide.(Dr George Hatem) 30 Across His new best.sellinq book the Lond onolyzes unsolved-orob- Dragon Boat Festival 24 lems of Grino's s6ciol- ist economy Cities of China: Chengdu 34 ond offers guidelines for the future. -

A La Vanguardia
32691 n A la vanguardia del desarrollo: Reflexiones desde el Banco Mundial, algunos ex Directores de País del Banco hacen un recuento de sus experiencias, tanto como administradores del portafolio del Banco en A la E sitios candentes de la economía mundial en los años noventa, como a través de sus carreras en el vanguardia del campo de la economía del desarrollo. Estos ensayos detallan, entre muchas historias de desarrollo, cómo China e India sacaron de la pobreza a millones, en tanto que Rusia colapsaba; cómo Bosnia-Herzegovina y Mozambique desarrollo rehicieron sus economías devastadas por la guerra, y cómo Tailandia, Turquía y Argentina cayeron en crisis Public Disclosure Authorized financieras. Estas importantes historias, contadas en primera persona por los Directores de País que estaban allí Reflexiones desde para ser sus testigos, proporcionan desprevenidas evaluaciones de procesos de desarrollo en los años noventa –qué tuvo éxito, qué falló y qué lecciones surgen de ello. Mundial el Banco Mundial Este libro es parte de un esfuerzo más amplio hecho por el Banco Mundial para entender la experiencia del desarrollo de los años noventa, una década extraordinariamente llena de eventos. Cada uno de los tres volúmenes Banco el del proyecto cumplen un objetivo diferente. Crecimiento económico en los años noventa:Aprendiendo de una déca- TCH da de reformas proporciona un análisis completo de la experiencia de desarrollo de la década, en tanto que Desafíos desde del desarrollo en los años noventa: Destacados diseñadores de política hablan de su experiencia ofrece una PUGA mirada reflexiva a las preocupaciones prácticas enfrentadas por éstos. ODD Public Disclosure Authorized T “Un libro extraordinariamente interesante. -

China and New Left Visions
China and New Left Visions China and New Left Visions Political and Cultural Interventions Edited by Ban Wang and Jie Lu LEXINGTON BOOKS Lanham • Boulder • New York • Toronto • Plymouth, UK Published by Lexington Books A wholly owned subsidiary of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 4501 Forbes Boulevard, Suite 200, Lanham, Maryland 20706 www.rowman.com 10 Thornbury Road, Plymouth PL6 7PP, United Kingdom Copyright © 2012 by Lexington Books All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the publisher, except by a reviewer who may quote passages in a review. British Library Cataloguing in Publication Information Available Library of Congress Cataloging-in-Publication Data China and new left visions : political and cultural interventions / edited by Ban Wang and Jie Lu. p. cm. ISBN 978-0-7391-6516-4 (cloth : alk. paper) -- ISBN 978-0-7391-6518-8 (electronic) Socialism in literature. 3. China--Politics and government--2002- 4. China--Politics and government- -1976-2002. I. Wang, Ban, 1957- II. Lu, Jie, 1958- DS779.46.C428 2012 951.06'1--dc23 2012017616 The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI/NISO Z39.48-1992. Printed in the United States of America Contents Acknowledgments vii Introduction: China and New Left Critique ix Ban Wang and Jie Lu I: -

From Accelerated Accumulation to the Socialist Market Economy in China: Economic Discourse and Development from 1953 to the Present
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Brødsgaard, Kjeld Erik; Rutten, Koen Book — Published Version From Accelerated Accumulation to the Socialist Market Economy in China: Economic Discourse and Development from 1953 to the Present Brill China Studies, No. 38 Provided in Cooperation with: Brill, Leiden Suggested Citation: Brødsgaard, Kjeld Erik; Rutten, Koen (2017) : From Accelerated Accumulation to the Socialist Market Economy in China: Economic Discourse and Development from 1953 to the Present, Brill China Studies, No. 38, ISBN 978-90-04-33009-2, Brill, Leiden, http://dx.doi.org/10.26530/oapen_627436 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/181393 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

No. 212 D Epartm Ent of E Conom Ics Working Paper Series
Working Paper Series ISSN 1753 – 5816 Please cite this paper as: Weber, I.M., and Semieniuk, G. (2018), “American Radical Economists in Mao’s China: From Hopes to Disillusionment”, SOAS Department of Economics Working Paper No. 212, London: SOAS University of London. No. 212 American Radical Economists in Mao’s China: From Hopes to Disillusionment by Isabella M. Weber & Department Economicsof Gregor Semieniuk (October 2018) Department of Economics SOAS University of London Thornhaugh Street, Russell Square, London WC1H 0XG, UK Phone: + 44 (0)20 7898 4730 Fax: 020 7898 4759 E-mail: [email protected] http://www.soas.ac.uk/economics/ The SOAS Department of Economics Working Paper Series is published electronically by SOAS, University of London. © Copyright is held by the author or authors of each working paper. SOAS Department of Economics Working Papers cannot be republished, reprinted or reproduced in any format without the written permission of the paper’s author or authors. This and other papers can be downloaded without charge from: SOAS Department of Economics Working Paper Series at http://www.soas.ac.uk/economics/research/workingpapers/ Research Papers in Economics (RePEc) electronic library at http://econpapers.repec.org/paper/ SOAS Department of Economics Working Paper No 212 – 2018 American Radical Economists in Mao’s China: From Hopes to Disillusionment* † ‡ Isabella M. Weber **and Gregor Semieniuk * This is a draft article. The final version is forthcoming in Research in the History of Economic Thought and Methodology, Volume 37, 2019. Abstract American radical economists in the 1960s perceived China under Maoism as an important experiment in creating a new society, aspects of which they hoped could serve as a model for the developing world. -

Chapter Five
chapter five ACADEMIC DEMOCRACY AND SPIRITUAL POLLUTION (1982–1985) In early 1982, Deng Liqun and Hu Qiaomu were placed in key positions in the fields of propaganda and culture, reflecting the Party’s resolution to tighten control on ideological matters. Soon afterwards, a campaign to strengthen patriotism and Communist morality followed. Some intel- lectuals who had been adamant in their critique of the Party role during the Cultural Revolution were purged. For example, Zhang Xianyang, a member of the CASS Marxist-Leninist Institute, continued to criti- cize Mao after the Theory Conference of 1979. Zhang questioned the Leninist political system, in particular the notion of ‘democratic central- ism’, and had called Hu Qiaomu an ‘anti-humanitarian’. When Deng Liqun became head of the Propaganda Department in 1982, Zhang was forced to step down as head of the Marx-Engels Research Office in the Marxism-Leninism Institute. Zhang withdrew from direct engagement in political activities and joined YuGuangyuan and Su Shaozhi in editing materials on socialism, but in the fall of 1985 he was allowed to re-register as a Party member and resumed his former administrative position. Though Deng Liqun and Hu Qiaomu retired from their posts as active leaders of the CASS Presidium, they retained their ties with CASS as advisors of the leadership and through their connection networks. The shifting of leaders between academic, political, and administrative orga- nizations did not seem to yield great problems or even debate. In 1982 Deng Liqun became the head of the Propaganda Department, one of the supervisory organs of CASS, when Zhou Yang retired as its deputy head to become Vice-President of CASS. -
Tesina Lichtenstein
UNIVERSIDAD DE BELGRANO Las tesinas de Belgrano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Licenciatura en Relaciones Internacionales China y su estrategia del «Go Out»: «La disminución del rol del Estado y la emergencia del Mercado dentro de la política de reforma y apertura» Nº 223 Deborah Lichtenstein Tutor: Julio Burdman Departamento de Investigación Octubre 2006 Indice INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................... 5 ASPECTOS METODOLÓGICOS. .......................................................................................................... 5 CAPÍTULO 1: El proceso histórico de la reforma y apertura de la República Popular China ................... 8 1.1- Etapas de la reforma y apertura económica .................................................................................... 9 1.2- El ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio ........................................................ 10 1.3- Disminución del protagonismo del Estado y un mayor espacio al Mercado ................................... 11 CAPÍTULO 2: La estrategia del «Go Out»............................................................................................ 12 2.1- Implicancias de la estrategia ......................................................................................................... 13 2.2- Principios para llevar a cabo la estrategia del «Go Out» ................................................................ 15 2.3- Prioridades