Bianca Oliveira Antonini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
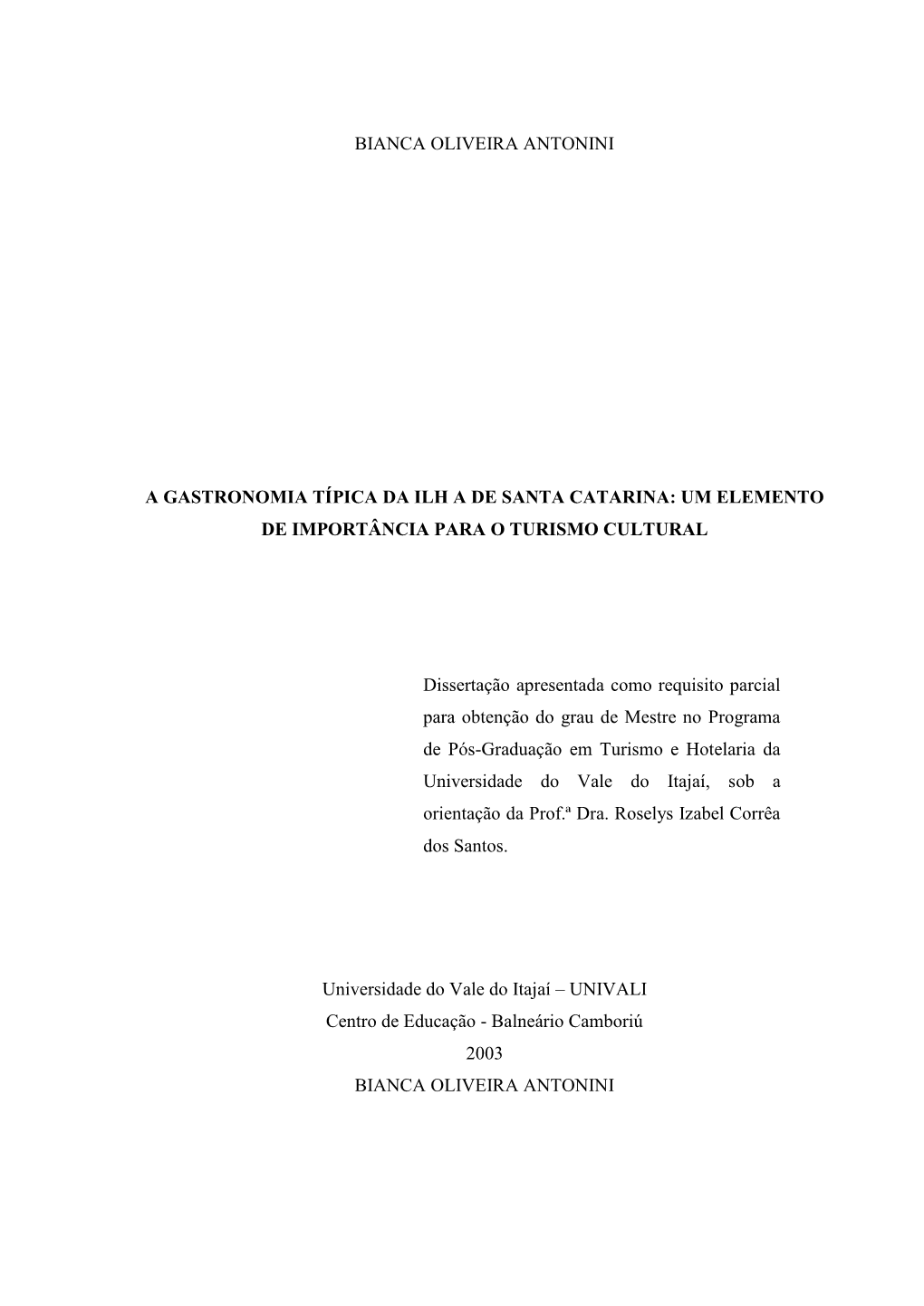
Load more
Recommended publications
-

024 TT 02 Lista De Produtos Tradicionais Portugueses V 19
Associação Nacional de Municípios e de Produtores para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais Portugueses LISTA DE PRODUTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES Conteúdo A – Produtos agrícolas e agro-alimentares com nome protegido ................................ 2 B – Bebidas espirituosas com nome protegido (Indicação Geográfica) ........................ 6 C - Outros Produtos Agrícolas e Agro-alimentares Tradicionais (lista indicativa) ........... 7 PRODUTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HUMANA ................. 7 Classe 1.1. Carnes (e miudezas) frescas .......................................................................... 7 Classe 1.2. Produtos à base de carne (aquecidos, salgados, fumados, etc.) ..................... 8 Classe 1.3. Queijos ......................................................................................................... 10 Classe 1.4. Outros produtos de origem animal (ovos, mel, produtos lácteos diversos excepto manteiga, etc.) .................................................................................................. 11 Classe 1.5. Matérias gordas (manteiga, margarina, óleos, etc.) ..................................... 11 Classe 1.6. Frutas, produtos hortícolas e cereais não transformados ou transformados 11 Classe 1.7. Peixes, moluscos e crustáceos frescos e produtos à base de peixes, moluscos ou crustáceos frescos...................................................................................................... 14 Classe 1.8. Outros produtos do anexo I do Tratado (especiarias, etc.) -

Lista De Produtos Tradicionais Portugueses
LISTA DE PRODUTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES Conteúdo A – Produtos agrícolas e agro-alimentares qualificados .............................................. 3 B – Bebidas espirituosas qualificadas (Indicação Geográfica)...................................... 7 C - Outros Produtos Agrícolas e Agro-alimentares Tradicionais ................................... 8 (lista indicativa) ................................................................................................... 8 PRODUTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HUMANA ................... 8 Classe 1.1. Carnes (e miudezas) frescas ............................................................................ 8 Classe 1.2. Produtos à base de carne (aquecidos, salgados, fumados, etc.) ....................... 8 Classe 1.3. Queijos ........................................................................................................... 11 Classe 1.4. Outros produtos de origem animal (ovos, mel, produtos lácteos diversos excepto manteiga, etc.) ..................................................................................................... 11 Classe 1.5. Matérias gordas (manteiga, margarina, óleos, etc.) ....................................... 12 Classe 1.6. Frutas, produtos hortícolas e cereais não transformados ou transformados .. 12 Classe 1.7. Peixes, moluscos e crustáceos frescos e produtos à base de peixes, moluscos ou crustáceos frescos ........................................................................................................ 15 Classe 1.8. Outros produtos do anexo -

Iceland on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs
24.10.2017 EN Official Journal of the European Union L 274/3 AGREEMENT between the European Union and Iceland on the protection of geographical indications for agricultural products and foodstuffs THE EUROPEAN UNION, of the one part, and ICELAND of the other part, hereinafter referred to as the ‘Parties’, CONSIDERING that the Parties agree to promote between each other a harmonious development of the geographical indications as defined in Article 22(1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and to foster trade in agricultural products and foodstuffs originating in the Parties' territories, CONSIDERING that the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the mutual recognition and protection of geographical indications of wines, aromatised wine products and spirit drinks, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Scope 1. This Agreement applies to the recognition and protection of geographical indications for agricultural products and foodstuffs other than wines, aromatised wine products and spirit drinks originating in the Parties' territories. 2. Geographical indications of a Party shall be protected by the other Party under this Agreement only if covered by the scope of the legislation referred to in Article 2. Article 2 Established geographical indications 1. Having examined the legislation of Iceland listed in Part A of Annex I, the European Union concludes that that legislation meets the elements laid down in Part B of Annex I. 2. Having examined the legislation of the European Union listed in Part A of Annex I, Iceland concludes that that legislation meets the elements laid down in Part B of Annex I. -

Fome De Quê? a Alimentação Dos Estudantes Brasileiros Da
Camila Moreira Bácsfalusi FOME DE QUÊ? A ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (2014-2015) Dissertação de Mestrado 2015 U NIVERSIDADE DE C OIMBRA Faculdade de Letras Camila Moreira Bácsfalusi FOME DE QUÊ? A ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (2014-2015) Dissertação de Mestrado em Alimentação – Fontes Cultura e Sociedade, orientada pelas Doutoras Maria Helena da Cruz Coelho e Carmen Isabel Leal Soares, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 2015 U NIVERSIDADE DE C OIMBRA Faculdade de Letras FOME DE QUÊ? A ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (2014-2015) Ficha Técnica: Tipo de trabalho Dissertação de Mestrado Título Fome de quê? A alimentação dos estudantes brasileiros da Universidade de Coimbra (2014-2015) Autora Camila Moreira Bácsfalusi Orientadoras Maria Helena da Cruz Coelho e Carmen Isabel Leal Soares Júri Presidente: Doutora Paula Cristina Barata Dias Vogais: 1. Doutora Cilene da Silva Gomes Ribeiro 2. Doutora Carmen Isabel Leal Soares Identificação do Curso 2º Ciclo em Alimentação – Fontes, Cultura e Sociedade Área científica História das Culturas Data da defesa 22-10-2015 Classificação 18 valores U NIVERSIDADE DE C OIMBRA ii A vitória desta conquista eu dedico com todo o meu amor aos meus pais por serem os melhores exemplos que eu poderia ter de amor, amizade, zelo e sabedoria. iii Foto da capa Seated Figure of Summer (1573), de Giuseppe Arcimboldo Coleção de Ex-Edward James Foundation, Sussex, UK Acedido em 1 de agosto de 2015, em: http://www.wikiart.org/en/giuseppe-arcimboldo/seated-figure-of-summer-1573. iv AGRADECIMENTOS “Você tem fome de quê?” é um dos versos que compõem a música ―Comida‖, de Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto, interpretada pela banda brasileira Titãs, e que inspira o título deste trabalho. -

Para Os Queijos Com Dop Do Centro Primeira Parte: Diagnóstico
PLANO ESTRATÉGICO E DE MARKETING PARA OS QUEIJOS COM DOP DO CENTRO PRIMEIRA PARTE: DIAGNÓSTICO Agradecemos a todas as pessoas e entidades que, genero- Agradecimentos: samente, disponibilizaram o seu tempo e conhecimentos • InovCluster para a discussão de temas relevantes para a elaboração do • Ancose presente Plano Estratégico e de Marketing, contribuindo • APQDCB decisivamente com a sua visão para uma análise detalhada • Aprorabaçal e para a definição de uma estratégia regional direcionada a • COAPE dar resposta aos desafios que os Queijos com DOP do Centro • Estrelacoop enfrentam, assim como a explorar e capitalizar em desenvol- vimento socioeconómico as oportunidades associadas a um dos recursos mais distintivos da Região Centro. Elaborado por: Equipa técnica: • José Martino • Sofia Freitas • Fábio Lourenço • Luísa Costa • Helena Ribau • Camilo Silva ÍNDICE Introdução 9 Organização e Metodologia 10 Entrevistas Individuais 11 Inquérito Online (consumidores) 11 Visitas de Auscultação 11 Análise Externa e Interna 13 Introdução 14 Análise Externa 15 Situação Atual dos Produtos Lácteos e Queijo na União Europeia 16 Leite 16 Produtos Transformados 17 Exportações e Importações 17 Projeções do Setor 18 Os produtos DOP/IGP/ETG no contexto da União Europeia 20 Setor dos Queijos com DOP/IGP/ETG na UE 23 Países da UE mais significativos na produção de queijo 25 1. França 25 1.1 Produção de Leite 25 1.2 Produção de Queijo 25 1.3 Importações e Exportações de Queijo (e coalhada) 26 1.4 Produtos com DOP/IGP em França 26 1.5 Setor dos Queijos com DOP e IGP franceses 27 2. Itália 30 2.1 Produção de leite 30 2.2 Produção de Queijo 30 2.3 Importações e Exportações de queijo 31 2.4 Produtos com DOP/IGP em Itália 31 2.5 Setor dos queijos com DOP/IGP em Itália 32 3. -

A Gastronomia Portuguesa No Brasil – Um Oliveira Martins Roteiro De Turismo Cultural
Universidade de Aveiro Departamento de Economia, Gestão e Engenharia 2009 Industrial UIARA MARIA A GASTRONOMIA PORTUGUESA NO BRASIL – UM OLIVEIRA MARTINS ROTEIRO DE TURISMO CULTURAL Universidade de Aveiro Departamento de Economia, Gestão e Engenharia 2009. Industrial. UIARA MARIA A GASTRONOMIA PORTUGUESA NO BRASIL – UM OLIVEIRA MARTINS ROTEIRO DE TURISMO CULTURAL Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Gestão e Planeamento em Turismo, realizada sob a orientação científica da Doutora Maria Manuel Rocha Teixeira Baptista, Professora Auxiliar do Departamento de Linguas e Culturas da Universidade de Aveiro Dedico este trabalho à meus pa is, Maria Orquidea por todo amor, dedicação e paciência principalmente nestes ultimos 2 anos, ao meu pai Luis Moacir ( in memorian ), por mesmo longe ter deixado a certeza de que tudo é possível ao olhos de Deus, aos meus irmãos Iury e Franklin, por toda atenção e por todo apoio. E ainda à Professora Maria Manuel por acreditar neste projeto e assumi-lo. o júri Presidente Prof. Doutora Maria Celeste de Aguiar Eusébio professor auxiliar da Universidade de Aveiro Prof. Doutor Severino Alves de Lucena Filho professor assistente da Universidade Federal da Paraíba Prof. Doutora Maria Manuel Rocha Teixeira Baptista professor auxiliar da Universidade de Aveiro agradecimentos A Deus, pois sem e le nada seria possível. Não são poucas as pessoas que até mesmo antes do início do mestrado merecem o meu muito obrigado. Muitas delas talvez não possa aqui citar nomes, até mesmo por não saber. Refiro-me aquelas que em Portugal me acolheram muito bem, ou mesmo daquelas que com pequenos gestos no dia-a-dia me ajudaram a superar a distância, as saudades e as dificuldades encontradas. -

Nona Arte | 4 Nona Arte | 5
RevistaNONA da Federação Portuguesa das Confrarias ARTEGastronómicas Nº 27|JUNHO 2013 ISSN 1646-7787 CASA DAS CONFRARIAS DE PORTUGAL Inauguração À CONVERSA COM Confraria dos Gastrónomos do Algarve CONGRESSO Extraordinário da FPCG Ficha Técnica Propriedade e Edição Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas Rua Dr. Daniel de Matos Edifício Mercado Municipal 3350–156 Vila Nova de Poiares Telefone/Fax 239 428 149 E-mail [email protected] Site www.fpcg-online.com Directora Olga Cavaleiro Design Joana Carvalho Tiragem 2000 exemplares Depósito Legal 261621/07 ISSN 1646-7787€ Índice 05 Editorial 06 O Açúcar e o Convento de Jesus de Aveiro no séc.XVI: fonte de rendimento e matéria-prima 16 Congresso: Alteração dos Estatutos 22 À Conversa Com Confraria dos Gastrónomos do Algarve 27 A Casa das Confrarias de Portugal 29 Todos nós Somos Iguais, mas somos todos diferentes. Somos todos únicos! 30 2º Jantar de Reflexão 33 Chef à Mesa Luis Lavrador 34 Entrevista Produtos Qualificados 37 Produtos Portugueses Qualificados – DOP/IGP/ETG 40 Inventário Património Cultural Imaterial 42 II Encontro Ibérico de Confrarias Báquicas 44 Novo Sítio da FPCG 45 Poemas 46 Livros de Cozinha A Gastronomia e a Literatura 48 Cerimónias Capitulares nona arte | 4 nona arte | 5 Editorial Nona Arte Apresentamos a revista da FPCG, “NONA ARTE”. Uma nova designação para a mesma revista a que sempre nos habituámos e que circunstâncias relacionadas com a Propriedade Industrial obrigaram à escolha de um novo nome. Receber a “Gastronomias” é já um hábito para todos os confrades que procuram no seu conteúdo acompanhar a vida da FPCG e das confrarias. -

Com(2010)0648
EN EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, 9.11.2010 COM(2010) 648 final 2010/0317 (NLE) Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the protection of designations of origin and geographical indications for agricultural products and foodstuffs, amending the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products EN EN EXPLANATORY MEMORANDUM 1. CONTEXT OF THE PROPOSAL The two parties, the European Union and the Swiss Confederation, aim to ensure the mutual recognition of protected designations of origin (PDOs) and protected geographical indications (PGIs) in order to improve the conditions of bilateral trade, to promote quality in the food chain and to retain the value of sustainable rural development. The present proposal is the result of bilateral negotiations, conducted from October 2007 to December 2009. The agreement provides for the mutual protection of designations of origin and geographical indications protected by the respective Parties. 2. BUDGETARY IMPLICATIONS There is no budgetary implication. On the basis of the above, the Commission proposes that the Council designate the person(s) empowered to conclude the Agreement on behalf of the European Union. EN 2 EN 2010/0317 (NLE) Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the protection of designations of origin and geographical indications for agricultural products and foodstuffs, -

10-Relatório 2012 DOP IGP ETG Dez 2014 Corr
Inquérito aos Agrupamentos Gestores de Produtos DOP/IGP/ETG 2012 dezembro 2014 Índice 1 Introdução ........................................................................................... 1 2 Interpretação de Resultados .............................................................. 2 3 Apresentação de Resultados ............................................................. 3 3.1 Queijo ..................................................................................................................... 3 3.2 Carne de Bovino ................................................................................................... 10 3.3 Carne de Ovino ..................................................................................................... 16 3.4 Carne de Caprino .................................................................................................. 22 3.5 Carne de Suíno ..................................................................................................... 26 3.6 Produtos de Salsicharia ........................................................................................ 29 3.7 Mel ........................................................................................................................ 39 3.8 Azeite .................................................................................................................... 43 3.9 Frutos .................................................................................................................... 47 3.10 Produtos Hortícolas e Cereais ............................................................................. -

Portugal As a Culinary and Wine Tourism Destination
GEOGRAPHY AND TOURISM, Vol. 5, No. 1 (2017), 87-102, Semi-Annual Journal eISSN 2449-9706, ISSN 2353-4524, DOI: © Copyright by Kazimierz Wielki University Press, 2017. All Rights Reserved. http://geography.and.tourism.ukw.edu.pl Przemysław Charzyński1, Agnieszka Łyszkiewicz1, Monika Musiał2 1 Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Earth Sciences, Department of Soil Science and Landscape Management, Toruń, Poland; e-mail: [email protected] 2 School Complex No. 33, Bydgoszcz, Poland Portugal as a culinary and wine tourism destination Abstract: The culinary tradition is always part of the culture of a given nation. On the other hand, traveling is always associated with a desire to learn about the customs of various ethnic groups where food is an integral part of a trip. Culi- nary traditions and products play an increasingly important role in the development of tourism. Many tourism products are based on exploring the culinary wealth. It can be said that national and regional cuisine constitute one of the main tourism values. The aim of this work is to present the resources essential for the culinary tourism in Portugal. First of all, the authors focused on the characteristics of Portuguese cuisine. The particular attention has been paid to its uniqueness and specific- ity which distinguish it from other Mediterranean countries. The paper also considers the issue of knowledge of tourists about the gastronomic culture of Portugal and popularity of Portuguese foods and drinks in Poland. Keywords: culinary tourism, enotourism, wine tourism, Portugal, Portuguese cuisine 1. Introduction The culinary tradition is an important part of marketing services. -

Mestradocarlospaiva.Pdf
O lugar do Património Linguístico no Património Cultural Imaterial Português Um levantamento regional através do ciberespaço DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Carlos Filipe Damas Pinto Paiva MESTRADO EM ESTUDOS REGIONAIS E LOCAIS ORIENTADORA Maria Helena Dias Rebelo Dedico o trabalho Ao João Nuno, à Leonor, à Maria e ao Manuel João II AGRADECIMENTOS Por sugestões, informações e apoio concedidos, agradecemos a todas as Câmaras Municipais que facultaram materiais que permitiram desenvolver esta dissertação. Procurando não esquecer nenhuma, são referidos por ordem alfabética: Câmara Municipal da Amadora, Câmara Municipal da Figueira da Foz, Câmara Municipal da Lourinhã, Câmara Municipal da Lousã, Câmara Municipal da Nazaré, Câmara Municipal da Póvoa do Lanhoso, Câmara Municipal da Praia da Vitória, Câmara Municipal de Alcobaça, Câmara Municipal de Alenquer, Câmara Municipal de Almada, Câmara Municipal de Alvito, Câmara Municipal de Aveiro, Câmara Municipal de Braga, Câmara Municipal de Carregal do Sal, Câmara Municipal de Cascais, Câmara Municipal de Cinfães, Câmara Municipal de Constância, Câmara Municipal de Elvas, Câmara Municipal de Esposende, Câmara Municipal de Estarreja, Câmara Municipal de Estremoz, Câmara Municipal de Famalicão, Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, Câmara Municipal de Grândola, Câmara Municipal de Guimarães, Câmara Municipal de Leiria, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Loures, Câmara Municipal de Mafra, Câmara Municipal de Marco de Canavezes, Câmara Municipal de Marinha Grande, -

Portugal As a Culinary and Wine Tourism Destination
GEOGRAPHY AND TOURISM, Vol. 5, No. 1 (2017), 85-100, Semi-Annual Journal eISSN 2449-9706, ISSN 2353-4524, DOI: 10.5281/zenodo.834518 © Copyright by Kazimierz Wielki University Press, 2017. All Rights Reserved. http://geography.and.tourism.ukw.edu.pl Przemysław Charzyński1, Agnieszka Łyszkiewicz1, Monika Musiał2 1 Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Earth Sciences, Department of Soil Science and Landscape Management, Toruń, Poland; e-mail: [email protected] 2 School Complex No. 33, Bydgoszcz, Poland Portugal as a culinary and wine tourism destination Abstract: The culinary tradition is always part of the culture of a given nation. On the other hand, traveling is always associated with a desire to learn about the customs of various ethnic groups where food is an integral part of a trip. Culi- nary traditions and products play an increasingly important role in the development of tourism. Many tourism products are based on exploring the culinary wealth. It can be said that national and regional cuisine constitute one of the main tourism values. The aim of this work is to present the resources essential for the culinary tourism in Portugal. First of all, the authors focused on the characteristics of Portuguese cuisine. The particular attention has been paid to its uniqueness and specific- ity which distinguish it from other Mediterranean countries. The paper also considers the issue of knowledge of tourists about the gastronomic culture of Portugal and popularity of Portuguese foods and drinks in Poland. Keywords: culinary tourism, enotourism, wine tourism, Portugal, Portuguese cuisine 1. Introduction The culinary tradition is an important part of marketing services.