Rio De Janeiro Março De 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
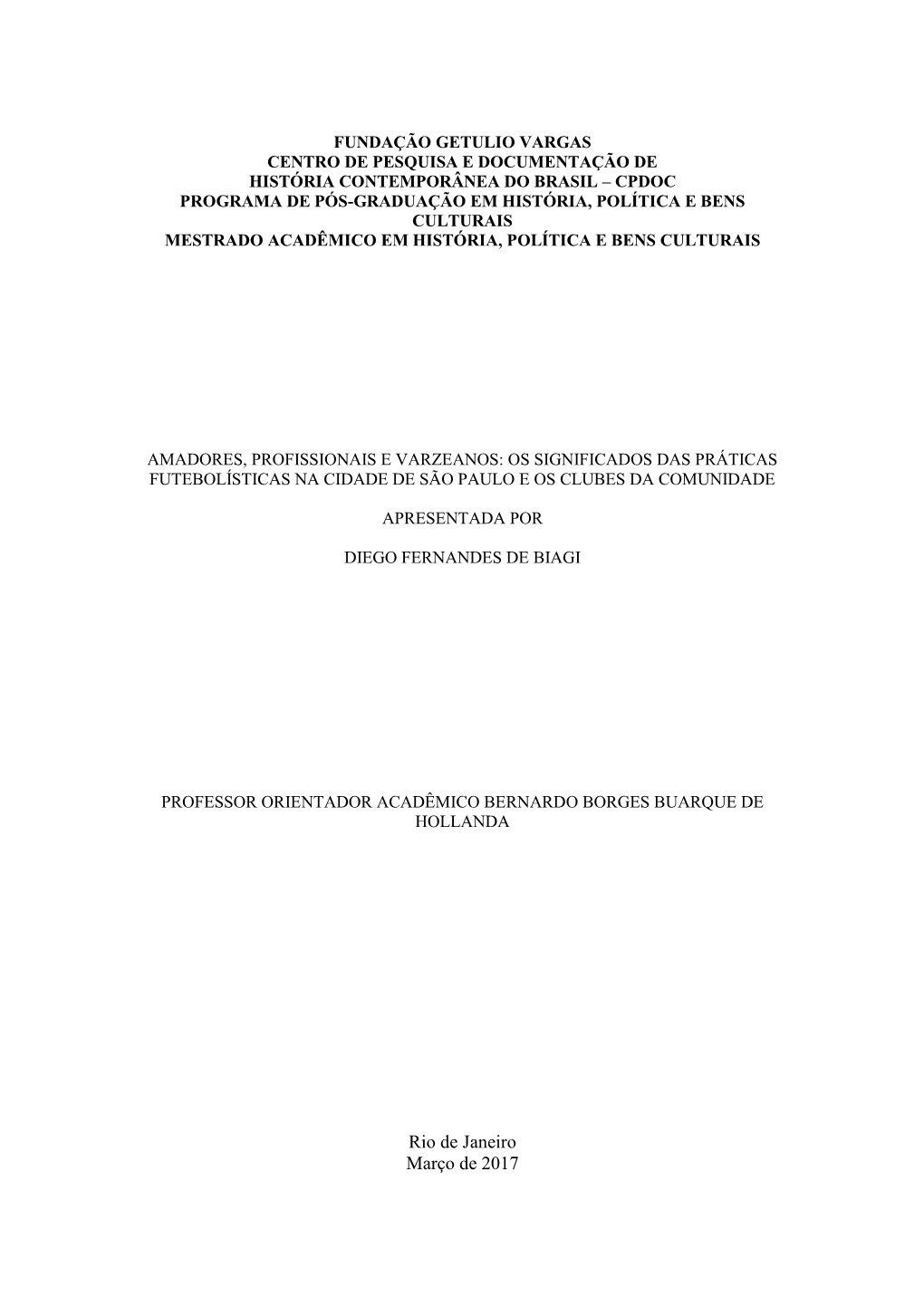
Load more
Recommended publications
-

Paulo Roberto Falcão (Depoimento, 2012)
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC) Proibida a publicação no todo ou em parte; permitida a citação. A citação deve ser textual, com indicação de fonte conforme abaixo. FALCÃO, Paulo Roberto. Paulo Roberto Falcão (depoimento, 2012). Rio de Janeiro, CPDOC/FGV, 2012. 76p. PAULO ROBERTO FALCÃO (depoimento, 2012) Rio de Janeiro 2014 Transcrição Nome do entrevistado: Paulo Roberto Falcão Local da entrevista: Porto Alegre – Rio Grande do Sul Data da entrevista: 29 de outubro de 2012 Nome do projeto: Futebol, Memória e Patrimônio: Projeto de constituição de um acervo de entrevistas em História Oral. Entrevistadores: Bernardo Buarque (CPDOC/FGV) e Felipe dos Santos (Museu do Futebol) Transcrição: Carolina Gonçalves Alves Data da transcrição: 22 de novembro de 2012 Conferência da transcrição : Felipe dos Santos Souza Data da conferência: 28 de outubro de 2012 ** O texto abaixo reproduz na íntegra a entrevista concedida por Paulo Roberto Falcão em 29/10/2012. As partes destacadas em vermelho correspondem aos trechos excluídos da edição disponibilizada no portal CPDOC. A consulta à gravação integral da entrevista pode ser feita na sala de consulta do CPDOC. Bernardo Buarque – Falcão, boa tarde. P.R. – Boa tarde. B.B. – Muito obrigado por aceitar esse convite de compor o acervo, a memória do Museu do Futebol Brasileiro e a gente quer começar, Falcão, contando um pouquinho... Que você nos contasse a sua infância, sua cidade de nascimento, local... P.R. – É... O prazer é meu, evidentemente, não é, de participar junto com outros companheiros. É... Dessa memória do futebol tão rica, não é, do futebol brasileiro e.. -

43^ Roma Ostia Half Marathon
43^ Roma Ostia Half Marathon - 12/03/2017 - 21,097 km POS COGNOME NOME CAT SOC TIME 1 ADOLA GUYE SM ETHIOPIA 00:59:18 2 KANGOGO JUSTUS PM KENYA 00:59:31 3 KWEMOI NDOROBO PETER SM ASD PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 01:00:13 4 KANGOGO PHILIP SM KENYA 01:00:57 5 KUSURO GEOFFEY SM UGANDA 01:01:15 6 LAHBABI AZIZ SM MAROCCO 01:02:41 7 CHAHDI HASSAN SM FRANCE 01:02:51 8 KIPKIRUI LANGAT SM ASD PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 01:03:25 9 SZOST HENRYK SM35 POLAND 01:04:51 10 FOSTI ROMAN SM ESTONIA 01:05:21 11 PRODIUS ROMAN SM35 LBM SPORT TEAM 01:05:53 12 PASSERI RICCARDO SM TX FITNESS S.S.D. ARL 01:06:11 13 GUALDI GIOVANNI SM35 CORRINTIME 01:06:19 14 COMINOTTO MANUEL SM C.S. ESERCITO 01:06:41 15 PARISI LUCA SM ROMATLETICA FOOTWORKS SALARIA 01:06:44 16 CHERONO GLADYS SF KENYA 01:07:01 17 JBARI KHALID SM ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 01:07:20 18 CHIARELLI BERARDINO SM35 LBM SPORT TEAM 01:07:29 19 TANUI ANGELA SF KENYA 01:07:43 20 IANNELLI ANGELO SM40 G.S. FIAMME AZZURRE 01:07:49 21 ADUGNA BINIYAM SENIBETA SM ASD ATL. VOMANO GRAN SASSO 01:08:14 22 RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO SM35 ASD OLIMPIAEUR CAMP 01:08:42 23 MERGIA ASELEFECH SF ETHIOPIA 01:08:46 24 ABDIKADAR SHEIK ALI MOHAMED SM ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 01:08:59 25 CHESIR REBECCA SF KENYA 01:09:01 26 KONIECZNY ADAM SM POLONIA SRODA 01:09:05 27 HAYLEMARIYAM MULIYE DEKEBO JF ETHIOPIA 01:09:10 28 RENAULT NEIL SM SCOTTISHATHLETICS 01:09:22 29 SCARDECCHIA ETTORE SM45 A.S.D. -

Carlos Roberto Gallo (Depoimento, 2012)
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC) Proibida a publicação no todo ou em parte; permitida a citação. A citação deve ser textual, com indicação de fonte conforme abaixo. GALLO, Carlos Roberto. Carlos Roberto Gallo (depoimento, 2012). São Paulo - SP, 2012. p. Carlos Roberto Gallo (depoimento, 2012) Rio de Janeiro 2014 Transcrição Nome do Entrevistado: Carlos Roberto Gallo Local da entrevista: São Paulo - SP Data da entrevista: 10 de Julho 2012 Nome do projeto: Futebol, Memória e Patrimônio: Projeto de constituição de um acervo de entrevistas em História Oral. Entrevistadores: Thiago William Monteiro e Felipe dos Santos Souza Câmera: Maíra Nielli Transcrição: Juliana Paula Lima de Mattos Data da transcrição: 12 de agosto de 2012 Conferência de Fidelidade: Ana Luísa Mhereb ** O texto abaixo reproduz na íntegra a entrevista concedida por Carlos Roberto Gallo em 31/09/2012. As partes destacadas em vermelho correspondem aos trechos excluídos da edição disponibilizada no portal CPDOC. A consulta à gravação integral da entrevista pode ser feita na sala de consulta do CPDOC. Entrevista: 10.07.2012 C.G – Fique à vontade. T.M – Obrigado. Bom, Cotia, interior de São Paulo. 10 de julho de 2012. Depoimento de Carlos Roberto Gallo para o projeto Memória, Futebol e Patrimônio, que é uma parceria da Fundação Getulio Vargas e do Museu do Futebol. Hoje, participam deste depoimento os pesquisadores Thiago Monteiro e Felipe Santos, pelo Museu. Bem, bom dia, quer dizer, boa tarde. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer principalmente à você, Carlos, por ter nos recebido aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. -

Palmeiras MIOLO.Indd
Palmeiras Seus Heróis e Suas Glórias Dedico este livro à minha esposa Mariana e à minha filha Ana Luiza, com todo amor e carinho. CIP-Brasil. Catalogação na Publicação. Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ. N215p Nassar, Luciano U. (Luciano Ubirajara), 1966- Palmeiras: seus heróis e suas glórias / Luciano Ubirajara Nassar. – 1. ed. – São Paulo: Ícone, 2014. 448 p.; 23 cm. Inclui índice. ISBN 978-85-274-1247-6 1. Sociedade Esportiva Palmeiras – História. 2. Clubes de Futebol – São Paulo (SP). 3. Futebol – Brasil – História. 4. Futebol – Torneios. 5. Futebol – Jogadores. I. Título. 13-06231 CDD: 796.334 CDU: 796.332 Luciano Ubirajara Nassar Palmeiras Seus Heróis e Suas Glórias 1ª edição São Paulo 2014 © Copyright 2014 Ícone Editora Ltda. Fotografias Departamento de Acervo Histórico e Memória – Palmeiras Projeto gráfico, capa e diagramação Richard Veiga Revisão Juliana Biggi Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, inclusive por meio de processos xerográficos, sem permissão expressa do editor (Lei nº 9.610/98). Todos os direitos reservados à: ÍCONE EDITORA LTDA. Rua Anhanguera, 56 – Barra Funda CEP: 01135‑000 – São Paulo/SP Fone/Fax.: (11) 3392‑7771 www.iconeeditora.com.br [email protected] Prefácio Escrever sobre o Palmeiras é sempre um orgulho e uma honra. Sua história é uma página de ouro nos livros do Brasil. A trajetória de conquistas, vitórias e derrotas ensinaram milhões de pessoas a pensar e a viver melhor. Todos sabem, e se não sabem deveriam saber, que o futebol não é um simples jogo, é muito mais do que isso. -

Jornalista Recorre À Anistiapara Reaver Corpo Do Irmão'"
P DIÁRIO DO PARANA Curitiba, quarta-felráfS.de'ijbVll.de 1978 Ano XXIV N' 6.859 Cr$ 4,00 /^$|WJ Dy*\ Caso Lematisla sindicanoa | |6fí- J Polícia Técnica ouve delegado O delegado Petr Maslowski, da Furtos e Roubos, foi ouvido, ontem, pela comissão de sindicância que apura a denúncia de irregularidades na Polícia Técnica no caso do assassinato de Marinês Balbo Lemanski. O autor das denúncias, o perito criminal Ary Fontana, ainda não foi convidado a dar decla- rações. A sindicância vem sendo conduzida em sigilo. Ainda ontem, o juiz da 4* Vara Criminal aco- lheu a denúncia contra Henrique Lemanski e Pedro " ~JBmB-^»'-¦•':•• Silvatti, acusados do homicídio, desig- +__.___¦__ • ' ¦¦¦ • N..J BSí!.- æ_£' -BB*1*-1.! _ ¦'•'¦•7^ .'. ¦ ^*P^ww-P-'. i Roberto hbvum\w *¦ *¦, . jy&T '„».,. *;ff'S9___A*' ''<¦' ¦ ouvi-los, ' '<¦ 3«*h^ a nando a data de terça-feira próxima para Hr jc^i*^*ít^ fll •• mmr*^m-' ^:'WS*1- *mfWíÍi':,.MmMm\im\9£mJr^ MPi exatamente seis meses após o crime. Caso Lemanski na 12' do 1'. •'* -MSÈlW ¦'¦¦"4k, ¦'{TBrTjir ^nkw; "»__««_>» ^"W^aW;!/ ___________rii, jk__3________HÍ::9k^Ib *¦««&<¦____jím_iI| Jornalista 7^B_£!'à H_i. *\ -^témwMr-^tmm'"'"iwflSfflwBi -'"¦-*"' ti * * ¦ -i* "-""¦l- lm*-_r. j ¦" gB_B; .: __&___ »y jrm^^__r-r''^'iv^ ^t?8-B SI l '¦¦¦:mÊÊ\^^^Mmm^^tL^ "jmMmmmh. *:'' ¦ *^ recorre ¦<¦¦'-¦: £ *&&*,. SmW: i M^MWí^iM^^^t^^^m^^^È^^^^S^ à I i;- -SSPBfl ' ;^H_______-_______t% m___H™—1*—,^x,rr-\\ ir\} \ I **$_ Anistiapara '••-__Btil____r ^^^ÍH '-'¦ æ-¦¦ ¦ - *. '¦"¦¦' Bi'^'jp*^^3 ¦, ^HBIJfeJ ™^^^-t------.^**^!5'• JJ-W^JiB» ájrwaawt Imr ::"í ^mmtmmmmm > ¦¦ ¦'''¦¦¦¦ WmV^j&Sm\mm\W&^Mm '"HbW___rNlÉ_____É____H^^ reaver corpo Magalhães Pinto cumprimenta Brossard ao final ae seu discurso Telefoto ANDA Brossard: "Sem o do do irmão'" fim A jornalista Maria de Oliveira Radiofoto UPI autorizou, ontem, o Movimento A Áustria, outro adversário do Brasil, venceu a Suíça por 1x0. -

Polozzi Final
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC) Proibida a publicação no todo ou em parte; permitida a citação. A citação deve ser textual, com indicação de fonte conforme abaixo. POLOZZI, José Fernando. José Fernando Polozzi (depoimento, 2012). Rio de Janeiro, CPDOC/FGV, 2012. 71p. JOSÉ FERNANDO POLOZZI (depoimento, 2012) Rio de Janeiro 2014 Transcrição Nome do entrevistado: José Fernando Polozzi Local da entrevista: Vinhedo - SP Data da entrevista: 08 de novembro de 2012 Nome do projeto: Futebol, Memória e Patrimônio: Projeto de constituição de um acervo de entrevistas em História Oral. Entrevistadores: Bruna Gottardo (Museu do Futebol) e Bernardo Buarque (CPDOC/FGV) Transcrição: Liris Ramos de Souza Data da transcrição: 01 de dezembro de 2012 Conferência da transcrição : Daniela Ammann Data da conferência: 29 de abril de 2013 ** O texto abaixo reproduz na íntegra a entrevista concedida por José Fernando Polozzi em 08/11/2012. As partes destacadas em vermelho correspondem aos trechos excluídos da edição disponibilizada no portal CPDOC. A consulta à gravação integral da entrevista pode ser feita na sala de consulta do CPDOC. Bernardo Hollanda - Bom dia, 08 de novembro de 2012, Vinhedo, São Paulo, depoimento de José Fernando Polozzi, ex-jogador da seleção brasileira, para o Projeto Futebol Memória e Patrimônio, que é uma parceria entre o Museu do Futebol e a Fundação Getúlio Vargas. Participam desse depoimento Bernardo Buarque e Bruna Gotalho. Bom dia, Polozzi, muito obrigado por nos receber em sua casa, tão agradável, e contar um pouquinho da sua história, sua trajetória de vida. Enfim, estamos muito felizes de estar aqui com você. -

Sérgio Faria Nome Do Entrevistado: José Fernando Polozzi
Sumário de Vídeo Sumário: Sérgio Faria Nome do entrevistado: José Fernando Polozzi Local da entrevista: Vinhedo, São Paulo Entrevistadores: Bruna Gottardo (Museu do Futebol/SP) e Bernardo Buarque de Holanda (Museu do Futebol/SP) Duração: 3h 41min Nome do projeto: Futebol, Memória e Patrimônio: Projeto de constituição de um acervo de entrevistas em História Oral. Entrevista: 08/11/2012 1º Bloco: Origens familiares; a descendência italiana; o sobrenome Polozzi e a carreira de futebolista; a infância em Louveira, São Paulo; a atuação de seu pai no futebol amador. 2º Bloco: A influência de seu pai para a atuação na carreira futebolística; o futebol na juventude; o juvenil no Santana; a entrada na Associação Atlética Ponte Preta. 3º Bloco: Os primeiros estudos; o futebol e os estudos; a pescaria em família; o treinamento nas equipes de base; as equipes de base da Ponte Preta. 4º Bloco: A equipe “junior” de futebol; o encaminhamento para o futebol profissional; o futebol profissional; o destaque na atuação da Taça São Paulo de 1975; o destaque na carreira de zagueiro; os primeiros passos no futebol profissional da Ponte Preta. 5º Bloco: A estreia no time profissional da Ponte Preta em 1975; o Campeonato Paulista de 1975; o Campeonato Paulista de 1976; o crescimento da Ponte Preta; o vice-campeonato paulista da Ponte Preta em 1977; a sondagem de outros clubes; a condição financeira da época; a atuação no Sociedade Esportiva Palmeiras; os patrocínios no futebol. 6º Bloco: A rivalidade entre Ponte Preta e o Guarani Futebol Clube; os jogos marcantes disputados pela Ponte Preta contra o Guarani; as torcidas da Ponte Preta; a final de 1977 contra o Sport Club Corinthians Paulista: a pressão das torcidas; o controle da adrenalina durante as partidas. -

(Relat\363Rio De Sorteio
VINHEDO-H (LOTE 02) - LISTAGEM DE FAMÍLIAS SORTEADAS ORDEM INSCRIÇÃO NOME CPF CÔNJUGE / CO-PARTICIPANTE CPF GRUPO FAIXA DE RENDA STATUS CLASSIFICAÇÃO 1 66000424668118 ABIGAIL ADRIANA ALVES XXX.XXX.048-38 POPULAÇÃO GERAL 01,00 A 10,00 SALÁRIOS MÍNIMOS SUPLENTE 1005 2 66000424580722 ABIGAIL ADRIANA ALVES XXX.XXX.048-38 POPULAÇÃO GERAL 01,00 A 10,00 SALÁRIOS MÍNIMOS SUPLENTE Excluído por Duplicidade 3 66000201083333 ABIGAIL CRISTINA PORTO DA SILVA REIS XXX.XXX.308-17 DANIEL REIS DA SILVA DE OLIVEIRA XXX.XXX.108-16 POPULAÇÃO GERAL 01,00 A 10,00 SALÁRIOS MÍNIMOS SUPLENTE 1024 4 66000095562715 ABINEL FRANCISCO DOS SANTOS XXX.XXX.788-95 CRISTIANE DA SILVA SANTOS XXX.XXX.134-45 POPULAÇÃO GERAL 01,00 A 10,00 SALÁRIOS MÍNIMOS SUPLENTE 3604 5 66000499331961 ABMALENY CHAVES DE SOUZA XXX.XXX.893-72 POPULAÇÃO GERAL 01,00 A 10,00 SALÁRIOS MÍNIMOS SUPLENTE 1470 6 66000646846528 ABRAAO SOARES DA SILVA XXX.XXX.944-34 MARIA ROSILDA SOARES DA SILVA XXX.XXX.304-00 POPULAÇÃO GERAL 01,00 A 10,00 SALÁRIOS MÍNIMOS SUPLENTE 549 7 66000285156488 ABRAIM ANTONIO DE SOUZA MALUZ XXX.XXX.398-38 DEFICIENTE 01,00 A 10,00 SALÁRIOS MÍNIMOS SUPLENTE 356 8 66000667544195 ACASSIA ALVES DE CARVALHO XXX.XXX.198-22 DELSON PALMEIRA DE SA XXX.XXX.838-92 POPULAÇÃO GERAL 01,00 A 10,00 SALÁRIOS MÍNIMOS SUPLENTE 327 9 66000315842460 ACRISIO DA ROCHA COUTO JUNIOR XXX.XXX.555-50 POPULAÇÃO GERAL 01,00 A 10,00 SALÁRIOS MÍNIMOS SUPLENTE 5741 10 66000343984459 ADA VALERIA MESSIAS DE CAMARGO ANUNCIACAO XXX.XXX.338-64 JAIR SILVA DA ANUNCIACAO XXX.XXX.247-00 POPULAÇÃO GERAL 01,00 A 10,00 SALÁRIOS -

La Copa Del Mun Do De Brasil
Antônio Carlos Napoleão BRASIL DE TODAS LAS COPAS Brasília 2012 ©2012. Todos los derechas reservados. El autor permite la reproducción de partes de este libro siempre que se cite la fuente. SUMÁRIO Ministério do Esporte Esplanada dos Ministérios, Bloco A CEP 70054-906 APRESENTAção – TEXTO MINISTRO Brasília, DF 1930 – LA PRIMERA COPA MUNDIAL 07 FAUSTO DOS SANTOS 13 1934 – SUEÑO DESHECHO 15 N216b Napoleão, Antônio Carlos. 1938 – LA FUERZA DEL FÚTBOL 38 Brasil de todas las Copas 1930 - 2010 / Antônio Carlos Napoleão. – Brasilia : Ministerio de Deportes, 2012. LEÔNIDAS DA SILVA – eL DIAMANTE NEGRO 31 260 p. ; 23 cm. ISBN 1950 – EL PAÍS DEL FÚTBOL RECIBE LA COPA MUNDIAL 35 1. Historia del fútbol. 2. Historia de Brasil en la Copa Mundial. 3. Fútbol. 4. Selección Brasileña de Fútbol. I. Título. ADEMIR MENezes – QuijADA 41 1954 – FestivAL DE GOLES 45 CDD: 981 JULINHO BOTELHO 51 1958 – LA COPA MUNDIAL ES NUESTRA 53 1962 – BRASIL, BIcaMPEÓN DEL MUNDO 63 1966 – ELIMInacIÓN PRECOZ 75 1970 – BRASIL TRES VECES caMPEÓN 81 1974 – CopA REVELA A LA NARANJA MECÁNIca 91 1978 – BRASIL, caMPEÓN MORAL DE LA COPA MUNDIAL 97 1982 – FútboL ARTE NO GARANTIZA EL TÍTULO 105 1986 – LA ÚLTIMA COPA DE Una GENERacIÓN DE CRacKS 111 1990 – INICIO DE LA ERA DUNGA 117 1994 – BRASIL LEVANTA LA COPA DEL TETRacaMPEOnaTO 123 1998 – Final NEBULOSA 135 2002 – EL PRIMER PENTacaMPEÓN DEL MUNDO 143 2006 – BRASIL PARA LOS CUARTOS DE FInal 159 2010 – EL SUEÑO DEL HEXA APLAZADO 167 PaRTIDOS DE BRASIL EN TODAS LAS COPAS 175 RÉCORDS DE BRASIL EN TODAS LAS COPAS 227 países de Europa, empezando por Inglaterra, que siempre misma manera, sin dejar de observar y mucho menos de Sin embargo, el balance general es que, incluso perdiendo, se consideró síndica de fútbol, y le tocó a Uruguay, ya temer al seleccionado brasileño. -

Em Todas As Copas 20 De Julho DO BRASIL 4X0 BOLÍVIA Local: Estádio Centenário, Montevidéu
1930 2006 BRASIL DE TODAS AS COPASCAPA GUARDA GUARDA Antônio Carlos Napoleão O 1930 2006 BRASIL DE TODAS AS COPAS UM SÍMBOLO Nossa Seleção tornou-se, informalmente, um dos brasileiro símbolos nacionais, ao lado dos oficiais, como a Bandeira e o Hino Nacional Brasileiro. Motivo de orgulho para todo o país, a Seleção é a expressão da garra e do talento da nossa gente e, por isso mesmo é chamada muitas vezes de Brasil. Nas disputas, é o Brasil inteiro que se sente jogando e dando espetáculo. A Seleção sempre contribuiu para fortalecer a auto-estima dos brasileiros. Não apenas nos cinco campeonatos conquistados a partir de 1958, na Suécia, quando sepultamos o que Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-latas e demonstramos ao mundo que o Brasil tinha capacidade de sobra para ser o melhor entre os melhores. Mesmo nos momentos mais dolorosos, como na final da copa de 1950, no Maracanã, ou na derrota para a Itália no Estádio Sarriá, na Copa da Espanha, mostramos nosso talento e reunimos forças para superar a adversidade. Nosso selecionado tem o dom de fazer os corações de todos os brasileiros pulsarem no mesmo ritmo apaixonado. Quando está em ação, é capaz de promover o congraçamento, de unir na mesma onda de vibrações homens e mulheres, meninos, adultos e velhos, trabalhadores humildes e donos de grandes empresas, brancos, negros, índios e mestiços, ribeirinhos, camponeses e moradores das grandes metrópoles. Não há quem fique indiferente. É quando até quem não liga para o esporte no dia-a-dia torna-se um torcedor empolgado. -
FUVEST 2018 Relação Dos Convocados Para a Segunda Fase
de Aaron Chan Ho Park Relação dos Convocados para a Segunda Fase até Alice Jardim Zaccariotti FUVEST 2018 Listagem Alfabética 390 candidatos nesta página CPD−FUVEST|18/12/2017|06:10:45|LISTCONV−01|PAG 0001 2684302 Aaron Chan Ho Park 7204369 Alan Alecssandro Gomes Guastali 1968980 Alexandre Baqueiro Cintra Leone 3500125 Abel Cavalcante de Andrade Neto 5683974 Alan Aparecido Vaz Rodrigues 7488485 Alexandre Bertini Conti 6911911 Abimael Alves de Oliveira Neto 5389677 Alan Bento Barzotti 2258612 Alexandre Bestwina 2535625 Abner Eduardo Silveira Santos 4768539 Alan Bertollo de Carvalho 7017202 Alexandre Bolzani Morello 3894168 Abner Eslava da Silva 2376799 Alan Bo Long Chu 2676907 Alexandre Boschiero Kumruyan 3672395 Abner Luiz da Silva 2134358 Alan Braganca Winther 7022360 Alexandre Brito Prates Queiroz 1075985 Abner Medeiros Conceicao 5672216 Alan Brazilio da Silva 3696962 Alexandre Buccini 4008212 Abner Menezes Albuquerque da Silva 4023560 Alan de Souza Goncalves 2533535 Alexandre Caetano Mendes Gomes 7481715 Abner Micael de Paula Souza 5411351 Alan Fachini Belleza 3894691 Alexandre Cepkauskas Petrachini 3904025 Abraao Lucas Pacheco Hercheui 3883613 Alan Freire de Lima 5677035 Alexandre Chiarella Ercolin 7466631 Abrahao Antonio Izidio Fecury 5676218 Alan Gomes Pallu 2692509 Alexandre Correia Moreira 1072804 Acacio Gomes Correa Silvestre 1982655 Alan Goncalves de Oliveira 2393528 Alexandre Cortezi Espringman 1677803 Acassio Silva Guimaraes 1021813 Alan Gutuzzo Fernandes 1056255 Alexandre Costa da Silva 2412793 Acsa Veloso dos Santos Selli -

Ordem Dos Advogados Do Brasil Secção De São Paulo 137.º Exame De Ordem Resultado Na Prova Objetiva Após Recurso
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO PAULO 137.º EXAME DE ORDEM RESULTADO NA PROVA OBJETIVA APÓS RECURSO A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DE SÃO PAULO, por sua COMISSÃO DE ESTÁGIO E EXAME DE ORDEM, torna pública a relação dos candidatos aprovados, após recurso, na prova objetiva do 137. º Exame de Ordem. 1 Relação dos candidatos aprovados na prova objetiva, após a interposição de recurso, e convocação para a prova prático-profissional, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota na prova objetiva. 1.1 ADAMANTINA/SP Inscrição Nome Nota Objetiva 90058647 Ailton Paulo Marques 54.00 90054053 Alessandra Andreia Silva 55.00 90068822 Ana Maria Tereza Rebeschini 51.00 90057909 Ana Rosa Peres Gregorio 69.00 90061970 Aruan Miller Felix Guimaraes 57.00 90059111 Brissani Rondina Malvezzi 58.00 90058245 Bruna Stephanie Rossi Soares 53.00 90061913 Bruno Santos Morcelli 63.00 90066204 Catharina Stefan 54.00 90060695 Claiton Tadeu Bulhoes Junior 54.00 90065968 Cynthia Peres Ferrari 65.00 90063279 Daniel Romariz Rossi 50.00 90062517 Daniela Adriane Santana Goncalves 59.00 90060783 Decio Semencato 53.00 90063021 Diego Casemiro da Silva 57.00 90050361 Edi Carlos Rossi 51.00 90065147 Gisele Francine Vieira Rodrigues 53.00 90053351 Gustavo Massei Alves 67.00 90062835 Jackeline Rafaela Basso Wolki 74.00 90054413 Jose Henrique Perez Barbosa 52.00 90062462 Juliana Hitomi Koga 57.00 90061971 Juliana Kenei Amadio Silva 63.00 90065382 Juliano Shigueru Kawagishi Takano 60.00 90069580 Jurandi Ribeiro do Nascimento