2018 Pauloivanrodriguesvega
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Performance E Experiência Estética “Limítrofe” De Um Concerto Ao Vivo1
PPGCOM ESPM // SÃO PAULO // COMUNICON 2016 (13a15 de outubro de 2016) IN CONCERT: performance e experiência estética “limítrofe” de um concerto ao vivo1 Miriam Barros2 Universidade Federal da Paraíba Resumo O trabalho de iamamiwhoami, projeto audiovisual independente da Suécia, explora formas peculiares de construção narrativa voltadas para o meio digital, com destaque para o IN CONCERT, primeira performance considerada “ao vivo” pela banda. Utilizando conceitos dos estudos de performance levantados por Diana Taylor (2013), Marvin Carlson (2010) e Richard Schechner (2006), dialogamos com textos de Martin Seel (2014) e John Dewey (2005) acerca da experiência estética para analisarmos a cadeia de acontecimentos que levaram ao IN CONCERT. Nossa hipótese é a de que artefatos audiovisuais “limítrofes” como IN CONCERT parecem reformular os conceitos de presença - que já não se limita ao corpo físico -, de lugar – que não se resume ao espaço real -, de tempo e de incorporação, envolvendo as artes da performance. Palavras-chave: iamamiwhoami; performance; internet; experiência. Introdução Na internet, a informação abundante unida à facilidade de acesso e aos recursos oferecidos fazem do ciberespaço um lugar propício para que, além dos artistas já consolidados na indústria musical, figuras emergentes encontrem um ambiente favorável para disseminar conteúdos audiovisuais como artes de performance, gerando uma memória que retroalimenta seus projetos e instaura formas peculiares de consumo. A vasta disposição de ferramentas convida os indivíduos inseridos no meio artístico a explorarem as diversas possibilidades de criação e disseminação de seus produtos de ordens musical e visual através da internet, levando alguns a adotarem práticas que dificilmente seriam possíveis sem o agenciamento com grandes gravadoras 1 Trabalho apresentado no GT Comunicação, consumo e memória: cenas culturais e midiáticas, do 6º Encontro de GTs de Pós-Graduação - Comunicon, realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2016. -

THE READY SET Sean Bello Jason Witzigreuter Gets Bamboozled
March 24-30, 2010 \ Volume 20 \ Issue 12 \ Always Free Film | Music | Culture SPRING’S HIGH NOTES Concerts and CDs not to Pass Over She & Him and More! ©2010 CAMPUS CIRCLE • (323) 988-8477 • 5042 WILSHIRE BLVD., #600 LOS ANGELES, CA 90036 • WWW.CAMPUSCIRCLE.COM • ONE FREE COPY PER PERSON Join CAMPUS CIRCLE www.campuscircle.com Saturday Are You Being Treated + Fitness March 27, 2010 for Bipolar Disorder? 11:00am to 4:00pm Do You Have Mood Swings? Music Center Plaza Are You Still Struggling with Depression? If you: n Are between the ages of 18 and 75 n Are diagnosed with bipolar disorder and are regularly suffering from depression n Are currently taking either Lithium or Divalproex (Depakote) to treat your bipolar disorder You may qualify for a research study that compares Lurasidone (an investigational drug) to placebo (an inactive substance) in treating bipolar depression. Compensation is up to $900 for participating in eight visits over seven weeks. Study completers may be eligible to continue in a 24-week extension study that includes six visits with $720 in additional compensation. Study participants will receive study medication and a medical evaluation at no cost, along with reimbursement for study-related expenses. For more information, please call Explore how dance has taken 1-888-CEDARS-3 the fitness world by storm. or visit us at Learn new moves and taste test a variety of dance fitness stlyes. NO EXPERIENCE NECESSARY. www.cedars-sinai.edu/psychresearch $1 per lesson. More info: musiccenter.org IRB No: Pro17928 UCR Summer Sessions 2010 About an hour away with easy parking! Easy one-page application online. -

Sondage Exclusif
SONDAGE EXCLUSIF POUR 44 % DES FRANÇAIS, SARKOZY AURAIT FAIT MIEUX QUE HOLLANDE P.8 ORBAN-POOL / SIPA www.20minutes.fr LUNDI 17MARDI SEPTEMBRE 17 JUIN 2008 2012 N°N° 23151429 ÉDITION DE LYON SANTÉ C . VILLEMAIN / 20 MINUTES Les personnels des Hôpitaux de Lyon appellent à la grève P. 2 ÉCOLE Des cartables qui pèsent sur la santé P. 6 MUSIQUE The XX ravive l’héritage J-J MEDINA gothique P. 14 FOOTBALL Lyon garde enfin son but inviolé à domicile contre Ajaccio (2-0) P. 21 ALEXANDRE GELEBART / 20 MINUTES Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci ! PUBLICITÉ 2 GRAND LYON LUNDI 17 SEPTEMBRE 2012 SOCIAL Le personnel des Hospices civils appelle à la grève cette semaine 20 secondes LA GROGNE S’ÉTEND AUX HCL FAITS DIVERS Lyon Free VTT endeuillé ELISA RIBERRY-FRISULLO Un homme âgé de 62 ans est décédé dimanche matin vers 9 h entrée difficile aux Hospices sur le chemin du Rosaire (5e), civils de Lyon.... Après le centre au cours de la Lyon Free VTT, R de rééducation Henry-Ga- une épreuve sportive qui a fêté ses brielle, où les personnels sont mobili- 10 ans. L’homme, un participant sés contre la suppression de postes expérimenté qui avait choisi d’aides-soignantes et d’infirmières, la le parcours de 55 km, a été victime grogne gagne du terrain dans d’autres d’un malaise cardiaque peu après services et hôpitaux lyonnais. le début de la course. Les secours n’ont rien pu faire pour le ranimer. -
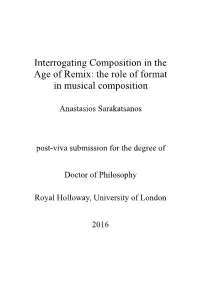
Anastasios Thesis FINAL
Interrogating Composition in the Age of Remix: the role of format in musical composition Anastasios Sarakatsanos post-viva submission for the degree of Doctor of Philosophy Royal Holloway, University of London 2016 Abstract This thesis is concerned with composing audiovisual mashup pieces that involve filmed music performance and remix practices. I present here a number of audiovisual mashups I composed by separately filming and recording clips that were produced in other contexts and by later subsuming them into a new compositional form. These pieces, produced between 2011 and 2016, range from music clip inserts and music videos featured in television programmes, to urban development documentaries and self-commissioned projects. Focusing on hybrid audiovisual art-forms closely related to music videos, I examine the work of contemporary audiovisual artists, Ophir Kutiel (‘Kutiman’), Jack Conte (‘Pomplamoose’) and Mark Johnson (‘Playing for Change’), focusing on projects produced between 2008 and 2014, in relation to their composition techniques and methods of production and distribution. My research has included an examination of the way that music functions in this particular audiovisual context. As well as presenting my portfolio of compositions, I also perform a close textual analysis of certain specific samples from the portfolio, identifying the methods and techniques I adopted and adapted from the aforementioned artists and reflecting on their use and effects in my own compositions. Over the last decade, there has been a noticeable increase in the number of music artists who include video in their work and make it available through online streaming of their music, especially on audiovisual platforms such as YouTube. -

SOM Musikreleaser Våren 2020
VÅREN 2020 Utg.dag Artist Titel Svensk Int'l Debut Genre Label Distributör Format Informationstext Kontaktnamn Kontakt E-POST Kontakt MOBIL 2020-01-10 Jezebel Säg att du hatar mig X Rock Massproduktion The Orchard DS Lysande folkpunk från 1993. Ett smakprov från ett aningen Mats Hammerman [email protected] 070-620 68 30 försenat debutalbum. I 27 år trodde alla att inspelningarna var borta för alltid. ”Säg att du hatar mig” är en riktig stänkare, och ganska representativ för materialet som fanns i skattkistan - en kartong full med dammiga DAT-band undanskuffade i en källare i Sundsvall. Resten av albumet ”93” med JZBL kommer 31 januari på Spotify och andra streamingtjänster. 2020-01-10 Cyrus Reynolds feat S. Foraker (Live Session) X Pop Dumont Dumont Orchard DS S. Carey från Bon Iver gästar på lead vocals när Cyrus Reynolds Magnus Bohman [email protected] 0708-506689 Carey (US) spelade in en lågmäld och enastående live session och framförde sin låt Foraker. 2020-01-17 Christopher Ghost x Pop Universal Universal DS Christopher is back with a bittersweet uptempo pop song at its Nathalie Tuokko [email protected] 070-215 01 45 very best 2020-01-17 Tan Cologne Alien x x Rock Labrador The Orchard DS Tan Cologne från New Mexico är Lauren Green (ex Mirror Travel) Bengt Rahm [email protected] 0707-835 912 och Marissa Macias nya projekt. Själva beskriver de sin musik som "...sonic space waves 2020-01-17 Folke Nikanor Rymden enligt Folke Nikanor X Instr Novoton Novoton / LP / DA Novoton inleder det nya decenniet starkt med Folke Nikanors Daggan [email protected] 070-1669981 Secretly andra album 'Rymden enligt Folke Nikanor' som släpps den 17 Stamenkovic Noord / januari. -

Music Is for Every Body
CHICAGO’SFREEWEEKLYSINCE | FEBRUARY | FEBRUARY CHICAGO’SFREEWEEKLYSINCE Music is for every body Chicago’s concert venues have made welcome advances in accessibility, but a regulatory gray area lets them fall short of what they should be. By BO’D THIS WEEK CHICAGOREADER | FEBRUARY | VOLUME NUMBER IN THIS ISSUE T R - ARTS&CULTURE environmentalfablethecocreator morethisweek @ 10 VisualArtsFashiondesigner ofRussianDolllandsamasterpiece 33 TheSecretHistoryof DuroOlowucuratesoneofthe inTheLayoverandMlima’sTale ChicagoMusicBluesmanFrank PTB MCA’slargestshowseverfi lledwith showsthecostsoftheivorytrade “LittleSonny”ScottJrgavehisallto ECS K KH localtreasures MaxwellStreetforhalfacentury CLRH MEP M 35 EarlyWarningsJudasPriestthe TDKR MagneticFieldstheWeekndand CEBW morejustannouncedconcerts AEJL SWMD L G 35 GossipWolfPosteverything DIBJ MS fusionbandJe’rafcelebratetheir EAS N L debutalbumNickyFlowers GD AH CITYLIFE L CSC -J 03 TransportationThoughtful resuscitatesaMorrisseytweaking CE BN B transportationadvocacyrequires allsynthSmithscoverprojectand L C MDLC M intersectionality more C J F SF J H IH C MJ M K S K NEWS&POLITICS N DLJL 04 Joravsky|PoliticsAfew 13 LitJasmonDrain’sdebutcollection FILM MMA M-K JRN JN M reasonswhyTrumpreleasedBlago addshimtotheranksofChicago’s 21 ReviewKantemirBalagovsolidifi es O M S C S fromprison greatestauthors hissignaturestylewithBeanpole ---------------------------------------------------------------- 14 ListingsAnemovarietyshowan 22 MoviesofnoteWeAreNot DD J D artisticchilicookoff -

Corpus Antville
Corpus Epistemológico da Investigação Vídeos musicais referenciados pela comunidade Antville entre Junho de 2006 e Junho de 2011 no blogue homónimo www.videos.antville.org Data Título do post 01‐06‐2006 videos at multiple speeds? 01‐06‐2006 music videos based on cars? 01‐06‐2006 can anyone tell me videos with machine guns? 01‐06‐2006 Muse "Supermassive Black Hole" (Dir: Floria Sigismondi) 01‐06‐2006 Skye ‐ "What's Wrong With Me" 01‐06‐2006 Madison "Radiate". Directed by Erin Levendorf 01‐06‐2006 PANASONIC “SHARE THE AIR†VIDEO CONTEST 01‐06‐2006 Number of times 'panasonic' mentioned in last post 01‐06‐2006 Please Panasonic 01‐06‐2006 Paul Oakenfold "FASTER KILL FASTER PUSSYCAT" : Dir. Jake Nava 01‐06‐2006 Presets "Down Down Down" : Dir. Presets + Kim Greenway 01‐06‐2006 Lansing‐Dreiden "A Line You Can Cross" : Dir. 01‐06‐2006 SnowPatrol "You're All I Have" : Dir. 01‐06‐2006 Wolfmother "White Unicorn" : Dir. Kris Moyes? 01‐06‐2006 Fiona Apple ‐ Across The Universe ‐ Director ‐ Paul Thomas Anderson. 02‐06‐2006 Ayumi Hamasaki ‐ Real Me ‐ Director: Ukon Kamimura 02‐06‐2006 They Might Be Giants ‐ "Dallas" d. Asterisk 02‐06‐2006 Bersuit Vergarabat "Sencillamente" 02‐06‐2006 Lily Allen ‐ LDN (epk promo) directed by Ben & Greg 02‐06‐2006 Jamie T 'Sheila' directed by Nima Nourizadeh 02‐06‐2006 Farben Lehre ''Terrorystan'', Director: Marek Gluziñski 02‐06‐2006 Chris And The Other Girls ‐ Lullaby (director: Christian Pitschl, camera: Federico Salvalaio) 02‐06‐2006 Megan Mullins ''Ain't What It Used To Be'' 02‐06‐2006 Mr. -

MX V5n7 006-114
GRATIS VOLUMEN 5 NÚMERO 7 VICE.COM 1 Vans-DPS-0507.indd 1 12-08-07 6:25 PM Vans-DPS-0507.indd 2 12-08-07 6:25 PM Jansport-DPS-0507.indd 1 12-08-08 1:48 PM Jansport-DPS-0507.indd 2 12-08-08 1:48 PM CONTENIDO Ahmed Salem, parado junto a su escultura Crocodile Morocco. Es comandante del Frente Popular de Liberación (Polisario), un movimiento rebelde que lucha por la independencia del Sahara Occidental. Cuando no está patrullando el desierto o cazando a miembros de Al Qaeda, Ahmed se divierte crea ndo arte político con los restos de explosivos. Foto por Karlos Zurutuza. VOLUMEN 5 NÚMERO 7 Portada por Jim Mangan LOS ÁNGELES TIENEN UN MENSAJE PARA LOS NARCOS FANTASMAS DE LA SELVA Ciudad Juárez encuentra formas inusuales Guerrilleros de Myanmar queman laboratorios para comenzar a reconstruirse . 20 de metanfetaminas y asesinan a cabrones genocidas . 52 ADIÓS, CUERO CABELLUDO EL BATEADOR DE BEISBOL . 58 Los botes improvisados del Amazonas BEDU . 66 pueden arrancarte la piel . 24 MAMITA, MAMITA, RICA Y APRETADITA ¿QUIÉN NECESITA A LA FIFA? Sueños de látex en la selva brasileña . 76 Naciones sin estado celebran su propio mundial ESTACIONES DEL METRO DE PYONGYANG, en las canchas de Kurdistán . 26 COREA DEL NORTE (1989) . 92 ARAÑANDO EL TRIUNFO MUJERES GUERRERAS Las olimpiadas de uñas convierten las En La Esperanza, Guerrero, las chicas se parten cutículas en “bellículas” . 30 la cara para pedir una buena cosecha . 96 MI VIDA CON GRANDES HOMBRES LA DROGA DE LOS ZOMBIS Unas extrañas vacaciones en Las sales de baño destruyeron la comunidad el escondite selvático de Mobutu . -

Kim A. Brillante Knight, Ph.D. Assistant Professor, Emerging Media and Communication University of Texas at Dallas [email protected] |
Kim A. Brillante Knight, Ph.D. Assistant Professor, Emerging Media and Communication University of Texas at Dallas [email protected] | http://kimknight.com Published in the peer-reviewed journal, The Projector. Fall 2014. https://sites.google.com/site/projectorjournal/ “The Work of iamamiwhoami in the Age of Networked Transmission” On January 31, 2010, the science fiction author William Gibson hit send on a tweet1 that read, “that putative Lady GaGa Virus is as seriously Footage-y as anything I’ve seen on YouTube.” The “Lady GaGa Virus” turns out to have nothing at all to do with Lady GaGa. It is a series of online videos that are produced by a collective called iamamiwhoami that is led by Swedish singer Jonna Lee, who had a few pop records prior to this project. Despite no traceable connection to GaGa, the iamamiwhoami videos are, in fact, “seriously Footage-y.” The production and circulation strategies employed by iamamiwhoami bear an eerie resemblance to those of the anonymous online videos called “the footage” in Gibson’s 2003 novel Pattern Recognition. Gibson’s fictional footage is a series of thirty-five video clips that are produced anonymously, released onto the internet, and spawn a devoted fan community. The quest to unveil the identity of the maker of the footage is the mystery that drives much of the plot of the novel. As with the fictional footage, the iamamiwhoami videos are produced and shared via unconventional means and are part of a larger viral structure that includes the media objects, discourse about them, remixes, and other elements of fan production. -

Fill the Air with Screams Uppsats Benjamin Ek Klar
FG1299 Självständigt arbete, grundnivå inom lärarprogram (musik som ämne 2), 15 hp Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2018 Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) Handledare: Anna Backman Bister Benjamin Ek Fill The Air With Screams Semiotisk jämförelse av ett audiovisuellt verk och ett sceniskt Inspelning av det självständiga, konstnärliga arbetet finns dokumenterat i det tryckta exemplaret av denna text på KMH:s bibliotek. ! Sammanfattning Inspirerad av iamamiwhoamis audiovisuella verk skrev jag föreställningen Fill The Air With Screams som genomfördes den 27 oktober 2017. Det som intresserade mig hos iamamiwhoami var deras användning av symboler och i denna uppsats undersöks symbolspråket i deras verk bounty och jämförs med mitt eget verk. Syftet är att genomföra ett sceniskt verk utifrån ett audiovisuellt symbolspråk. Frågeställningen är: Hur kan ett audiovisuellt symbolspråk användas i en scenisk föreställning? Det audiovisuella verket tolkades med denotation och konnotation, dessutom analys av texterna och den emotionella strukturen. Artistens liv och omvärldens tolkningar togs in och sist jämfördes verket med den sceniska föreställningen. Slutsatsen är att Fill The Air With Screams har mycket gemensamt med iamamiwhoamis verk bounty men att deras symbolspråk är mer utvecklat och bygger upp en värld på ett mer lyckat sätt. Arbetet har lärt mig mer om hur symbolspråk kan användas och idéer på hur jag kan utveckla mina egna symboler. Nyckelord: musikvideo, semiotik, kvalitativ, audiovisuell, musik, -

Om Jag Hade En Röst Skulle Jag Sjunga If I Had a Voice I'd Sing
Kultur & Medier Kulturvetenskap K3, Konst, kultur och kommunikation Malmö högskola Vt 11 Om jag hade en röst skulle jag sjunga Relationen mellan skogen och identiteten i musikvideor av Fever Ray och Iamamiwhoami If I had a voice I’d sing The relation between the forest and the identity in music videos by Fever Ray and Iamamiwhoami Oskar Johansson Handledare Linda Fagerström Om jag hade en röst skulle jag sjunga. Examensuppsats Vt 11 Kulturvetenskap Oskar Johansson Abstract Om jag hade en röst skulle jag sjunga: relationen mellan skogen och identiteten i musikvideor av Fever Ray och Iamamiwhoami. Oskar Johansson. Kultur & Medier. Examensarbete i Kulturvetenskap. Konst kultur och kommunikation. Området för kultur och samhälle. Malmö högskola. Vt 11. Handledare Linda Fagerström. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skogen kan användas för att gestalta en bild av identiteten. För att göra det analyseras musikvideor av Fever Ray och Iamamiwhoami. Gestaltningen består av två noveller. I dessa undersöks relationen till skogen på ett mer individuellt plan. Metoden är mer sökande än teoretiserande. Uppsatsen analyserar musikvideor ur ett genusperspektiv, som bilder och metaforer. Teoretiker som används är bland annat Jean Baudrillard, Timothy Morton och Judith Butler. Från deras teorier undersöks vilka värderingar och antaganden som kan sägas ligga till grund för representationen av identiteten och skogen. Resultatet är bilden av en värld som är splittrad och ovillig att komma till konkreta ståndpunkter. Å ena sidan visar musikvideorna individer som arbetar med kulturellt betingade bilder av genus och skogen och försöker göra dem till sina egna. Å andra sidan syns en vilja att röra sig bort från dem. -
A Musical MEOW
THE ROCKY MOUNTAIN COLLEGIAN SATURDAY’S SHOW INFO: Where: GNU: Experience Gallery When: 9 p.m. Cost: $5 Who: WhiteCatPink with Snubluck Dinosaurus Rex J Dubious A musical MEOW HUNTER THOMPSON BY ILLUSTRATION WhiteCatPink prowls to the GNU Gallery Saturday By Bailey Constas “ is shook things up for people, and they part of his life. “ e chords I use have speci c colors, and e Rocky Mountain Collegian didn’t know what to expect,” Jacoby said. “I really hated high school. I really believe in that’s based on what I want to convey in the mu- Behind the whiskers, Shamanism, old school what Matt Stone and Trey Parker say about the sic,” Jacoby said. Music, cats, glitter, glam, euro-bass, girls, pia- rituals and David Bowie fueled feline persona is a dorky kids who grow up to make cartoons and be “I can see the di erent pitches that I use, the no, makeup and synesthesia are all accurate terms resonation of his personality. white cats,” Jacoby joked. “And the cool kids grow di erent sounds, bass sounds, even the lters to describe WhiteCatPink, aka David Jacoby. “I’m a solo hunter, usually I crawl around at up to be insurance salesmen.” that I run stu through — like the phaser — it Fans of the eccentric musician can see his night, riding around neighborhoods, alleys in Old Jacoby played in an experimental pop rock will a ect that,” Jacoby said. “It looks like look- brand of electronic-based, live drum and dance Town,” Jacoby said. “I’ll just disappear suddenly group in Boulder from 2004 to 2007.