Maragojipe Em Histórias Menores
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Boletim Epidemiológico Bahia – COVID-19
Nº 79 - 11/06/2020 Situação Epidemiológica Atual Na Bahia, o primeiro caso foi confirmado em 06/03/2020, nove dias após a confirmação do primeiro caso do Brasil, que ocorreu em 26/02/2020. A partir de então, já foram confirmados laboratorialmente 25.403 (14,30%) casos, pelo critério clínico-epidemiológico 1.211 (0,68%), teste rápido 6.878 (3,87%) e confirmados em acompanhamento 399 (0,22 %), totalizando 33.891 (19,08%) casos, dentre o total de 177.587 notificados, com descarte de 49.615 (27,94%) casos por critério laboratorial. Permanecem em investigação epidemiológica 94.080 (52,98%) casos (Tabela 1). Tabela 1. Distribuição dos casos de COVID-19, segundo situação da investigação. Bahia, 2020*. Classificação Casos N % Confirmados laboratorialmente 25403 14,30 Confirmados clínico epidemiológica 1211 0,68 Confirmados teste rápido 6878 3,87 Aguardando validação dos municípios* 399 0,22 Total 33891 19,08 Descartados 49615 27,94 Em investigação 94080 52,98 Total 177586 100 *Casos confirmados de covid-19 cuja condição clinica permanece sendo acompanhada ou aguarda autorização pelos municipios. Fonte: e-SUS-Ve/ Divep e GAL/Lacen, dados obtidos em 11/06/2020, sujeito a alterações. A partir de 27/03/2020 a plataforma REDCAP não permitiu mais a inclusão de novos casos suspeitos da COVID-19. As notificações de novos casos passaram a ser feitas na nova plataforma (http://notifica.saude.gov.br). O Ministério da Saúde reforça a importância da realização da NOTIFICAÇÃO IMEDIATA dos casos de Síndrome Gripal (SG) leve no e-SUS VE, link (https://nofica.saude.gov.br/login) e dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-Gripe) (https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?). -
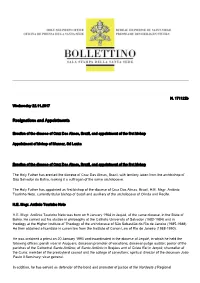
Resignations and Appointments
N. 171122b Wednesday 22.11.2017 Resignations and Appointments Erection of the diocese of Cruz Das Almas, Brazil, and appointment of the first bishop Appointment of bishop of Mannar, Sri Lanka Erection of the diocese of Cruz Das Almas, Brazil, and appointment of the first bishop The Holy Father has erected the diocese of Cruz Das Almas, Brazil, with territory taken from the archbishop of São Salvador da Bahia, making it a suffragan of the same archdiocese. The Holy Father has appointed as first bishop of the diocese of Cruz Das Almas, Brazil, H.E. Msgr. Antônio Tourinho Neto, currently titular bishop of Satafi and auxiliary of the archdiocese of Olinda and Recife. H.E. Msgr. Antônio Tourinho Neto H.E. Msgr. Antônio Tourinho Neto was born on 9 January 1964 in Jequié, of the same diocese, in the State of Bahia. He carried out his studies in philosophy at the Catholic University of Salvador (1982-1984) and in theology at the Higher Institute of Theology of the archdiocese of São Sebastião do Rio de Janeiro (1985-1988). He then obtained a licentiate in canon law from the Institute of Canon Law of Rio de Janeiro (1988-1990). He was ordained a priest on 20 January 1990 and incardinated in the diocese of Jequié, in which he held the following offices: parish vicar in Aiuquara; diocesan promoter of vocations; diocesan judge auditor; pastor of the parishes of the Cathedral Santo Antônio, of Santo Antônio in Brejões and of Cristo Rei in Jequié; chancellor of the Curia; member of the presbyteral council and the college of consultors; spiritual director of the diocesan João Paulo II Seminary; vicar general. -

Variabilidade Genética De Inhame Com Base Em
Vol. 14(30), pp. 1288-1294, 25 July, 2019 DOI: 10.5897/AJAR2018.13062 Article Number: A9FBB5661435 ISSN: 1991-637X Copyright ©2019 African Journal of Agricultural Author(s) retain the copyright of this article http://www.academicjournals.org/AJAR Research Full Length Research Paper Genetic variability of yam based on quantitative descriptors Virgílio Carménia Cossa1,2*, Elaine Costa Cerqueira-Pereira1, Darcilúcia Oliveira do Carmo de Almeida1, Carlos Alberto da Silva Ledo3 and Ricardo Franco Cunha Moreira1 1Federal University of Reconcavo da Bahia (UFRB), Center of Agricultural, Environmental and Biological Sciences, Rua Rui Barbosa 710, ZIP Code 44380-000, Cruz das Almas, BA, Brazil. 2Pedagogic University of Mozambique, Delegation of Niassa, Chiuaula Campus, P. O. Box 04, Lichinga, Niassa, Mozambique. 3EMBRAPA Cassava and Fruits, P. O. Box, 007, ZIP Code 44380-000, Cruz das Almas, BA, Brazil. Received 16 February, 2018; Accepted 13 March, 2018 Yam is a promising income source for small producers in the Recôncavo Baiano region. However, few genetic studies have been conducted with this culture. In this sense, the aim of this study was to assess genetic variability among 89 genotypes of yam (Dioscorea rotundata Poir.) collected in four municipalities in Bahia State, Brazil. These were assessed based on eight quantitative descriptors. Data were subjected to descriptive statistics, Spearman's rank correlation, Singh criterion, cluster analysis, principal component analysis and dispersion graph. The tuber weight showed the highest coefficient of variation and correlated positively and significantly with width and length of tuber. The tuber length characteristics contributed most to the genetic divergence. The criterion pseudo-t2 divided 89 genotypes into seven groups, being that groups 4, 5 and 7 showed the highest averages for the production characteristics. -

Anexo Iiport
RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS E AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO PORTARIA Nº 043 / 2012 de 16 de janeiro de 2012 Cod. Município/Dist. Região Bco. Ag. Dg. Banco/Agencia 107 ABAIRA 19 1 4187-4 BRASIL/ABAIRA 204 ABARE 10 1 0621-1 BRASIL/PAULO AFONSO 301 ACAJUTIBA 3 1 3838-5 BRASIL/ACAJUTIBA 41501 ADUSTINA 11 1 4189-0 BRASIL/ADUSTINA 408 AGUA FRIA 12 1 0236-4 BRASIL/AGUA FRIA 602 AIQUARA 13 1 2216-0 BRASIL/JITAUNA 709 ALAGOINHAS 3 1 0158-9 BRASIL/ALAGOINHAS 806 ALCOBAÇA 9 1 4492-X BRASIL/ALCOBAÇA 903 ALMADINA 7 1 0601-7 BRASIL/COARACI 1006 AMARGOSA 29 1 0240-2 BRASIL/AMARGOSA 1103 AMÉLIA RODRIGUES 2 1 1017-0 BRASIL/AMELIA RODRIGUES 33702 AMERICA DOURADA 21 1 3841-5 BRASIL/AMERICA DOURADA 1200 ANAGE 20 1 1435-4 BRASIL/ANAGE 1307 ANDARAI 18 1 1100-2 BRASIL/MUCUGE 41404 ANDORINHA 28 1 4152-1 BRASIL/ANDORINHA 1404 ANGICAL 25 1 1444-3 BRASIL/ANGICAL 1501 ANGUERA 2 1 41-8 BRASIL FEIRA DE SANTANA 1608 ANTAS 11 1 1448-6 BRASIL/ANTAS 1705 ANTONIO CARDOSO 2 1 1133-9 BRASIL/SANTO ESTEVÃO 1802 ANTONIO GONCALVES 28 1 1719-1 BRASIL/CAMPO FORMOSO 1909 APORA 3 1 1454-0 BRASIL/APORA 39106 APUAREMA 13 1 2216-0 BRASIL/JITAUNA 37104 ARACAS 3 1 0158-9 BRASIL/ALAGOINHAS 2002 ARACATU 19 1 0730-7 BRASIL/BRUMADO 2109 ARACI 12 1 1456-7 BRASIL/ARACI 2206 ARAMARI 3 1 4032-0 BRASIL/ARAMARI 33809 ARATACA 6 1 837-0 BRASIL/CAMACÃ 2303 ARATUIPE 4 1 0238-0 BRASIL/NAZARÉ 2400 AURELINO LEAL 7 1 0245-3 BRASIL/UBAITARA 2507 BAIANOPOLIS 25 1 1486-9 BRASIL/BAIANOPOLIS 2604 BAIXA GRANDE 17 1 1488-5 BRASIL/BAIXA GRANDE 37201 BANZAE 11 1 4179-3 BRASIL/BANZAE 2701 BARRA 22 1 0227-5 BRASIL/BARRA 2808 -

Boletim Epidemiológico Bahia – COVID-19
Nº 99 - 01/07/2020 Situação Epidemiológica Atual Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 3.178 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +4,3%), 49 óbitos (+2,6%) e 3.165 curados (+6,6%). Dos 76.485 casos confirmados desde o início da pandemia, 50.924 já são considerados curados, 23.659 encontram-se ativos e 1.902 tiveram óbito confirmado. Para todos os casos confirmados foram considerados os resultados laboratoriais: RTP-PCR e Imunológico, teste rápido e clínico-epidemiológico. Do total de casos confirmados para o Estado, 49.167 (15,29%) foram confirmados laboratorialmente*, desses 09 foram através de exame imunológico, 1.499 (0,47%) pelo critério clínico- epidemiológico, 23.716 (7,37%) por teste rápido e 2.103 (0,65 %) confirmados em aguardando validação do município. O total de casos notificados foram 321.595, desses 76.485 (23,78%) são casos confirmados, 166.313 (51,72%) são descartados e 78.797 (24,50%) permanecem em investigação epidemiológica. (Tabela 1). *A partir do dia 24/06/2020 o Ministério da Saúde considera como critério laboratorial para diagnostico os tipos de testes: Biologia molecular (método RT-PCR em tempo real), Imunológico e Testa-Rápido. Tabela 1. Distribuição dos casos de COVID-19, segundo situação da investigação. Bahia, 2020*. Classificação Casos N % Confirmados laboratorialmente 49167 15,29 Confirmados clínico epidemiológica 1499 0,47 Confirmados teste rápido 23716 7,37 Aguardando validação dos municípios* 2103 0,65 Total 76485 23,78 Descartados 166313 51,72 Em investigação 78797 24,50 Total 321595 100 *Casos confirmados de covid-19 cuja condição clinica permanece sendo acompanhada ou aguarda autorização pelos municipios. -

2017 Boletim Da Microcefalia E Outras Alterações Do SNC Sugestivas De Infecção Congênita
Nº. 1 26 JANEIRO DE 2017 Boletim da Microcefalia e outras alterações do SNC sugestivas de infecção congênita. Bahia, 2016. Situação Epidemiológica Atual A partir de outubro de 2015, a Bahia passou a notificar os casos de microcefalia através do Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP), após a intro- dução do vírus Zika no estado (janeiro de 2015). O Ministério da Saúde (MS) publicou protocolo que define os critérios para notificação dos casos de recém-nascidos (RN) suspeito de microcefalia, feto com alterações do Sistema Nervoso Central (SNC), natimorto decorrente de infecção congênita e abortamento sugestivo de infecção congênita. Além disso, o MS orientou a notificação de crianças com microcefalia e/ou alterações do SNC (>28 di- as). A Bahia notificou de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2016, 1.526 casos de microcefalia conforme tabela abaixo (Tabela 1). Tabela 1. Número de casos notificados de microcefalia por tipo de notificação. Bahia, 2015 – 2016.* Tipo de notificação Nº DE CASOS ABORTO ESPONTÂNEO (ATÉ 22 SEMANAS DE GESTAÇÃO) 4 CRIANÇA COM MICROCEFALIA E/OU ALTERAÇÕES DO SNC (> 28 DIAS) 117 FETO COM ALTERAÇÕES DO SNC 48 NATIMORTO COM MICROCEFALIA E/OU ALTERAÇÕES DO SNC 9 RECÉM-NASCIDO COM MICROCEFALIA (<= 28 DIAS) 1348 Total geral 1526 Fonte: RESP, dados de 08/10/15 a 15/01/17. * Dados preliminares sujeitos a alterações. Comparando o total de notificações com o número divulgado no boletim anterior observa-se um aumento do total de casos, que ocorreu em virtude da análise das notificações tardias que foram inseridas no RESP. Considerando a distribuição temporal dos casos de microcefalia no estado observa-se que após a introdução do Zika vírus e sua intensa circulação a partir da 12ª semana de 2015, houve aumento do número de nascidos vivos apresentando microcefalia e/ou outras alterações do SNC, principalmente a partir da 33ª semana epidemiológica de nascimento, sugerindo em 2015, associação temporal entre a infecção viral e as alterações congênitas ob- servadas. -

Memória E Poder Local Na Vila De Cabeças – Bahia (1920-1962)
A VILA E O CORONEL: MEMÓRIA E PODER LOCAL NA VILA DE CABEÇAS – BAHIA (1920-1962) Luis Carlos Borges da Silva Colégio Estadual Professor Edgard Santos – Governador Mangabeira – Bahia [email protected] 1- RECÔNCAVO FUMAGEIRO: UM BREVE PANORAMA ECONÔMICO E SOCIAL As produções historiográficas acerca do Recôncavo Fumageiro, ainda são mínimas, principalmente no sentido de tentar entende-lo como um espaço construído historicamente a partir de uma fisionomia própria, não apenas vinculado à tradicional concepção de Recôncavo Açucareiro, pois por volta do século XVI, “o cultivo do fumo fez surgir em Cachoeira e nas regiões circunvizinhas e, em certa medida, também em Maragogipe, uma organização social e econômica distinta no Recôncavo”. (SCHWARTZ, 1999, p.85) Do ponto de vista do espaço físico, a historiadora baiana Elizabete Rodrigues, assim definiu o Recôncavo Fumageiro: (...) esta região estendia-se de Maragogipe a Santo Antonio de Jesus. Nestes limites, destacam-se as cidades de Maragogipe, Cachoeira, São Félix e Muritiba, interligadas pela antiga BA 02. Seguindo o curso do Rio Paraguaçu, a sua margem direita é ligada a Cachoeira pela Ponte D. Pedro II, que encontra do outro lado o rio a cidade de São Félix e subindo a escarpa da falha, chega-se a cidade de Muritiba e, a seis quilômetros após, o Distrito de Cabeças (Governador Mangabeira – município criado em 1962). (2001, p.18) Foi exatamente neste espaço que a partir do século XVI, teve inicio a produção de tabaco no Brasil, fenômeno que se registrou em função de aspectos climáticos, mas que propiciou lucros elevados para a coroa portuguesa. Neste contexto geográfico de produção, já se encontrava a área da Vila de Cabeças. -

Características Geológicas, Pedológicas E Ambientais De Lavras De Areia No Recôncavo Baiano
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOLOS E QUALIDADE DE ECOSSISTEMAS CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS, PEDOLÓGICAS E AMBIENTAIS DE LAVRAS DE AREIA NO RECÔNCAVO BAIANO LUDIMILA DE OLIVEIRA DE AMORIM CRUZ DAS ALMAS – BAHIA AGOSTO – 2015 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS, PEDOLÓGICAS E AMBIENTAIS DE LAVRAS DE AREIA NO RECÔNCAVO BAIANO. LUDIMILA DE OLIVEIRA DE AMORIM Licenciada em Geografia Universidade do Estado da Bahia – UNEB Santo Antônio de Jesus, 2012 Dissertação submetida ao Colegiado de Curso do Programa de Pós-Graduação em Solos e Qualidade de Ecossistemas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre em Solos e Qualidade de Ecossistemas. ORIENTADOR: PROF. DR. THOMAS VINCENT GLOAGUEN UFRB-CETEC UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA MESTRADO EM SOLOS E QUALIDADE DE ECOSSISTEMAS CRUZ DAS ALMAS – BAHIA – 2015 FICHA CATALOGRÁFICA Ficha elaborada pela Biblioteca Universitária de Cruz das Almas – UFRB. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOLOS E QUALIDADE DE ECOSSISTEMAS COMISSÃO EXAMINADORA DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE LUDIMILA DE OLIVEIRA DE AMORIM _______________________________________ Prof. Dr. Thomas Vincent Gloaguen (Orientador) Universidade Federal do Recôncavo da Bahia _______________________________________ Prof. Dr. Oldair Del’Arco Vinhas Costa Universidade Federal do Recôncavo da Bahia _______________________________________ Prof. Dr. Francisco Gabriel Santos Silva Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Dissertação homologada pelo Colegiado do Curso de Mestrado em Solos e Qualidade de Ecossistemas em ________________, conferindo o Grau de Mestre em Solos e Qualidade de Ecossistemas em _____________________. DEDICATÓRIA Dedico esse trabalho aos meus amados pais Del e Gal e ao meu irmão Lucas. -

Planilha De Cbh E Suas Cidades
Comitê de Bacia Hidrográfica da Bahia - CBH Comitê Municipios CBH - Frades, Buranhém e Santo Porto Seguro, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Prado, Belmonte, Itagimirim, tamaraju, Itapebi, Santa Cruz Antonio - FRABS de Cabrália Crisópolis, Andorinha, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Filadélfia, Tucano, Olindina, Queimadas, Caém, Ponto Novo, Cansanção, Nordestina, Itiúba, Pindobaçu, Capim Grosso, Araci, Saúde, Cipó, Nova Soure, Conde, Acajutiba, Santa Luz, Quixabeira, Jacobina, Euclides da Cunha, Monte Santo, Ribeira do Pombal, Ribeira do Amparo, Itapicuru, Rio Real, Banzaê, Sátiro DiasTeofilândia, Conceição do Coité, CBH Itapicuru Retirolândia, Valente, Serrolândia, Várzea do Poço, Miguel Calmon, Barrocas, Esplanada, Aporá, Inahmbupe, Biritinga, São José do Jacuípe, Mirangaba, Campo, Formoso, Jaguarari, Novo Triunfo, Cícero Dantas, Heliópolis, Jandaíra, Morro do Chapéu, Uauá, Quijingue Amargosa, Aratuípe, Brejões, Cairu, Conceição do Almeida, Cravolândia, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Gandu, Irajuba, Itamari, Ituberá, Jaguaripe, Jiquiriçá, Laje, Muniz Ferreira, Mutuípe, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Santa Inês, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Miguel das Matas, CBH Reconcavo Sul Teolândia, Ubaíra, Ubatã, Valença, Varzedo, Vera Cruz e Wenceslau Guimarães. Apuarema, Camamu, Igrapiúna, Itiruçu, Jaguaquara, Maraú, Milagres, Nazaré, Nova Itarana, Planaltino, Salinas das Margaridas, Sapeaçu.Castro Alves, Lajedo do Tabocal.Barra do Rocha, Cruz das Almas, Iaçu, Ibirapitanga, Ibirataia, Itaparica, Itaquara, Itatim, Lafaiete Coutinho, Maracás, Maragogipe, Santa Teresinha, Taperoá, Várzea Nova. Ourolândia, Campo Formoso, Mirangaba e Umburanas.Jacobina, Juazeiro, Miguel Calmon, Morro do CBH Salitre Chapéu Barra, Buritirama, Casa Nova, Pilão Arcado, Remanso, Sento-Sé, Campo Alegre de Lourdes e Sobradinho.Pilão CBH Sobradinho Arcado, Remanso, Sobradinho, Casa Nova e Campo Alegre de Lourdes. Sento Sé e Barra. -

World Bank Document
The World Bank Report No: ISR11165 Implementation Status & Results Brazil Bahia State Integrated Project: Rural Poverty (P093787) Operation Name: Bahia State Integrated Project: Rural Poverty (P093787) Project Stage: Implementation Seq.No: 15 Status: ARCHIVED Archive Date: 04-Aug-2013 Country: Brazil Approval FY: 2006 Public Disclosure Authorized Product Line:IBRD/IDA Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN Lending Instrument: Specific Investment Loan Implementing Agency(ies): Key Dates Board Approval Date 01-Sep-2005 Original Closing Date 31-Jul-2010 Planned Mid Term Review Date 26-Mar-2012 Last Archived ISR Date 24-Apr-2013 Public Disclosure Copy Effectiveness Date 09-Feb-2006 Revised Closing Date 31-Jul-2013 Actual Mid Term Review Date 19-Jul-2012 Project Development Objectives Project Development Objective (from Project Appraisal Document) The Project would increase social and economic opportunities for the rural poor in Bahia by improving their access to basic socioeconomic infrastructure, thus contributing to the Borrower's objective of increasing the HDI. While building on the CDD approach proven successful under the first phase of Produzir, the second phase would improve on this experience by: (a) integrating with and/or complementing activities of other Bank loans for the State (under the Bahia State Program), particularly the PGRH and Viver Melhor Urbano II; (b) strengthening the cross-sectoral integration and providing significantly more emphasis on education, health, culture, natural resources management and environmental sustainability; and (c) scaling up the impact on poverty by using the skills, social capital and experience of Public Disclosure Authorized the Municipal Councils and community associations to improve the relevance, efficiency, sustainability, targeting and outcomes of non-project State and Federal investments in rural Bahia. -

Alternativas De Adequação Urbana Para Os Municípios Da Área De Impacto Urbano Direto Do Sistema Viário Oeste (Svo)
ALTERNATIVAS DE ADEQUAÇÃO URBANA PARA OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE IMPACTO URBANO DIRETO DO SISTEMA VIÁRIO OESTE (SVO) Região Objeto do Estudo ÁREA DE IMPACTO URBANO DIRETO DO SVO Área de Impacto Urbano Direto do SVO 14 MUNICÍPIOS Jaguaripe Salinas da Margarida Maragogipe Nazaré Aratuípe Muniz Ferreira Santo Antônio de Jesus Conceição do Almeida Castro Alves Varzedo Santa Terezinha Sapeaçu São Felipe Dom Macedo Costa Estudos Urbanísticos do Sistema Viário Oeste (SVO) • Plano Urbano Intermunicipal (PUI) • Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da legislação básica para a implementação da política urbana de Itaparica e Vera Cruz; • Plano Urbanístico Municipal (PLUR) de Vera Cruz e de Itaparica; • Cadastro imobiliário de Itaparica e Vera Cruz; • Estudos de Impacto de Vizinhança das cabeceiras da ponte (EIVs) • Estudo de impacto do SVO em Salvador e Ilha de Itaparica • Proposições para o Centro Antigo de Salvador - CAS • Subsídios ao EIA-Rima quantos aos aspectos urbanos; Alternativas de Adequação Urbana para os Municípios da Área de Impacto Urbano Direto do Sistema Viário Oeste (SVO) Processo de discussão pública Contatos iniciais com atores públicos e privados resultaram numa agenda de atividades: Atividades integradas / conteúdos Convocação Local Data Resultados iniciais do estudo (SEDUR) Cruz das Acompanhamento de atividade de Matriz CODETER 16/01/2016 Almas SWOT (CODETER) Andamento do estudo e resultados São CTR 16/02/2016 alcançados (SEDUR) Felipe Resultados alcançados com destaque para Santo aspectos incorporados a partir -

Engenhos Do Recôncavo Baiano
ENGENHOS DO RECÔNCAVO BAIANO Sugarcane Farms of Bahia's Recôncavo Esterzilda Berenstein de Azevedo Esterzilda Berenstein de Azevedo Esterzilda Berenstein de O sétimo título da série Roteiros do Patrimônio do Programa Monumenta/Iphan propõe aos leitores interessados em nosso patrimônio arquitetônico uma viagem por alguns dos monumentos remanescentes da arquitetura do açúcar na Bahia. Os conjuntos tradicionais ali instalados com suas casas-grandes, capelas, fábricas e senzalas são descritos em minúcia e com muitas imagens, inclusive as dos vestígios que ainda podem ser visitados. AIANO B The seventh title of the Heritage Itineraries series by the Monumenta/Iphan Program invites interested readers for a visit to some of ATRIMÔNIO the remaining monuments of the sugarcane ECÔNCAVO era architecture in Bahia. R The traditional ensembles with their DO P farmhouses, chapels, refineries and senzalas are described in detail and furnished with images, including some of ruins that can still be visited. NGENHOS E DO OTEIROS R ENGENHOS DO RECÔNCAVO BAIANO Sugarcane Farms of Bahia’s Recôncavo Esterzilda Berenstein de Azevedo IMÔNIO R AT P DO OS R OTEI MONUMENTA | IPHAN R Pintura “Engenho”. 1660. Frans Post. Painting “Engenho” by Frans Post,1660. APRESENTAÇÃO Foreword Em usinas escuras, In dark refineries, homens de vida amarga men of bitter e dura and hard lives produziram este açúcar produced this sugar branco e puro... white and pure... Ferreira Gullar Ferreira Gullar No sétimo volume da In the seventh volume série Roteiros do Patrimônio, of the Heritage Itineraries o Programa Monumenta/ series, The Monumenta/Iphan Iphan propõe uma visita aos Program suggests a visit to monumentos criados pela monuments created by the arquitetura do açúcar architecture of sugar economy na Bahia.