“Recuso-Me”! Ditos E Escritos De Maria Lacerda De Moura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Februarie Martie Aprilie Ianuarie Mai Iunie Iulie August
IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI 1 V △ Makoto Tomioka (1897), scriitorul socialist 1 L Apare revista Dacia Viitoare a Grupului Revoluționar 1 L Apare la New York primul număr din revista Mother 1 J △ Francisco Ascaso (1901); se încheie Războiul Civil 1 S Ziua internaȚională a muncii, muncitorilor și Constantin Mille (1862); începe rebeliunea zapatistă din Român (1883) Earth (1906), scoasă de Emma Goldman din Spania (1939) muncitoarelor; se deschide în București MACAZ - Bar regiunea Chiapas, Mexic (1994) 2 M Adolf Brand (1945); apare la București Dysnomia, 2 M scriitorul Philip K. Dick (1982) 2 V Zamfir C. Arbure (1933); Jandarmeria reprimă violent Teatru Coop., continuare a Centrului CLACA (2016) 2 S „Big Frank” Leech (1953) cerc de lectură feministă și queer (2015) 3 M △filosoful William Godwin (1756), feminista Milly pregătirea protestelor anti-NATO din București (2008) 2 D Gustav Landauer (1919); încep protestele 3 D △ Federico „Taino” Borrell Garcia (1912) 3 M △ coreean Pak Yol (1902), Simone Weil (1909) Witkop (1877); Lansare SexWorkCall la București (2019) 3 S △educator Paul Robin (1837); apare primul număr al studențești în Franța, cunoscute mai târziu ca „Mai ‘68” 4 L Albert Camus (1960); Revolta Spartachistă din 4 J △militantul Big Bill Heywood (1869) 4 J △ Suceso Portales Casamar (1904) revistei Strada din Timișoara (2017) 3 L △scriitorul Gérard de Lacaze-Duthiers (1958) Germania (1919) 5 V △ criticul Nikolai Dobroliubov (1836), Johann Most (1846); 5 V △socialista Rosa Luxemburg (1871) 4 D △militantul kurd Abdullah Öcalan (1949); 4 M Demonstrația din Piața Haymarket din Chicago (1886) 5 M △ Nelly Roussel (1878); Giuseppe Fanelli (1877), Auguste Vaillant (1894) 6 S Apare la Londra primul număr al revistei Anarchy (1968) 5 L Apare nr. -
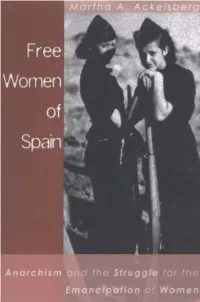
Ackelsberg L
• • I I Free Women of Spain Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women I Martha A. Ackelsberg l I f I I .. AK PRESS Oakland I West Virginia I Edinburgh • Ackelsberg. Martha A. Free Women of Spain: Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women Lihrary of Congress Control Numher 2003113040 ISBN 1-902593-96-0 Published hy AK Press. Reprinted hy Pcrmi"inn of the Indiana University Press Copyright 1991 and 2005 by Martha A. Ackelsherg All rights reserved Printed in Canada AK Press 674-A 23rd Street Oakland, CA 94612-1163 USA (510) 208-1700 www.akpress.org [email protected] AK Press U.K. PO Box 12766 Edinburgh. EH8 9YE Scotland (0131) 555-5165 www.akuk.com [email protected] The addresses above would be delighted to provide you with the latest complete AK catalog, featur ing several thousand books, pamphlets, zines, audio products, videos. and stylish apparel published and distributed bv AK Press. A1tern�tiv�l�! Uil;:1t r\llr "-""'l:-,:,i!'?� f2":' �!:::: :::::;:;.p!.::.;: ..::.:.:..-..!vo' :uh.. ,.",i. IIt;W� and updates, events and secure ordering. Cover design and layout by Nicole Pajor A las compafieras de M ujeres Libres, en solidaridad La lucha continua Puiio ell alto mujeres de Iberia Fists upraised, women of Iheria hacia horiz,ontes prePiados de luz toward horizons pregnant with light por rutas ardientes, on paths afire los pies en fa tierra feet on the ground La frente en La azul. face to the blue sky Atirmondo promesas de vida Affimling the promise of life desafiamos La tradicion we defy tradition modelemos la arcilla caliente we moLd the warm clay de un mundo que nace del doLor. -

Ética, Anarquia E Revolução Em Maria Lacerda De Moura (Margareth Rago En Reis, Daniel Aarão E Ferreira, Jorge
1 Ética, Anarquia e Revolução em Maria Lacerda de Moura (Margareth Rago en Reis, Daniel Aarão e Ferreira, Jorge. As esquerdas no Brasil, vol. 1 A Formação das Tradições, 1889-1945. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 262-293). “A vida não cabe dentro de um programa...” Maria Lacerda de Moura Se, ainda hoje, são reduzidos os nomes conhecidos das ativas militantes políticas de esquerda não só Brasil, é na história do movimento operário brasileiro que se encontra uma das mais importantes figuras do anarquismo: Maria Lacerda de Moura. Educadora libertária, escritora feminista, jornalista polêmica e oradora prestigiada, destaca-se por uma vibrante atuação nos meios políticos, culturais e literários brasileiros e sul-americanos, desde as primeiras décadas do século 20, quando se constitui o movimento operário, com a formação do mercado de trabalho livre, a industrialização e a vinda dos imigrantes europeus e de suas doutrinas políticas.1 Além dos inúmeros livros, artigos e folhetos em que denuncia as múltiplas formas da dominação burguesa, da opressão masculina e da exploração capitalista do trabalho, pesquisas recentes revelam que vários dos textos de Maria Lacerda de Moura podem ser encontrados não apenas nos periódicos brasileiros, mas também nas revistas anarquistas, publicadas na Espanha e na Argentina, entre as décadas de 1920 e 1930. Mesmo assim, apenas em 1984, vem a público a única biografia existente sobre ela, graças aos esforços da historiadora feminista Míriam Moreira Leite.2 A partir de então, sua figura ganha visibilidade para além do universo do 1 Veja-se Boris Fausto – Trabalho Urbano e Conflito Social. -

ASN6 Abstracts
1 ASN6 Abstracts Interactive Index Anarchist Responses to a Pandemic ............................................................ 1 (R)evolutionary Love in a Time of Crisis ....................................................... 1 Care and Crisis in New York: The Social Situation of Women, Anarcha- Feminism,and Mutual Aid During the COVID-19 Pandemic .......................... 2 Notes from the Unpaved Streets. Safety, Crisis, and Queer Autonomous Communities .............................................................................................. 2 Michel Foucault’s concept of political spirituality ........................................ 3 From apocalyptical to prophetical Eschatology. Anarchist understandings of temporality and revolutionary societal progress under conditions of everyday apocalypse ................................................................................... 4 Punk and Anarchy in Turkey: a complicated relationship ............................. 5 Out of Step: is Straight Edge Punk a post-anarchist movement? .................. 6 Anarchist counter-narratives through punk songs in conflict and post-conflict Northern Ireland, 1977-2020 ....................................................................... 7 Between Empires: An Anarchist and Postcolonial Critique of the 2019 Hong Kong Protests ............................................................................................. 7 Imperialism and Crisis (in Portuguese) ......................................................... 8 The Prevent Strategy and -

Caroline Goncalves.Pdf
1 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC/SP CAROLINE GONÇALVES ERNESTINA LESINA E O ANIMA E VITA: TRAJETÓRIAS, ESCRITOS E A LUTA DAS MULHERES OPERÁRIAS (INÍCIOS DO SÉCULO XX – SÃO PAULO) MESTRADO EM HISTÓRIA SOCIAL SÃO PAULO 2013 2 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC/SP CAROLINE GONÇALVES ERNESTINA LESINA E O ANIMA E VITA: TRAJETÓRIAS, ESCRITOS E A LUTA DAS MULHERES OPERÁRIAS (INÍCIOS DO SÉCULO XX – SÃO PAULO) MESTRADO EM HISTÓRIA SOCIAL Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em História Social, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Izilda Santos de Matos. SÃO PAULO 2013 3 BANCA EXAMINADORA _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 4 AGRADECIMENTOS Tantos foram os esforços em cada palavra digitada, tantos foram os desesperos feitos fantasmas nas noites varadas, tantos livros comprados, tantos parágrafos lidos, tanto peso carregado na mochila com livros e textos, tanta dor nas costas durante esses dois anos. Mas quanta excitação ao descobrir cada fonte, quanto conhecimento adquirido, quantas mulheres tomando parte nesta luta, quanta satisfação ao fim de cada capítulo, quanto prazer em contribuir para uma nova história. Nada disso, porém, teria ganhado forma concreta sem o concurso de muitos, de tantos, que o dever de gratidão exige mencionar: Agradeço à minha família, aos meus pais - Dona Maria e Seu Oro - -
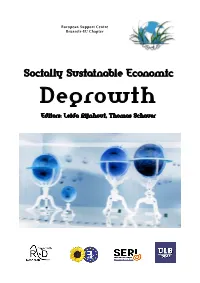
Conclusions of the Working Sessions
European Support Centre Brussels-EU Chapter Socially Sustainable Economic Degrowth Editors: Leida Rijnhout, Thomas Schauer 1 2 Socially Sustainable Economic Degrowth Editors: Leida Rijnhout, Thomas Schauer Proceedings of a Workshop in the European Parliament on April 16, 2009 hosted by Bart Staes MEP and The Greens / European Free Alliance with contributions by Joan Martinez Alier François Schneider Francine Mestrum Stefan Giljum Raoul Weiler 3 Impressum: Socially Sustainable Economic Degrowth Editors: Leida Rijnhout and Thomas Schauer Proceedings of a workshop in the European Parliament on April 16, 2009 upon invitation by Bart Staes MEP and The Greens / European Free Alliance Layout and Production: The Club of Rome - European Support Centre Tuchlauben 8/15, 1010 Vienna, Austria http://www.clubofrome.at 4 CONTENTS Preface 6 Joan Martinez Alier: Options for Socially Sustainable Economic Degrowth 7 François Schneider: Sustainable Degrowth of Production and Consumption Capacities 18 Francine Mestrum Degrowth or Reduction of the Ecological Footprint in Order to Fight Poverty 25 Stefan Giljum: Resource Use and Ecological Limits to Growth, Implications for De-Growth 28 Raoul Weiler Limits to Waste and Sinks: De-Growth [De-Growth: an inconvenient truth!] 33 5 Preface The global economy has been growing for decades with a high speed, largely ignoring the warnings of "The Limits to Growth", the first report to the Club of Rome by Donella Meadows, Dennis Meadows and Jorgen Randers in 1972. But in a limited system, unlimited growth is impossible. It has to come to an end, the question is just when and how. In spring 2008, a large international conference on degrowth was held in Paris. -

Anarco-Feminismo E Crítica Literária: Breves Apontamentos Sobre Uma Vertente Radical Da Literatura Feminista
ANARCO-FEMINISMO E CRÍTICA LITERÁRIA: BREVES APONTAMENTOS SOBRE UMA VERTENTE RADICAL DA LITERATURA FEMINISTA Ludmilla Carvalho Fonseca1 Resumo: A proposta deste trabalho, primeiramente, é apresentar a evolução do anarco-feminismo, mostrando sua trajetória que iniciou-se com as feministas libertárias que, de um modo geral, lutavam pelo direito ao voto e ao trabalho; passando pelas feministas anarquistas que reivindicavam melhores condições de trabalho, redução da jornada e igualdade salarial; até chegar nas anarco- feministas, que surgiram no contexto da Revolução Espanhola de 1936, compondo um movimento em defesa da libertação da mulher vinculada à eliminação do Estado, da sociedade de classes, do patriarcado, das instituições de poder e do capital. Num segundo momento, pretende-se enfocar a produção literária de algumas anarquistas feministas para, em seguida, abordar, de forma breve, as correntes epistemológicas que dão suporte à crítica feminista, mostrando que a episteme anarquista não se encontra no cerne das discussões da crítica literária, apesar de acordar com algumas correntes de pensamento. Palavras-chave: Anarco-feminismo. Crítica literária. Literatura feminista. As origens do anarco-feminismo Segundo Mary Nash (1927), pode-se identificar duas correntes de pensamento sobre a natureza das relações entre mulheres e homens no movimento anarquista clássico. A primeira estava inspirada nas ideias de Pierre-Joseph Proudhon e considerava as mulheres essencialmente como reprodutoras, afirmando que a única contribuição que elas poderiam dar à sociedade era através das tarefas domésticas. Em obra constituída de três volumes, intitulada De la justice dans la révolution et dans l’église, Proudhon (1858), por diversos momentos, busca construir aportes pseudocientíficos para elaborar suas teses sobre a inferioridade da mulher perante o homem. -

“She Is Nothing If Not a Strategist”: the Influence of Biologist Bertha Lutz's
Midwest Journal of Undergraduate Research 2021, Issue 12 137 “She is nothing if not a strategist”: The Influence of Biologist Bertha Lutz’s Scientific Perspective on Pan American Feminism Hadley Smithhisler Monmouth College Hadley Smithhisler graduated summa cum laude from Monmouth College in 2020 with a degree in history and French, and she is currently a first-year law student at the Indiana University Maurer School of Law. During her time at Monmouth College, Hadley worked as an editor for the Midwest Journal of Undergraduate Research for four years and happily served as its coordinating editor during her senior year. Passionate about public interest work and policy, Hadley hopes to use her law degree to help reform the criminal justice system when she graduates from law school in 2023. Hadley would like to thank Professor Amy de Farias for her guidance and encouragement during the development of this and other research projects about Bertha Lutz and Pan American feminism. Abstract Thanks to Bertha Lutz, a young, European-educated tree frog scientist and women’s suffrage activist, Brazil became a part of the lively Pan American feminist movement that developed in the early twentieth century. Relatively little research has been done on the Pan American feminist movement of the 1920s, and even less has explored Brazil and Lutz’s unique contributions to the movement. While recent scholarship focused on Lutz concentrates on her later career and begins to illuminate the influence of her scientific career on her feminism, I aim to fill in the gaps by showing how Lutz’s scientific perspective and work were intimately connected to her early feminist career (1920–1937). -

Maria De Lourdes Nogueira: the Course of a Libertarian
BRAZILIAN JOURNAL OF HISTORY OF EDUCATION ( v . 2 1 , 2021) ORIGINAL ARTICLE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA: THE COURSE OF A LIBERTARIAN TEACHER AND WRITER MARIA DE LOURDES NOGUEIRA: O PERCURSO DE UMA PROFESSORA E ESCRITORA LIBERTÁRIA MARIA DE LOURDES NOGUEIRA: LA TRAYECTORIA DE UNA PROFESSORA Y ESCRITORA LIBERTARIA Paloma Rezende de Oliveira1*, Nailda Marinho Costa2 1Universidade do Estado de Minas Gerais, Carangola, MG, Brasil. 2Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. *Corresponding author. E-mail: [email protected] A b s t r a c t : This article focuses on the course of Maria de Lourdes Nogueira, who, in the 1920’s, stood out for her libertarian nature publications in magazines and press, and acted in the Anarchist Movement. In the 1930’s, she entered the teaching staff of Colégio Pedro II, then mostly composed of men. In the perspective marked by Ginzburg (2006) the sources were questioned in the sense of mapping the ways she went through and the relationships she set up, in order to understand the strategies she used and the changes that made her insertion possible at CPII. The theoretic support that allowed denaturalizing the feminine subordination was Perrot (2012), Saffioti (2013) and Louro (2007), and dialoguing with the anarchist women course: Rago (2012), Martins (2009, 2013) and Fraccaro (2018). K e y w o r d s : high school, professional career, anarchist women. R e s u m o : Este estudo foca o percurso de Maria de Lourdes Nogueira que, na década de 1920, destacou-se por suas publicações de cunho libertário em revistas e na imprensa, e atuou no Movimento Anarquista. -

Ana Claudia Ribas As Sexualidades D'a Plebe
ANA CLAUDIA RIBAS AS SEXUALIDADES D’A PLEBE: SEXUALIDADE, AMOR E MORAL NOS DISCURSOS ANARQUISTAS DO JORNAL A PLEBE (1917-1951) Tese submetida ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Humanas, da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de Doutora em Ciências Humanas. Orientadora: Profa. Dra. Sônia W. Maluf Coorientador: Profa. Dra. Cristina S. Wolff FLORIANÓPOLIS 2015 Revisão e Formatação: Vanda Bastos Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC. Ribas, Ana Claudia Sexualidades d'A Plebe: Sexualidade, amor e moral nos discursos anarquistas do jornal A Plebe (1917-1951). / Ana Claudia Ribas ; orientadora, Sônia W. Maluf ; coorientadora, Cristina S. Wolff. - Florianópolis, SC, 2015. 290 p. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. Inclui referências 1. Ciências Humanas. 2. Anarquismo. 3. Estudos de Gênero. 4. Sexualidade. 5. Amor livre. I. Maluf, Sônia W. II. Wolff, Cristina S.. III. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. IV. Título. Ana Claudia Ribas AS SEXUALIDADES D’A PLEBE: SEXUALIDADE, AMOR E MORAL NOS DISCURSOS ANARQUISTAS DO JORNAL A PLEBE (1917-1951) Esta Tese foi julgada adequada para obtenção do Título de “Doutora em Ciências Humanas”, e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas. Local, 25 de fevereiro de 2015 ________________________ Prof. Dr. Selvino José Assmann Banca Examinadora: ________________________ Prof. Dr. Benito Bisso Schmidt UFRGS Dedico este trabalho a minha Vó Dora, a primeira a acreditar em uma doutora. -

Eduard Masjuan and Joan Martinez-Alier Universitat Autònoma De Barcelona International Society for Ecological Economics, Montr
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Research Papers in Economics 23/2004 – UHE/UAB – 17.06.2004 Eduard Masjuan and Joan Martinez-Alier Universitat Autònoma de Barcelona International Society for Ecological Economics, Montréal 11-15 July 2004 “CONSCIOUS PROCREATION” : NEO-MALTHUSIANISM IN SOUTHERN EUROPE AND LATIN AMERICA IN AROUND 1900 ABSTRACT One main concern of Ecological Economics is the balance between human population and natural resources. This is rightly named “the Malthusian question” because Malthus predicted that human populations, if unchecked, would grow exponentially while agricultural production (and other land-based productions) would be subject to decreasing returns to the labour input. This article shows that over one hundred years ago, there was in Europe and America a successful social movement that called itself “Neo-Malthusianism”. In contrast to Malthus’ pessimism, it believed that population growth could be stopped among the poor classes by voluntary decisions. Women were entitled to choose the number of children they wanted to have. The movement did not appeal to the State to impose restrictions on population growth. On the contrary, in Southern Europe it was based on “bottom up” activism against governments and the Catholic Church. KEY WORDS Population growth. Demographic transition. Malthus. Feminist neo-malthusianism. Birth control. Anarchism. 1 23/2004 – UHE/UAB – 17.06.2004 INTRODUCTION Many of today’s concerns about the depletion of natural resources and the ecological impact of the increasing population are attributed to a contemporary rise in neo-Malthusian thought. Ecologists who wrote in the 1960s and 1970s on population and the environment such as Paul Ehrlich and Garrett Hardin embody the historical heritage of the international neo-Malthusian movement. -

Anarquismo, Teoria E História Anarchism, Theory and History Anarquismo, Teoría Y Historia Anarchisme, Théorie Et Histoire
ATH #1 Anarquismo, teoria e história Anarchism, theory and history Anarquismo, teoría y historia Anarchisme, théorie et histoire # 1, 10/2015 ISSN: 0000-0000 ITHA-IATH Editorial (pt/en) ... 03 ITHA-IATH Anarquismo, Teoria e História (pt) ... 07 Felipe Corrêa e Rafael Viana da Silva Presenting Black Flame (en) … 49 Michael Schmidt and Lucien van der Walt Apresentando Chama Negra (pt) ... 81 Michael Schmidt e Lucien van der Walt ITHA-IATH 2015 ATH é uma publicação multilingue do Instituto de Teoria e História Anarquista (ITHA) que reúne, semestralmente, um conjunto de textos selecionados pelo Corpo Editorial visando contribuir com os objetivos do ITHA: difundir pesquisas históricas e teóricas sobre o anarquismo, investigações de questões teórico-metodológicas e conjunturais realizadas desde uma perspectiva libertária, assim como material de fontes primárias, produzidos pelos próprios anarquistas. O ITHA adota uma abordagem interdisciplinar e não necessariamente acadêmica; aceita também contribuições de interessados, estudiosos autônomos e militantes do anarquismo, desde que respeitados os Critérios de Publicação. Publica textos de autores clássicos e contemporâneos, inéditos ou não, e utiliza como critério principal de publicação a qualidade dos textos e a seriedade no tratamento do assunto. Aceita material em distintos idiomas (português, inglês, espanhol e francês). É gerido por um Corpo Editorial (Editores e Conselho Editorial), que avalia e aprova as publicações e é responsável pela atualização do site, das redes sociais e pela edição da revista. A revista ATH tem formato acadêmico, ainda que não se restrinja à publicação de textos acadêmicos. O critério de seleção dos artigos para revista é variado, podendo priorizar eixos temáticos, de acordo com decisão do Corpo Editorial.