YUFEI LI Poemas Para Fado: Alguns Exemplos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Valéria – a Entrevista |Exclusivo|
Home Festival Ano a Ano Últimas Notícias Recordar os Festivais Em Cartaz Entrevistas ESC2015 A 2020 ESC2021 ESC Junior OGAE Festivais da Canção 2015 a 2020 Festival da Canção 2021 Festival da Canção da Década 2010-19 Música Prémios e Homenagens Valéria – A entrevista |exclusivo| Carlos Portelo / 08/02/2021 Valéria Carvalho nasceu a 23 de julho de 1997, é uma jovem fadista de 23 anos que já conquistou alguns prémios, entre os quais o primeiro lugar no Concurso de Fado Amália Rodrigues, em 2014, no Fundão, zona de onde é natural. Aceda aqui à biografia de Valéria elaborada por nós. Valéria vai ser a intérprete do tema Na Mais Profunda Saudade com letra e música de Hélder Moutinho. Passamos a transcrever a entrevista que Valéria nos concedeu e que agradecemos. Festivais da Canção – Que significado tem para si pisar o palco do Festival da Canção? Valéria – Pisar o palco do Festival da Canção é concretizar um sonho que sempre considerei inatingível. É uma oportunidade de poder viver um sonho, e dar um pouco de mim ao meu país. FC – Como encarou e surgiu o convite do seu compositor para participar no Festival da Canção deste ano? Valéria – O Hélder Moutinho foi sempre uma referência para mim. Um certo dia, surgiu a oportunidade de ir cantar á casa de fados dele “Maria da Mouraria”, e foi nesse dia que conheci o Hélder. Pouco tempo depois ele convidou-me para ser vocalista de um projeto que estivera a executar, o qual eu aceitei. Ainda em 2020, recebi um telefonema do Hélder Moutinho onde ele me noticia o convite por parte da organização do Festival para ser um dos autores deste ano, e convida-me para ser a intérprete da música. -

Sons De Abril: Estilos Musicais E Movimentos De Intervenção Político-Cultural Na Revolução De 19741
Revista Portuguesa de Musicologia 6, Lisboa, 1996, pp. 141-171 Sons de Abril: estilos musicais e movimentos de intervenção político-cultural na Revolução de 19741 MARIA DE SÃO ]OSÉ CORTE-REAL STE artigo consiste numa reflexão sobre o fenómeno «Sons Ede Abril», definindo-o numa perspectiva de relacionamento entre estilos musicais e movimentos de intervenção político• cultural associados à Revolução de 1974. Partindo de um corpus de música seleccionado de entre o vasto repertório designado correntemente por «música de intervenção» e «música popular portuguesa»/ foram consideradas três situações de relevância social, fortemente interligadas e concorrentes para a definição do fenómeno em estudo: o desenvolvimento político em Portugal sob o regime ditatorial marcadamente autoritário, a Guerra Colonial que mobilizou massivamente a geração da década de sessenta e a consequente fuga para o estrangeiro, nomeadamente para Paris, que tal como outros centros urbanos, albergou a juventude exilada de Portugal. Cada uma destas situações exerceu influências marcantes no desenvolvimento da cultura expressiva em geral e da música em particular em Portugal. A influência de compositores e intérpretes franceses, assim como o trabalho pontual de algumas editoras discográficas foram de importância capital no domínio da canção de intervenção em Portugal. Necessariamente, muitos compositores e intérpretes, assim como obras de relevo ficarão por citar. A inexistência de um estudo sistemático sobre esta matéria revela uma lacuna no conhecimento da cultura expressiva recente em Portugal. O texto original deste artigo foi apresentado numa conferência interactiva realizada na Fonoteca Municipal de Lisboa em 1995, integrada nas comemorações do 21.0 aniversário da Revolução de 1974. Ainda que adaptado ao novo suporte, a sua redução ao formato escrito acarreta necessariamente a amputação de um amplo leque de referências inerentes ao desempenho musical característico dos «Sons de Abril». -

Os Cinquenta Anos Do Festival Eurovisivo Português
Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, n.6, jul-dez 2014. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br Festival RTP da Canção: Os cinquenta anos do festival eurovisivo português José Fernando Saroba Monteiro1 [email protected] Resumo: Em 2014 o Festival RTP da Canção chega ao seu cinquentenário. Surgido para escolher uma canção portuguesa para concorrer no Festival Eurovisão da Canção, o festival português tornou-se uma plataforma para o descobrimento e reconhecimento de diversos artistas, além de apresentar canções que hoje são vistas como verdadeiras expressões da alma portuguesa. Mesmo Portugal nunca tendo vencido o Eurovisão, o Festival RTP da Canção continua a ser realizado como uma forma de celebração da música portuguesa e de erguer os ânimos da produção musical em nível nacional. Palavras-chave: Festival RTP da Canção; Festival Eurovisão da Canção; Música Portuguesa. Abstract: In 2014, the RTP Song Festival reaches its fiftieth anniversary. Arisen to choose a Portuguese song to compete in the Eurovision Song Contest, the Portuguese festival has become a platform for the discovery and recognition of several artists, as well as to present songs that are seen today as a true expression of the Portuguese soul. Although Portugal has never won the Eurovision, the RTP Song Festival continues to be held as a way to celebrate the Portuguese music and to raise the spirits of music production at national level. Keywords: RTP Song Festival; Eurovision Song Contest; Portuguese Music. Introdução Surgido em 1964 com a finalidade de escolher uma canção para representar Portugal no Festival Eurovisão2, o Festival RTP da Canção completa, em 2014, cinquenta anos. -

Mundo De Cantigas» Em Sines
MUNICÍPIO DE SINES SIDI NOTA À IMPRENSA Paulo de Carvalho apresenta «Mundo de Cantigas» em Sines O Centro de Artes de Sines recebe, no dia 13 de Fevereiro, às 22h00, o espectáculo "Paulo de Carvalho apresenta «Mundo de Cantigas»". Com 48 anos de carreira cumpridos em 2010, Paulo de Carvalho é uma das mais importantes figuras do panorama musical português. Dono de uma das melhores vozes do nosso país, a sua carreira começou, curiosamente, como baterista, no agrupamento Sheiks. No entanto, afirmou-se depressa como cantor, sendo especialmente marcante na primeira fase da sua carreira o tema “E Depois do Adeus”, com o qual ganhou o Festival RTP da Canção em 1974 e que se tornou uma das senhas da Revolução dos Cravos. Paulo de Carvalho sempre gostou de experimentar novos caminhos, aventurando-se nos mais diversos géneros musicais, desde o funk ao jazz, à música africana e ao fado. Em todos eles conseguiu criar marcos importantes na música portuguesa, como "A Casa da Praia", "Gostava de Vos Ver Aqui", "Nini dos Meus Quinze Anos", "Mãe Negra", "Os Meninos de Huambo", "O Fado", "O Cacilheiro", "Lisboa Menina e Moça", "Os Putos", "O Homem das Castanhas", entre muitos outros. Como autor e compositor, tem mais de 300 canções escritas. Carlos do Carmo, Simone de Oliveira, Sara Tavares, Martinho da Vila e Mariza são apenas alguns dos artistas que cantam canções suas. Como cidadão e músico tem colaborado na dignificação da sua profissão, participando em centenas de eventos de solidariedade, desde campanhas de angariação de fundos ou chamadas públicas de atenção - Timor, Moçambique, Angola, etc. -

FOLHAS DE SALA Célia
TÂNIA OLEIRO Nasceu em 1979, em Lisboa. Teve o Fado como berço, por condição, pois da infância recorda o fado cantado pela sua mãe. Continuamente solicitada, a sua voz é reconhecida como uma das melhores da atualidade. Tem sido convidada a cantar nas mais prestigiadas casas de fado e em diversas salas de espetáculos, em Portugal e em alguns países da Europa. Após catorze anos de carreira profissional e de intensa dedicação ao Fado, é chegado o momento de Tânia Oleiro registar em definitivo o seu talento e contributo num disco que pretende resumir a sua trajetória, experiência e identidade, representando simultaneamente a consolidação do seu trabalho. 26JUNHO DOMINGO MÚSICA © Pedro Correa da Silva FADOS DE TRADIÇÃO TÂNIA OLEIRO – Voz Pedimos que desliguem os telemóveis durante o espetáculo. VASCO MORAES – Voz Não é permitido tirar fotografias nem fazer gravações sonoras ou filmagens durante o espetáculo. Programa e elenco sujeitos a alteração sem aviso prévio. DINIS LAVOS – Guitarra portuguesa CARLOS MANUEL PROENÇA – Viola 16H00 / EDIFÍCIO COLEÇÃO MODERNA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – SALA POLIVALENTE Av. de Berna, 45 A gulbenkian.pt Duração: 1h00 1067-001 Lisboa FADOS DE TRADIÇÃO ANTÓNIO VASCO MORAES Nasceu em Lisboa, onde começou a cantar fado aos 18 anos, ainda como amador. Tem sido figura constante no mundo do fado há cerca de vinte anos. Quem frequenta as casas de fado, viu-o fazer parte dos elencos das mais importantes: Clube de Fado, Velho Páteo de Santana, Taverna do Embuçado, Mesa de Frades, Na tradição fadista uma mesma melodia pode cantar-se com etc. diferentes poemas. Entre as décadas de 1920 e 50 o Fado O protagonismo que foi ganhando, não só nas casas de fado como em muitas profissionaliza-se na nova rede das casas de Fado, e o repertório apresentações em Portugal e no estrangeiro, fê-lo experimentar o teatro musicado alarga-se pela colaboração intensa de novos compositores e novos e, com tal sucesso, que o levou a atuar em grandes salas, como o Grande poetas populares. -
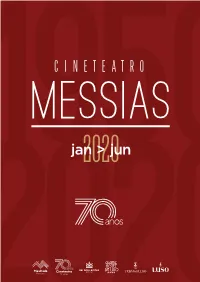
José Cid Com Mário Mata
CIN E T E A TRO MESSIAS jan2020> jun PROGRAMAÇÃO 17janeiro António Raminhos 18janeiro Espetáculo 70 anos CINETEATRO Cineteatro Messias MESSIAS 19janeiro Quero ir prá Ilha 8fevereiro The Black Mamba Foto: ©direitos reservados 22fevereiro Rui Massena 8marco José Cid Com Mário Mata 28marco O capuchinho vermelho 18abril Paulo de Carvalho 23maio Fernando Mendes (Insónia) 70ANOS CINETEATROMESSIAS Sentidas as dificuldades em encontrar na Mealhada um espaço onde pudessem ter lugar manifestações recreativas e culturais, dado o estado de degradação em que se encontrava o Teatro Mealhadense, foi a faceta de benemérito do comendador Messias Baptista que permitiu a construção de uma obra de tamanha grandeza. Tirando partido da sua influência e relacionamento com os melhores arquitetos que projetavam as grandes obras da época, o industrial mealhadense deixou o projeto a cargo do consagrado arquiteto Raul Rodrigues Lima, com larga experiência em edifícios desta natureza, de que são exemplo o Teatro Micaelense, o Teatro Avenida de Aveiro, o Império de Lagos e o emblemático Monumental de Lisboa. Inaugurado a 18 de janeiro de 1950 pelo então presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Dr. Manuel Louzada, juntamente com o Comendador Messias Baptista, este edifício é considerado por muitos como um exemplo fiel da corrente estética que interiorizava as políticas culturais do Estado Novo. Com uma capacidade inicial superior aos 500 lugares sentados (hoje, tem 368), o Cineteatro Messias dispunha ainda de um palco de boas dimensões para a atuação de companhias de teatro, de tela para projeção de cinema e ainda de salas e salões que permitiam a realização de diferentes eventos. Inúmeras e gratificantes são as memórias que tantos mealhadenses guardam dos tempos áureos deste Cineteatro, por onde passaram grandes companhias nacionais de teatro e de revista. -

Accommodation
Accommodation Alentejo Alandroal Herdade Naveterra Tourism in the Country / Rural Hotels Address: Herdade Nave Baixo 7250-053 São Brás dos Matos Alandroal Évora Telephone: +351 268 434 061 Fax: +351 268 434 063 E-mail: [email protected] Website: http://www.hotelnaveterra.com Évora Vitória Stone Hotel Hotel accommodation / Hotel / *** Address: Rua Diana de Liz, 5 7005-413 Évora Telephone: +351 266 707 174 Fax: +351 266 700 974 E-mail: lui.cabeç[email protected] Website: http://www.albergariavitoria.com Monforte Casa de Assumar Tourism in the Country Address: Rua 5 de Outubro nº 237450-017 Assumar Telephone: +351 245 508 033 / 933 249 863 Fax: +351 245 508 034 E-mail: [email protected] Website: http://www.casadeassumar.com Monsaraz Monte Saraz Tourism in a Manor House Address: Horta dos Revoredos, Barrada 7200-172 Monsaraz Telephone: +351 266 557 385 Fax: +351 266 557 485 E-mail: [email protected] Website: http://www.montesaraz.com 2013 Turismo de Portugal. All rights reserved. 1/73 [email protected] Odemira Pousada de Juventude de Almograve Youth Hostels Address: Rua do Chafariz - Almograve 7630-017 Odemira Telephone: +351 283 640 000 Fax: +351 283 647 035 E-mail: [email protected] Website: http://www.pousadasjuventude.pt Santiago do Cacém Herdade da Matinha - Country House Tourism in the Country / Country Houses Address: Herdade da Matinha7555-231 Cercal do Alentejo Telephone: +351 93 373 92 45 E-mail: [email protected] Website: http://www.herdadedamatinha.com/ Algarve Albufeira AP Adriana Beach -

Combate À Pobreza
DIRETOR - FRANCISCO MADELINO JORNAL BIMEStrAL 3.a SÉRIE • 1€ N.0 20• Nov-dez 2019 Combate à pobreza TL nov-dez 2019 3 4 8 10 14 16 18 22 Reportagem: Gala Viajando com livros Memórias Ciclo Mundos: Viagens: Ver | Ouvir Contos do Zambujal Social Inatel de Júlio Isidro Leyla McCalla Carnaval de Nice 6 9 12 Carnaval 20 23 Reportagem: Inatel A Casa na árvore Entrevista: de Vale Ílhavo Notícias | Coluna do Passatempos 55+.pt Inclusivo Edmundo Martinho Provedor ÍNDICE capa Editorial FRANCISCO MADELINO Presidente da fundação inatel Pobreza: ainda a grande Questão Social pobreza é uma das razões que mais justificou e justi- fica as políticas públicas e os programas e teorias po- usa Monteiro vive em Beja, lítico-sociais que lhes estão associadas, seja na lógica cidade onde nasceu. Estudou Realização Plástica da justiça, seja na igualdade de oportunidades. Os fi- do Espectáculo na Escola lhos dos pobres não partem em igualdade no acesso às Superior de Teatro e Cinema oportunidades que a vida e a sociedade lhes abrem. Os e cinema de animação no pobres, em regra, têm origem já pobre. Paralelamente, CITEN. Durante alguns Apara muitos, a pobreza não resultou sobretudo das consequên- Sanos trabalhou como figurinista, cias das suas decisões individuais perante a vida, mas é determi- caracterizadora e aderecista para o teatro nada por relações de poder no acesso aos bens e ao saber, assim ilustração e para o cinema. como pela lotaria da vida e da natureza. Susa Monteiro Em 2009, com a inauguração Justiça e igualdade de oportunidades, são assim temas que sur- da Bedeteca de Beja e do Festival gem associados inevitavelmente à pobreza. -

2018 | 2019 11 MAI PROGRAMAÇÃOSÁB|21.30H Cineteatro Municipal João Mota João Municipal Cineteatro
TEMPORADA 2018 | 2019 11 MAI PROGRAMAÇÃOSÁB|21.30h Cineteatro Municipal João Mota João Municipal Cineteatro culturalmúsica CINETEATROTEMPORADA 2018 MUNICIPAL JOÃO2 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2018/2019 MOTA PROGRAMAÇÃOdestaques cultural TEMPORADA 2018 CINETEATRO2019 Ficha Técnica Propriedade Design Gráfico Câmara Municipal de Sesimbra Rui Dias (Direção de Arte) Bruno Campos (UFCI) Diretor Francisco Jesus (presidente) Pré-impressão e impressão Gráfica, L.da MUNICIPALEdição, coordenação, paginação e revisão Tiragem Unidade Funcional de Comunicação 1000 exemplares e Informação (UFCI) e Cineteatro Municipal João Mota Distribuição gratuita JOÃO MOTAPROGRAMAÇÃO CULTURAL 2018/2019 33 Uma casa de portas abertas à cultura Cineteatro Municipal João Mota João Municipal Cineteatro e à comunidade FELÍCIA COSTA VEREADORA DO PELOURO DA CULTURA Em 2017, para assinalar uma década da e o cinema, assim como as oficinas para a abertura do Cineteatro Municipal João Mota, infância tiveram o seu espaço e o seu público. juntámos num cartaz comemorativo todos Aliás, a programação infantil foi sempre os nomes que durante 10 anos de atividade uma das prioridades desta sala, e as passaram por esta sala e por este palco. inúmeras atividades didáticas ligadas às Na extensa lista de mais de duzentos artes performativas juntaram e continuam espetáculos, que reproduzimos no final a juntar pais e filhos aos fins-de-semana desta revista, constam figuras consagradas, neste espaço. como Carlos do Carmo, Sérgio Godinho, Rui O mesmo acontece com o trabalho Veloso, Paulo de Carvalho, Jorge Palma, desenvolvido ao nível dos Serviços e José Mário Branco, Teresa Salgueiro, Projetos Educativos, com um conjunto Camané ou os Clã, ao lado de nomes que de oficinas de dança, teatro e música, eram, na altura, grandes promessas e que preparadas para complementar os vieram, depois, a afirmar-se no panorama da programas escolares, que têm tido enorme música nacional, como Deolinda, JP Simões, procura por parte dos professores. -

Butlletí De Novetats Discogràfiques Gener-Març
BUTLLETÍDE NOVETATS DISCOGRÀFIQUES GENER-MARÇ 2008 CJCMJPUFDB QÞCMJDBBMJDBOUF ÍNDICE 1 MÚSICA DE TRADICIONES NACIONALES. CANTAUTORES.....................................................................p.2-8 2 JAZZ..................................................................................p.9-14 3 ROCK, POP, MÚSICA LIGERA........................................p.15-29 4 MÚSICA CLÁSICA............................................................p.30-36 5 MÚSICA NEW AGE...........................................................p.37-38 6 MÚSICA FUNCIONAL. BANDAS SONORAS VARIAS....p.39-42 ÍNDICES..................................................................................p.43-46 PÁGINA 1 0 MÚSICA DE TRADICIONES NACIONALES. CANTAUTORES. PÁGINA 2 1 AL ANDALUZ PROJECT (GRUPO MUSICAL) Deus et Diabolus [Grabación sonora] / Al Andaluz Project. -- Madrid : Galileo, p 2007. -- 1 disco compacto (ca. 61 min.) : digital ; 12 cm + 1 folleto Letras de las canciones en el folleto Contiene: 1.Morena / Sefardí, trad. ; 2. A Virgen mui groriosa / Cantiga de Santa María ; 3. Nassam Alaina Lhawa / Árabo-andalusí, trad. ; 4. Pandero / M. Aranda / E. López ; 5. De Santa María / Cantiga de Santa María, 13th century ; 6. Chamsse Lachia / Nuba kudam al-maya ; 7. La galana y el mar / Sefardí, trad. ; 8. Gran dereit / Cantiga de Santa María ; 9. Atiny naya - Solo Iman / Árabo-andalusí, trad. ; 10. Lluna / E. López ; 11. Arracha Lfatan / Nuba garnati ; 12. Las suegras de ahora / Sefardí, trad. Int.: L`Ham de Foc ; Estampie 1. Música andalusí 2. Música sefardí I. L’Ham de Foc (Grupo musical) II. Título 001 ALA 1009926 ALI R.C.D. 5492 17€ Para los seguidores de L’Ham de Foc este trabajo constituye un paréntesis biográfico pero no sonoro y estético en los trabajos de la formación, con lo que a la vez también suma continuidad en el horizonte de sus componentes. Al•Andaluz Project es la colaboración musical de los valencianos con el grupo alemán Estampie, especializado en la interpretación de la música antigua centroeuropea. -

Apresentação Do Powerpoint
ANTÓNIO CALVÁRIO SIMONE DE OLIVEIRA MADALENA IGLÉSIAS EDUARDO NASCIMENTO CARLOS MENDES SÉRGIO BORGES TONICHA FERNANDO TORDO PAULO DE CARVALHO DUARTE MENDES CARLOS DO CARMO OS AMIGOS GEMINI MANUELA BRAVO JOSÉ CID CARLOS PAIÃO DOCE ARMANDO GAMA MARIA GUINOT ADELAIDE FERREIRA DORA DUO NEVADA DA VINCI NUCHA DULCE PONTES DINA ANABELA SARA TAVARES TÓ CRUZ LÚCIA MONIZ CÉLIA LAWSON ALMA LUSA RUI BANDEIRA LIANA MTM RITA GUERRA SOFIA VITÓRIA 2B NONSTOP SABRINA VÂNIA FERNANDES FLOR-DE-LIS FILIPA AZEVEDO HOMENS DA LUTA FILIPA SOUSA SUZY LEONOR ANDRADE SALVADOR SOBRAL CLÁUDIA PASCOAL ANTÓNIO CALVÁRIO SIMONE DE OLIVEIRA MADALENA IGLÉSIAS EDUARDO NASCIMENTO CARLOS MENDES SÉRGIO BORGES TONICHA FERNANDO TORDO PAULO DE CARVALHO DUARTE MENDES CARLOS DO CARMO OS AMIGOS GEMINI MANUELA BRAVO JOSÉ CID CARLOS PAIÃO DOCE ARMANDO GAMA MARIA GUINOT ADELAIDE FERREIRA DORA DUO NEVADA DA VINCI NUCHA DULCE PONTES DINA ANABELA SARA TAVARES TÓ CRUZ LÚCIA MONIZ CÉLIA LAWSON ALMA LUSA RUI BANDEIRA LIANA MTM RITA GUERRA SOFIA VITÓRIA 2B NONSTOP SABRINA VÂNIA FERNANDES FLOR- DE-LIS FILIPA AZEVEDO HOMENS DA LUTA FILIPA SOUSA SUZY LEONOR ANDRADE SALVADOR SOBRAL CLÁUDIA PASCOAL ANTÓNIO CALVÁRIO SIMONE DE OLIVEIRA MADALENA IGLÉSIAS EDUARDO NASCIMENTO CARLOS MENDES SÉRGIO BORGES TONICHA FERNANDO TORDO PAULO DE CARVALHO DUARTE MENDES CARLOS DO CARMO OS AMIGOS GEMINI MANUELA BRAVO JOSÉ CID CARLOS PAIÃO DOCE ARMANDO GAMA MARIA GUINOT ADELAIDE FERREIRA DORA DUO NEVADA DA VINCI NUCHA DULCE PONTES DINA ANABELA SARA TAVARES TÓ CRUZ LÚCIA MONIZ CÉLIA LAWSON ALMA LUSA RUI BANDEIRA LIANA -

Carlos Do Carmo Canta No Fes- Tival Do Fado Em Guimarães
Pé Descalço Pé Da Suécia a Portugal sem um tostão! A envolvente História da viagem de Ricardo Frade que agora virou livro. Virar DaSquina ao Fim do“Até Mundo” foi apresentado em dezembro, e é o nome do Primeiro Banda nova Vimaranense. da álbum Quinta do Pinhô Nesta edição, damos a conhecer um espaço edílico, a Quinta do Pinhô situada em Candoso S.Tiago. Local de “Genuína e Encantadora Tranquilidade”. Carlos do Carmo “Guimarães pode contar comigo quando quiser, é só chamar-me que eu vou”. Em entrevista exclusiva à Mais Guimarães, o fadista fala da sua vida, da sua carreira, e de como a Cidade Berço o continua a deslumbrar. P27 N21 · janeiro 2015 · Distribuição Gratuita · Diretor Eliseu Sampaio Editorial Eliseu Sampaio Diretor da Mais Guimarães Je Suis Charlie Ano em Revista Qual o limite da sua tolerância? A Mais Guimarães mostra o que de Os acontecimentos em França, no país A saudável convivência multicultural é o bom e mau aconteceu em Guimarães, 20 da “Liberté, Egalité, Fraternité”, lema muro que ainda nos falta ultrapassar. Por- no país e também no mundo utilizado durante Revolução Francesa, que ainda há “Um Nós” e “um eles”. Mas até durante o ano que findou. motivaram uma onda de revolta mun- onde estamos nós também dispostos a ir? dial, contra o bárbaro assalto à “nossa Efemeridário liberdade” e à liberdade de expressão. Que cidade se seguirá no mapa desta luta Vimaranense desenfreada, após Londres, Madrid e Paris… 2015 Será um ano para assinalar em “Liberdade, igualdade, fraternidade”, Guimarães efemérides de todos os 24 o slogan sobreviveu à revolução, dificil- O conceito de sociedade que conhecemos, sobre- géneros e feitios.