No Espaço Urbano De Ipatinga
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
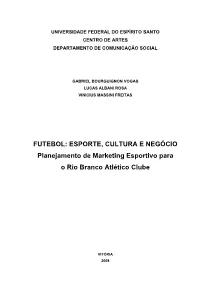
FUTEBOL: ESPORTE, CULTURA E NEGÓCIO Planejamento De Marketing Esportivo Para O Rio Branco Atlético Clube
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE ARTES DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL GABRIEL BOURGUIGNON VOGAS LUCAS ALBANI ROSA VINICIUS MASSINI FREITAS FUTEBOL: ESPORTE, CULTURA E NEGÓCIO Planejamento de Marketing Esportivo para o Rio Branco Atlético Clube VITÓRIA 2008 GABRIEL BOURGUIGNON VOGAS LUCAS ALBANI ROSA VINICIUS MASSINI FREITAS FUTEBOL: ESPORTE, CULTURA E NEGÓCIO Planejamento de Marketing Esportivo para o Rio Branco Atlético Clube Monografia apresentada à Banca Examinadora da Universidade Federal do Espírito Santo, como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, habilitação Publicidade e Propaganda, sob a orientação do Prof. Dr. Alexandre Curtiss. VITÓRIA 2008 COMISSÃO EXAMINADORA _______________________________________ Prof. Dr. Alexandre Curtiss Orientador ______________________________________ Prof. Fábio Gouvea ______________________________________ Prof. Ismael Thompson Vitória, ______de__________________de ______. AGRADECIMENTO Gostaria de agradecer a minha família, que muito contribuiu para minha formação, tanto pessoal, quanto futebolística. Aproveito para perdoar meu pai tricolor pelo pecado de ter deixado todos seus filhos torcerem pelo seu maior rival, o Flamengo. Agradeço aos meus amigos, em especial àqueles que foram meus colegas de peladas. Agradeço à seleção da família Vogas, campeã invicta do 1° torneio do sítio do meu tio: aquilo sim era time. Agradeço ao Sinucom, clube do qual me orgulho de poder vestir a camisa nas quadras universitárias. Agradeço aos grandes craques pelas jogadas maravilhosas que pude ser testemunha, e aos grandes autores dos livros de futebol que tive a obrigação e o privilégio de ler para este trabalho. Agradeço aos meus colegas de monografia, não só por terem embarcado nessa idéia, como por serem dois dos maiores jogadores com quem tive o prazer de jogar. -

Ordinária - CD
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA REVISÃO E REDAÇÃO SESSÃO: 071.3.52.O DATA: 20/04/05 TURNO: Vespertino TIPO DA SESSÃO: Ordinária - CD LOCAL: Plenário Principal - CD INÍCIO: 14h TÉRMINO: 20h09min DISCURSOS RETIRADOS PELO ORADOR PARA REVISÃO Hora Fase Orador 14:18 PE ÁLVARO DIAS 14:30 PE LUIZ BASSUMA 17:00 GE ANTONIO CARLOS MENDES THAME Obs.: CÂMARA DOS DEPUTADOS Ata da 071ª Sessão, em 20 de abril de 2005 Presidência dos Srs. ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA OS SRS.: Severino Cavalcanti José Thomaz Nonô Ciro Nogueira Inocêncio Oliveira Nilton Capixaba Eduardo Gomes João Caldas Givaldo Carimbão Jorge Alberto Geraldo Resende Mário Heringer CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL Número Sessão: 071.3.52.O Tipo: Ordinária - CD Data: 20/4/2005 Montagem: 4176/4171 I - ABERTURA DA SESSÃO O SR. PRESIDENTE (Inocêncio -

DIRPA Notificação - Fase Nacional - PCT Publicação De Pedidos De Patente E De Certificado De Adição De Invenção
PATENTES, DESENHOS INDUSTRIAIS, CONTRATOS, PROGRAMAS DE COMPUTADOR, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS o REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL N 1951 27 de Maio de 2008 SEÇÃO I REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Presidente Luís Inácio Lula da Silva MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Miguel João Jorge Filho INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PRESIDENTE PARANÁ Jorge de Paula Costa Ávila Chefe: Renee Fernando Senger Pernambuco Rua Marechal Deodoro, 344, 16º andar Universitária Federal de Pernambuco - UFPE VICE-PRESIDENTE Ademir Tardelli Edifício Atalaia, Centro, Curitiba - PR Av. Prof. Moraes Rego, 1235 – Campus Universitário CEP: 80010-909 Bairro - Engenho do Meio CHEFE DE GABINETE Telefone/Fax: (0XX-41) 3322-4411 Recife - PE - CEP: 50670-920 Josefina Sales de Oliveira RIO GRANDE DO SUL Tel/Fax:(0XX-81) 3453-8145 e 3271-1223 Chefe: Vera Lúcia de Seixas Grimberg Piauí DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA Rua Sete de Setembro, 515 – 5º andar - Centro Av. João XXIII, n° 865 Marco Antônio Lima Porto Alegre - RS - CEP: 90010-190 Espaço Cidadania Telefone/Fax.: (0XX-51) 3226-6909 e 3226-6422 Teresina - PI - CEP: 64049-010 PROCURADORIA GERAL SÃO PAULO Tel.:(0XX-86) 3235-9616/3218-1838 Mauro Sodré Maia Chefe: Maria dos Anjos Marques Buso Fax:(0XX-86) 3218-1838 DIRETORIA DE PATENTES Rua Tabapuã, 41 - 4º andar - Itaim-Bibi Rio Grande do Norte Carlos Pazos Rodrigues São Paulo - SP - CEP: 04533-010 SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – DIRETORIA DE MARCAS Telefone/Fax: -

Carta Do Movimento Nacional Dos Clubes Profissionais De Futebol
Carta do Movimento Nacional dos Clubes Profissionais de Futebol À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF CC: FEDERAÇÕES ESTADUAIS, FIFA Reportamo-nos à correspondência anteriormente enviada a essa entidade pelo movimento dos clubes de futebol profissional do país, por intermédio da qual, considerando o momento de pandemia por que passa a sociedade e a paralisação dos campeonatos estaduais, foi pedida contribuição financeira para os clubes e isenção de taxas. Congratulamo-nos com a sensibilidade da Presidência da CBF, que prontamente acolheu a pretensão do nosso movimento de isenção de taxas, assim como veio, já agora, a promover a liberação de recursos para ajuda aos clubes que participam das Séries C e D, assim como as Séries A1 e A2 do Campeonato Feminino de futebol, demonstrando sensatez e espírito de colaboração. Reafirmamos também a importância de continuidade dos campeonatos estaduais, inclusive por serem competições que geram o direito a vagas para a Série D e Copa do Brasil, ressaltando que investimentos expressivos já foram feitos pelos clubes que os disputam, clubes esses atingidos pelos efeitos da pandemia tanto quanto os que disputam as Séries nacionais do campeonato brasileiro. Há ainda razões de ordem jurídica que recomendam a continuidade dos certames estaduais, pois a eventual paralisação poderia ensejar mandados de garantia e procedimentos judiciais outros, o que geraria insegurança jurídica e forte possibilidade de afetar a formação e realização das futuras competições nacionais patrocinadas diretamente pela CBF. Fato é que os clubes que disputam os campeonatos estaduais, não integrantes das Séries nacionais, permanecem com suas necessidades de manter os contratos e os milhares de empregos que geram por todo o País, igualmente necessitando da assistência e atendimento de auxílio emergencial financeiro por parte da CBF. -

Edital De Eliminação 14ª Cível
14ª Vara Cível de Brasília PROCESSO Parte 1 Parte 2 20000110619164 ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA IOLANDA FAGUNDES DA COSTA CONDOMINIO DO BLOCO P DA QI 06 GUARA I 20060110923022 LINDAURA FALQUETO BRASILIA DF 4484896 MANUEL ADAUTO DE OLIVEIRA CCO EMPREENDIMENTOS 20030110877670 CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA MOZART DO CARMO NASCIMENTO 4718395 CONDOMINIO DOS BLOCOS B E C DA SQS 215 ANTONIO JOAQUIM RAMOS FILHO CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS 20060111081309 MARCIO RODRIGUES BRAGANCA AGUAS 20070110142695 JOSE BOTELHO FILHO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER 20040111268762 CONDOMINIO DO EDIFICIO GOIAS MARIA AUREA DE ASSUNCAO MAGALHAES CONDOMINIO DO CONDOMINIO GLENIO 20010110973500 ANAHY MARIA MERENGO DE PADUA BIANCHETTI 20010110474130 CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO SEBASTIAO FLORENTINO DA SILVA 20030110236509 BANCO SANTANDER BRASIL SA ERNANI CARVALHO DA ROCHA SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO 20010110608350 DAVID FRANKLIN SERAFIM DA MOTA MERCANTIL SA 19980110157199 BANCO BMG SA EUMA DAS DORES N FERNANDES 19980110050894 BANCO ITAU SA MANOEL SESISMUNDO GUDERGUES VIEIRA SAGA SERV DE ANEST E GASEOTERAPIA 1047497 MARIZETE MACHADO DA SILVA DE MATOS LTDA FINAUSTRIA COMP CREDITO FINANCIAMENTO 20010110753768 MARCLI FIRPO BITTENCURT E INVESTIMENTO 20040111007588 CARLOS KRATKA BANCO ABN AMRO REAL SA 4657997 CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORREIA RIBEIRO 20070110165367 ROSALIA DE FATIMA F DE SOUSA HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO 20020110452364 CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS CLARAS I ANTONIO GEBRIM DUTRA 20020110646059 -

UNIPAC IPATINGA Relatório De Convênios
UNIPAC IPATINGA Relatório de Convênios Nome: HEMOMINAS Razão Social: HEMOMINAS CPF/CNPJ: 26.388.330/0001-90 Início: 12/01/2007 Fim: 12/01/2012 Representante: JUNIA GUIMARAES MOURÃO CIOFFI Telefone 1: Telefone 2: Telefone 3: Fax: Celular: E-mail: Nome: TRIP LINHAS AEREAS Razão Social: TRIP LINHAS AEREAS CPF/CNPJ: 02.428.624/0012-92 Início: 29/09/2009 Fim: 29/09/2012 Representante: TELMA ANEMO DE CARVALHO Telefone 1: Telefone 2: Telefone 3: Fax: Celular: E-mail: Nome: USIMINAS MECÂNICA Razão Social: USIMINAS MECÂNICA CPF/CNPJ: 17.500.224/0001-65 Início: 27/01/2009 Fim: 27/01/2014 Representante: ELSON ARAÚJO Telefone 1: (31) 3829 3636 Telefone 2: Telefone 3: Fax: Celular: E-mail: Nome: PETER HENRY ROLFS Razão Social: PETER HENRY ROLFS CPF/CNPJ: 25.944.455/0001-96 Início: 06/07/2009 Fim: 06/07/2014 Representante: GEORGE HENRIQUE KLING Telefone 1: 3.138.992.753 Telefone 2: Telefone 3: Fax: Celular: E-mail: Total de registros: 2008 06 de novembro de 2018 Pagina 1 de 502 UNIPAC IPATINGA Relatório de Convênios Nome: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS - PODER JUDICIÁRIO Razão Social: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS - PODER JUDICIÁRIO CPF/CNPJ: 05.452.786/0001-00 Início: 21/09/2009 Fim: 21/09/2014 Representante: DR. MOISES LAERT PINTO NETO Telefone 1: Telefone 2: Telefone 3: Fax: Celular: E-mail: Nome: INSTITUTO CENIBRA Razão Social: INSTITUTO CENIBRA CPF/CNPJ: 05.522.474/0001-17 Início: 12/04/2012 Fim: 01/04/2015 Representante: PAULO EDUARDO ROCHA BRANT Telefone 1: Telefone 2: Telefone 3: Fax: Celular: E-mail: Nome: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. -

Movimento Internacional De Jogadores Brasileiros - Análise Das Exportações De Jogadores De Futebol No Período 2003-2008
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE ECONOMIA MONOGRAFIA DE BACHARELADO Movimento Internacional de jogadores brasileiros - Análise das Exportações de jogadores de futebol no período 2003-2008 Rafael de Oliveira Gomes Rodrigues [email protected] Matrícula nº.: 106023405 Orientador: Fábio Sá Earp [email protected] Fevereiro 2010 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE ECONOMIA MONOGRAFIA DE BACHARELADO Movimento Internacional de jogadores brasileiros - Análise das Exportações de jogadores de futebol no período 2003-2008 __________________________________________ Rafael de Oliveira Gomes Rodrigues [email protected] Matrícula nº.: 106023405 Orientador: Fábio Sá Earp [email protected] Fevereiro 2010 3 As opiniões expressas neste trabalho são de exclusiva responsabilidade do autor. 4 RESUMO O trabalho tem como objetivo analisar as exportações de jogadores de futebol pelos clubes brasileiros no período de 2003 a 2008, período este em que foi adotada a nova fórmula de disputa do campeonato nacional, por pontos corridos conforme utilizado na Europa, e após a adoção da Lei Pelé, em 2001, influenciada pelo decreto Bosman aprovado na Europa em 1995. Para este propósito foram analisados os dados disponibilizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os valores provenientes da exportação de atletas profissionais divulgados no Balanço de Pagamentos do Banco Central do Brasil. 5 ÍNDICE INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................................6 -

Regulamento Específico Da Competição Campeonatomineiro 2020 .Feminino Mineiro Feminino Capítulo I Denominação E Participação
REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COMPETIÇÃO DA ESPECÍFICO REGULAMENTO CAMPEONATO MINEIRO 2020 . FEMININO . 2020 MINEIRO CAMPEONATO MINEIRO FEMININO CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO Art. 1º - O Campeonato Mineiro 2020 – Feminino, doravante denominado Campeonato, é regido por este Regulamento Específico da Competição (REC), no qual constam todas as regras próprias ao Campeonato, e pelo Regulamento Geral das Competições (RGC), no qual constam todas as regras comuns a todos os torneios coordenados pela Federação Mineira de Futebol (FMF). Parágrafo único - Em caráter subsidiário, o REC se submete também ao Regulamento Geral das Competições da Confederação Brasileira de Futebol (RGC/CBF – 2020), ao Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF/CBF – 2020) e a todas as outras normativas nacionais pertinentes. Art. 2º - Participarão do Campeonato: AMÉRICA FUTEBOL CLUBE CLUBE ATLÉTICO MINEIRO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE IPATINGA FUTEBOL CLUBE Art. 3º - O Campeonato será disputado conforme decidido no Conselho Técnico realizado em 20.10.2020. Parágrafo único - Considera-se esta data como a de início do Campeonato. Art. 4º - A FMF, como coordenadora do Campeonato, detém todos os seus direitos, especialmente o de elaborar e dar cumprimento à tabela de jogos e ao REC, além de promover pontuais alterações em prol da competição. Parágrafo único - A Diretoria de Competições (DCO) da FMF é o órgão gestor técnico do Campeonato. CAPÍTULO II SISTEMA DE DISPUTA Art. 5º - O Campeonato, que terá início e término de jogos previstos, respectivamente, para os dias 14.11.2020 e 19.12.2020, será disputado em 02 (duas) fases, quais sejam: 1ª Fase e Final. § 1º - As datas de início e término poderão ser alteradas, excepcionalmente, a critério da DCO. -

Relatório Domínio
Empresa: AMERICA FUTEBOL CLUBE Folha: 0001 C.N.P.J.: 17.297.516/0001-42 Emissão: 05/07/2021 Período: 01/01/2021 - 31/03/2021 Hora: 16:27:52 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 217.969.063,29D 38.513.609,97 31.243.290,63 225.239.382,63D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 11.662.137,03D 35.130.963,04 28.185.463,55 18.607.636,52D 3 1.1.1 DISPONÍVEL 983.871,73D 28.274.365,86 25.336.505,76 3.921.731,83D 4 1.1.1.01 CAIXA 66.628,25D 1.269.300,16 1.314.771,07 21.157,34D 6 1.1.1.01.002 CAIXA GERAL AFC 66.628,25D 1.269.300,16 1.314.771,07 21.157,34D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 461.826,11D 27.005.065,70 24.021.734,69 3.445.157,12D 8 1.1.1.02.001 BANCO BRADESCO AG 0464 C/C 567.751-3 1,00D 0,00 0,00 1,00D 527 1.1.1.02.005 BCO BMG 0,03D 0,00 0,03 0,00 528 1.1.1.02.006 BANCO DO BRASIL AG 1222 C/C 45039-1 8.000,02D 137.567,62 145.567,64 0,00 533 1.1.1.02.011 BANCO BRADESCO VINCULADO AG 0465 C/C 409583-9 1.686,42D 0,00 1.686,42 0,00 534 1.1.1.02.012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1667 C/C 3386-8 235,32D 0,00 7,20 228,12D 535 1.1.1.02.013 CONTA CORRENTE TRANSITORIA 14.292,09D 14.000,00 0,00 28.292,09D 708 1.1.1.02.015 BANCO SEMEAR 1.002.913-3 VINCULADA 0,00 1.890.629,47 1.872.518,44 18.111,03D 709 1.1.1.02.016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2381 CONTA 3269-0 70,33D 207.449,23 207.519,56 0,00 710 1.1.1.02.017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2381 CONTA 3268-1 14.205,58D 167.198,46 175.667,99 5.736,05D 726 1.1.1.02.020 BANCO DO BRASIL AG 1222 C/C 58.044-9 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 733 1.1.1.02.022 CONTA CARTAO -

Dissertação Digital
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - UNIARA 2016 IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURA CLÍNICA PARA A PREPARAÇÃO DE ATLETAS DE CLUBES DE FUTEBOL PAULISTAS JULIO CESAR DIAS JUNIOR ARARAQUARA 2016 XXXX!1 PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - UNIARA/ 2016 IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURA CLÍNICA PARA A PREPARAÇÃO DE ATLETAS DE CLUBES DE FUTEBOL PAULISTAS Dissertação apresentada como exigência para obtenção do grau de Mestrado em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente - Centro Universitário de Araraquara - UNIARA. Orientando: Julio Cesar Dias Junior Orientadora: Prof ª. Dra. Maria Lúcia Ribeiro. ARARAQUARA 2016 XXXX!2 FICHA CATALOGRÁFICA D532i Dias Junior, Julio Cesar Importância da estrutura clínica para a preparação de atletas para clubes de futebol paulista/Julio Cesar Dias Junior. – Araraquara: Centro Universitário de Araraquara, 2016. 141f. Dissertação (Mestrado)- Centro Universitário de Araraquara Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente Orientador: Profa. Dra. Maria Lúcia Ribeiro 1. Futebol. 2. Lesões. 3. Preparação de atletas. 4. Impactos sociais. I.Título. CDU 504.03 XXXX!3 XXXX!4 “Por maior que seja a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar…" (Chico Xavier) “Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nenhuma idéia vale uma vida…” (Titãs) XXXX!5 Agradecimentos À minha Orientadora e Amiga Maria Lúcia Ribeiro a qual topou essa aventura de pesquisa e hoje podemos dizer com todas as palavras que conseguimos atingir nossos objetivos pesquisados. Ao meu Amigo Particular e Co-Orientador, Guilherme Rossi Gorni responsável por iniciar e estar concluindo este mestrado, especialmente no tratamento dos dados. -
Requerimento Nº , De 2015 Justificação
REQUERIMENTO Nº , DE 2015 SF/15617.30681-27 Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado, informações ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre a composição das dívidas tributárias e de multas dos clubes de futebol, listados em anexo, e, nos termos do art. 217 do Regimento, requeiro a remessa de cópia de todos os documentos e processos que envolvem a referida dívida. O presente requerimento abrange, inclusive, a indicação justificada e documentada da situação fiscal dos clubes – se regular ou irregular, perante o fisco federal. Saliento que somente estão excluídos do pedido acima as informações e os documentos que, em conformidade com os estritos preceitos legais, estão acobertados pelo sigilo fiscal, casos em que devem ser encaminhados os dados cadastrais dos respectivos processos com as razões legais para a manutenção de seu sigilo. Requeiro, por fim, que sejam informados e documentados todos os benefícios fiscais e creditícios que têm sido concedidos às empresas componentes das entidades de prática desportiva listadas, indicando, inclusive, se há amparo legal à concessão de benefícios a quem esteja na situação fiscal em que elas se encontram. JUSTIFICAÇÃO No momento em que chega ao Parlamento a Medida Provisória nº 671, de 19 de março de 2015, que institui o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das entidades desportivas profissionais, e dá outras providências, não se há dados precisos sobre os valores das dívidas das entidades a serem beneficiadas. -
Carta Dos Clubes Da 1º Divisão Dos Estaduais Do Brasil
CARTA DOS CLUBES DA 1º DIVISÃO DOS ESTADUAIS DO BRASIL Ao presidente da CBF - Confederação Brasileira de Futebol Senhor – Rogério Caboclo. Em conferência virtual realizada nos dias, 29, 30 e 31 de março de 2020, nós presidentes dos clubes abaixo relacionados pactuamos: É público e notório, senhor presidente, que a crise sanitária pela qual passa o Brasil em face da pandemia do Coronavírus é gravíssima, com agudas consequências para todos os segmentos da sociedade, entre estes o futebol profissional; Considerando que os clubes brasileiros têm, antes mesmo das medidas governamentais, sendo parceiros na prevenção e combate ao coronavírus, e consequentemente na preservação da vida e assim permanecerão, adotando medidas baseadas na ciência e seguindo orientação de profissionais de saúde, autoridades governamentais, sanitárias e das entidades de administração do desporto; Considerando que os clubes signatários desta carta, que disputam os campeonatos estaduais, todos com atividades paralisadas, são responsáveis por mais de 17,5 mil (dezessete mil e quinhentos) postos de trabalho diretos no país; e Considerando, por fim, que em razão da paralisação, todos os signatários deixaram de perceber a maior parte de suas receitas decorrentes de rendas de bilheterias e até de patrocinadores, inviabilizando a atividade dos clubes; Por estas razões, viemos através desta, requerer o vosso apoio junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) conforme reivindicações abaixo: 1 Que seja concedido um aporte financeiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no valor de R$ 75 mil (setenta e cinco mil reais) mensais, pelo período de no mínimo três meses, para atender a situação de emergência alimentar pela qual passam nossos atletas, CTs, funcionários, comissão técnica e seus familiares, como também fazer face às despesas atinentes aos contratos em vigência, evitando que não venhamos declarar falência e encerrar as atividades em consequência de causas trabalhistas, já que atualmente resta inviabilizado o pagamento dos ATLETAS E FUNCIONÁRIOS.