Rasa E Saundarya: Modernidade E a Estética Da Dualidade1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Twenty-Third International Congress of Vedanta August 10-13, 2017
Twenty - Third International Congress of Vedanta August 10 - 13, 2017 On August 10 - 13, 2017 the Twenty - Third International Congress of Vedanta was hosted by T he Center for Indic Studies, University of Massachusetts, Dartmouth, USA in collaboration with the Institute of Advanced Sciences, Dartmouth, USA . The inauguration session started in the morning of first day with Vedic c hanting performed by Swami Yogatmananda, Vedanta Society of Providence, and Swami Atmajnanananda, Vedanta Center of Greater Washington , DC . Welcome address and i ntroduction presented by Conference Director Prof. Sukalyan Sengupta, University of Massachusetts , Dartmouth. Founding Director, Vedanta Congress Prof. S.S. Ramarao Pappu was felicitated in this session. Conference started with an inaugural l ecture by Mr. Rajeev Srinivasan on “ Leveraging the Grand Dharmic Narrative for Soft Power ”. Dr. Alex Hankey, SVYASA Bangalore and Dr. Makarand Paranjape, Jawaharlal Nehru University, New D elhi were the keynote speakers during this inaugural session . They deliver ed their talk s on “ Synthesizing Vedic and Modern Theories to Explain Cognition of Forms ” and “ Vedanta and Aesthetics ” , respectively. This session was concluded under the chairmanship of Prof. Raghwendra P . Singh, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. Inaugural Session, 23 rd International Vedanta Congress The Vedanta Congress continues its tradition of bringing scholars of Indic traditions from India and the West together on a platform nearly from three decades. Delegates from various -
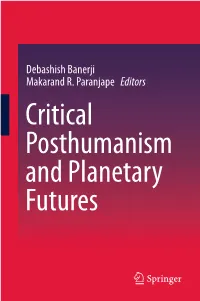
Debashish Banerji Makarand R. Paranjape Editors Critical Posthumanism and Planetary Futures Critical Posthumanism and Planetary Futures Debashish Banerji • Makarand R
Debashish Banerji Makarand R. Paranjape Editors Critical Posthumanism and Planetary Futures Critical Posthumanism and Planetary Futures Debashish Banerji • Makarand R. Paranjape Editors Critical Posthumanism and Planetary Futures 123 Editors Debashish Banerji Makarand R. Paranjape California Institute of Integral Studies Jawaharlal Nehru University San Francisco, CA New Delhi USA India ISBN 978-81-322-3635-1 ISBN 978-81-322-3637-5 (eBook) DOI 10.1007/978-81-322-3637-5 Library of Congress Control Number: 2016947189 © Springer India 2016 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. Printed on acid-free paper This Springer imprint is published by Springer Nature The registered company is Springer (India) Pvt. -
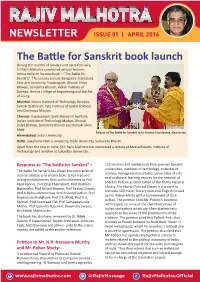
The Battle for Sanskrit Book Launch
NEWSLETTER ISSUE 01 | APRIL 2016 The Battle for Sanskrit book launch During the months of January and early February, Sri Rajiv Malhotra conducted various lectures across India on his new book – “The Battle for Sanskrit”. The venues include Bangalore: Karnataka Samskrit University, Yuvabrigade, Bharati Vidya Bhavan, Samskrita Bharati, Indian Institute of Science, Amrita College of Engineering and the Art of Living. Mumbai: Indian Institute of Technology Bombay, Samskrita Bharati, Tata Institute of Social Sciences and Chinmaya Mission. Chennai: Kuppuswami Sastri Research Institute, Indian Institute of Technology Madras, Bharati Vidya Bhavan, Samskrita Bharati and Ramakrishna Mutt. Release of The Battle for Sanskrit at Sri Krishna Vrundavana, New Jersey Ahmedabad: Indus University. Delhi: Jawaharlal Nehru University, Delhi University, Samskrita Bharati. Apart from the tour in India, Shri Rajiv Malhotra has conducted a lecture at Massachusetts Institute of Technology and another at Columbia University. Response to “The Battle for Sanskrit”:- 132 scholars and intellectuals from premier Sanskrit universities, institutes of technology, institutes of The Battle for Sanskrit has drawn the admiration of science, management institutes, universities of arts several scholars and intellectuals. It has received and traditional learning centres for the removal of strong endorsements from such luminaries as Prof Sheldon Pollock as Chief Editor of the Murty Classical Kapil Kapoor, Prof Dilip Chakrabarti, Prof Roddam Library. The Murty Classical Library is a project to Narasimha, Prof Arvind Sharma, Prof Pankaj Chande, translate 500 Indian literary texts into English funded Prof K Ramasubramanian, Prof R Vaidyanathan, Prof by Mr. Rohan Murty with a commitment of $5.6 Dayananda Bharghava, Prof S.R. Bhatt, Prof K.S. -

The Case for Sanskrit As India's National Language by Makarand
The Case for Sanskrit as India’s National Language By Makarand Paranjape August 2012 This paper discusses in depth the role and the potential of Sanskrit in India’s cultural and national landscape. Reproduced with the author’s permission, it has been published in Sanskrit and Other Indian Languages , ed. Shashiprabha Kumar (New Delhi: D. K. Printworld, 2007), pp. 173- 200. “Sanskrit is the thread on which the pearls of the necklace of Indian culture are strung; break the thread and all the pearls will be scattered, even lost forever.” Dr. Lokesh Chandra Introduction I had first heard from my friends in the Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, that the Mother wanted Sanskrit to be made the national language of India. Indeed, Sanskrit is taught from childhood not only in the ashram schools, but also at Auroville, the comm unity that the Mother founded. On 11th November 1967, the Mother said: “ Sanskrit! Everyone should learn that. Especially everyone who works here should learn that….” 1 Because some degree of confusion persisted over the Mother’s and Sri Aurobindo’s views on the topic, a more direct question was put to the former on 4 October 1971: On certain issues where You and Sri Aurobindo have given direct answers, we [Sri Aurobindo's Action] are also specific, as for instance... on the language issue where You have said for the country that (1) the regional language should be the medium of instruction, (2) Sanskrit should be the national language, and (3) English should be the international language. Are we correct in giving these replies to such questions? Yes. -

Professor Makarand Paranjape Currently Holds the ICCR Chair in Indian Studies, South Asian Studies Programme, National University of Singapore
The Center for the Study of Hindu Traditions, University of Florida presents The Relevance of Gandhi to Environmental Studies by Professor Makarand Paranjape Professor Makarand Paranjape currently holds the ICCR Chair in Indian Studies, South Asian Studies Programme, National University of Singapore. He is also Professor of English, Centre for English Studies, School of Language, Literature, and Culture Studies at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He received his M.A. and Ph.D. in English from the University of Illinois at Urbana-Champaign. Professor Paranjape has held a number of fellowships in several universities; he was previously the Homi Bhabha Fellow for Literature in India; Shastri Indo-Candian Research Fellow, University of Calgary; IFUSS Fellow, University of Iowa; Mellon Fellow, Harry Ransom Humanities Research Center, University of Texas at Austin; and Shivdasani Visiting Fellow, Oxford Centre for Hindu Studies, University of Oxford. He has also been a Visiting Professor at the Universitat Autonoma de Barcelona and the Universitat des Sarlandes. Professor Paranjape will also be leading a class discussion on Hindu Traditions in Singapore (April 11, 2:30 pm, Room 117, Anderson Hall) Professor Paranjape is the author or editor of several books including Decolonization and Development: Hind Svaraj Revisioned (1993); Nativism: Essays in Literary Criticism (Sahitya Akademi, 1997); In Diaspora: Theories, Histories, Texts, Editor (2001); Sacred Australia: post-secular considerations (2009); Altered Destinations: Self, Society, and Nation in India (Perth: University of Western Australia Press, 2010); Bollywood in Australia: Transnationalism and Cultural Production (Perth: University of Western Australia Press, 2010); as well as the author of several volumes of poetry and fiction.. -

Raja Rao and the Politics of Truth
Lingue e Linguaggi Lingue Linguaggi 13 (2015), 227- ISSN 2239-0367, e-ISSN 2239-0359 DOI 10.1285/i22390359v13p227 http://siba-ese.unisalento.it, © 2015 Università del Salento FROM INDIANNESS TO HUMANNESS: RAJA RAO AND THE POLITICS OF TRUTH STEFANO MERCANTI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Abstract – Raja Rao is not merely a metaphysical writer, as many scholars of the first Commonwealth generation depict him as being, but rather a much more complex one whose literary dimensions transcend the commonplace essentializing ‘Hinduness’ projected by many critics over three decades. I thus suggest instead an amplification of Rao’s idea of India by framing his novels in a cross-cultural space which evolves during the course of his entire oeuvre on both philosophical and political levels. This dynamic ambivalence has its foremost predecessor in Mahatma Gandhi’s politico-spiritual legacy, Satyagraha (‘the force of Truth’) which becomes the centripetal and cohesive force of Raja Rao’s fiction. Keywords: Indianness; partnership model; Mahatma Gandhi; Indian English literature. Raja Rao is known to have given birth to the Indian English novel as an expression of a precise ideological re-construction of India’s racial, philosophical, cultural and linguistic specificities. His work asserted itself on the inter-national scene, and especially in a trans- national way, due to the originality of an idea of India capable of communicating with the West even through images and life styles distinctively indigenous. However, because of this extraordinary celebration of India’s native cultural distinctiveness, Raja Rao has been often ossified within the cultural construct of a universalistic Indian identity, an Indianness quintessentially and metaphysically Hindu, thus blurring the complexities and making exotic Indian geography and culture. -

1 the Third Eye and Two Ways of (Un)Knowing: Gnosis, Alternative
1 The Third Eye and Two Ways of (Un)knowing: Gnosis, Alternative Modernities, and Postcolonial Futures By Makarand Paranjape Professor of English, JNU, New Delhi 110067 Presented at the Infinity Colloquium, 24-29 July 2002, New York The starting point for this paper is the premise that alternatives to modern epistemology can hardly come from modern (Western) epistemology itself. This idea has been voiced quite forcefully in recent thinking by scholars such as Walter D. Mignolo s, from whose book Local Histories/Global Designs the above phrase is taken. But even if we were to agree with such a premise, it still begs the question of where to look for these alternatives. For critics such a Mignolo, the challenge is to rehabilitate subaltern knowledge systems so as to bring about, to invoke a phrase from Foucault, an insurrection of subjected knowledges. Gnosis, gnoseology and border thinking have been used to describe these knowledge systems that are on the margins of or outside the world colonized by Western modernity. My project is to oppose the dominance of rationality (or, more recently, irrationality) in modern and postmodern philosophy by invoking ideas of the supra-rational from Classical as well as modern traditions of thinking, especially in India. These traditions, for lack of a better word, may be called wisdom traditions. That they share something with gnosticism should be obvious. I would like to focus on the work of one modern Indian thinker, Sri Aurobindo, particularly his idea of the Supermind, to suggest a slightly different way of conceiving postcolonial futures. Sri Aurobindo s thought has important implications for the discipline of consciousness studies because it posits the naturalization of a higher conscious than the mental. -
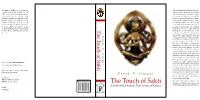
THE TOUCH of SAKTI.Cdr
Dr Ernst F•rlinger is an expert on The Kashmirian øaiva tradition in its non- Kashmir Saivism and Sanskrit. He has dualistic form in particular is one of the lived in Varanasi for some years studying richest philosophical traditions of India non-dualistic Kashmir Saivism with that have survived to the present day. This traditional pandits and Sanskrit at the book by the noted scholar, Dr F•rlinger, Banaras Hindu University. He is at deals with the bodily experience of the present University Lecturer at the transcendent power, the øakti, in the Institute for Religious Studies, University context of the øaiva Kuõóalini-Yoga. In an of Vienna. He is a member of the insightful introduction, the scholar academic staff at Center for Intercultural presents an overview of the historical Studies, Danube University, Krems (near T development of the Kashmirian øaiva Vienna). h traditions, especially of the non-dualistic system, Trika, made famous by the work e E of its famous proponent, Abhinavagupta. r He studies the theme of ÷aktispar÷a in T n selected texts of non-dualistic Trika o s øaivism of Kashmir, focusing on t u Utpaladeva's øivastotràvali of the tenth c century and Abhinavagupta's Tantraloka F of the eleventh century. The texts are h • analysed along with a noted commentary r associated with each to shed light on the o l i different contexts and meanings in which f n the word spar÷a occurs in connection with g ø øakti, the divine power, revered as the e Goddess. The study examines sparsa as Cover designed by : Mrs David Peters a r one of the highest stages in the spiritual Prof. -

World Englishes in Asian Contexts
WORLD ENGLISHES IN ASIAN CONTEXTS Yamuna Kachru and Cecil L. Nelson -Prelim(p.i-iv) 3 1/23/06, 5:01 PM Hong Kong University Press 14/F Hing Wai Centre 7 Tin Wan Praya Road Aberdeen Hong Kong © Hong Kong University Press 2006 Hardback ISBN-13: 978-962-209-755-1 ISBN-10: 962-209-755-3 Paperback ISBN-13: 978-962-209-756-8 ISBN-10: 962-209-756-1 All rights reserved. No portion of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. Secure On-line Ordering http:// www.hkupress.org British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. Printed and bound by United League Graphic & Printing Co. Ltd., in Hong Kong, China -Prelim(p.i-iv) 4 1/23/06, 5:01 PM Contents Illustrations xv Series editor’s preface xvii Preface xix Acknowledgements xxi Symbols and abbreviations xxii Map of Greater Asia xxiv Introduction 1 World Englishes 2 Asian Englishes 2 Resources on world Englishes 3 Structure of this book 4 Part I: Theory, Method and Contexts 7 1. World Englishes today 9 Introduction 9 The world-wide diffusion of English 9 Language, dialect and variety 10 Accent 11 Varieties of world Englishes 12 Diffusion and variation 12 Standards 13 External models in the Outer and Expanding Circles 14 Internal models in the Outer and Expanding Circles 15 Ideological perspectives 17 Literatures in world Englishes 18 Multilingual English users 19 Issues in English language education 20 Conclusion 21 Suggested activities 22 00-Contents (p.vii-xiii) 7 1/23/06, 11:08 AM viii Contents 2. -
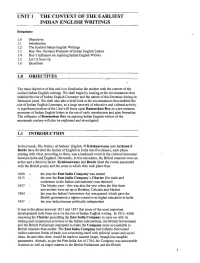
Unit 1 the Context of the Earliest Indian English Writings
UNIT 1 THE CONTEXT OF THE EARLIEST INDIAN ENGLISH WRITINGS Structure 1.0 Objectives 1.1 Introduction 1.2 The Earliest Indian English Writings 1.3 Roy: Pre- Eminent Promoter of Indian English Letters 1.4 Roy's Influence on Aspiring Indian English Writers 1.5 LetUsSumUp 1.6 Questions 1.0 OBJECTIVES The main objective of this unit is to familiarise the student with the context of the earliest Indian English writings. We shall begin by looking at the circumstances that enabled the rise of Indian English Literature and the nature of this literature during its formative years. We shall also take a brief look at the circumstances that enabled the .rise of Indian English Literature, as a large network of educative and cultural activity. A significant portion of the Unit will focus upon Rammohun Roy as a preeminent promoter of Indian English letters in the era of early introduction and plan formation. The influence of Rammohun Roy on aspiring Indian English writers of the nineteenth century will also be explained and investigated. 1.1 INTRODUCTION In their book, The Politics ofIndiansJEnglish,N Krishnaswamy and Archana S Burde have divided the history of English in India into five phases, each phase starting with what, according to them, was a landmark event in the colonial encounter between India and England. Obviously, in this encounter, the British interests were an active and a decisive factor. Krishnaswamy and Burde chart the events associated with the British policy and the years in which they took place thus: 1600 - the year the East India -

Asian AESTHETICS AMERICAN SOCIETY for AESTHETICS CURRICULUM DIVERSIFICATION PROJECT
The image part with relationship ID rId7 was not found in the file. Asian AESTHETICS AMERICAN SOCIETY FOR AESTHETICS CURRICULUM DIVERSIFICATION PROJECT Meilin Chinn Santa Clara University _______________________________ Overview & AIMS While it is common to hear that we are living in an era of global education, academic philosophy and aesthetics continue to reflect a heavy bias toward Western philosophies, thinkers, and arts. This curriculum project has two central aims. The first aim is to support the diversification of aesthetics curricula through the inclusion of Asian philosophical perspectives. The second aim is to present reading modules in a way that highlights the rich possibilities for cross-cultural and comparative work in aesthetics. Aesthetics often succeeds in philosophizing across borders where other methods fail for a number of reasons. Aesthetics brings together a wide range of philosophical methods and considerations, including but not limited to epistemological, hermeneutical, metaphysical, political, and ethical. The fundamental role of perception in aesthetics should encourage appropriate cultural reflexivity and reflection. Additionally, the philosophical interpretation of a work of art can place demands and yield results in a manner similar to ideal cross-cultural philosophizing. Asian philosophy of art and aesthetics contributes to these aims in at least two important ways. First, the arts were often treated as philosophical practices in a number of Asian traditions. Second, aesthetics occupied a principal place in the philosophies included here, arguably on par with the preeminent role that metaphysics has played in the history of European philosophy. Complementing the first two aims of diversifying contemporary aesthetics and highlighting opportunities for comparative and cross-cultural work, this reading list is designed to also strengthen the role of aesthetics in philosophy more broadly by showcasing traditions for which aesthetics was at the center of philosophical practices and methods. -

Tapping South-Asian Diaspora Studies: an Analysis
International Journal of Applied Linguistics & English Literature ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online) Vol. 4 No. 2; March 2015 Copyright © Australian International Academic Centre, Australia Tapping South-Asian Diaspora Studies: An Analysis Mukesh Yadav (Corresponding author) Al Jouf University, Sakaka, Kingdom of Saudi Arabia E-mail: [email protected] Shalini Yadav AlJouf University, Sakaka, Kingdom of Saudi Arabia Received: 17-09-2014 Accepted: 14-11-2014 Published: 01-03-2015 doi:10.7575/aiac.ijalel.v.4n.2p.221 URL: http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.4n.2p.221 Abstract This paper investigates the identity issues of South-Asians in the Diaspora. It engages the theoretical and methodological debates concerning processes of culture and identity in the contemporary context of globalization and transnationalism. It analyses the works of South-Asian Diaspora writers tracing out the dynamics of power towards critical alternatives that recognise and value similarities and accommodation of groups and individuals. The themes taken up by these South-Asian Diaspora writers relate to the issues of racism, the experience of displacement, the process of transculturation, the tensions between individuals and so forth. Their writing, in its accounts of immigrant experience and otherness reflects the ambivalences and complexities inherent in the conceptions of the race, class, ethnicity and identity. The present paper taps this journey from ideological construct to identity formation in South- Asian Diaspora Studies. The paper makes an attempt to evolve the essence of cultural Diaspora. Keywords: South-Asian Diaspora; Immigrants; Transculturation; Cultural Identity Culture includes ideas, beliefs, values, norms, social practices, symbols and images that define societies and communities in such a way that individuals identify with them, construct meaningful relationships within the cultural boundaries, and relate to other communities and societies through them.