Marcelo Salcedo Gomes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Department of Geography the George Washington University F a L L 2 0 1 3
Department of Geography The George Washington University F A L L 2 0 1 3 Notes from the Chair This fall marks the 70th year of the University of Singapore where she is teaching, Department of Geography at GWU. Our conducting research and enjoying her much deserved In this Issue... department continues to thrive with over 150 year-long sabbatical. She will be back in July 2014. Visiting Scholar from Iran P.3 majors in Geography and Environmental Studies, Nikolay Shiklomanov was awarded tenure this spring 25 graduate students, and the creation of a new and promoted to Associate Professor. We also have New Graduate Award P.4 GIS Certificate Program to begin in 2014. We just added two new faculty members to our department; completed a major Academic Program Review that Dr. Dmitry Streletskiy, a climatologist and Arctic Funded Research P.12- 13 demonstrated the growth of the department and specialist, changed his status from Research Student & Alumni News P.18 the need for new faculty lines in human, physical Associate to Assistant Professor and Dr. Nuala and technical aspects of the discipline. Last year Cowan (MA in Geography in 2004) rejoined our we taught over 2,000 students in our courses! department as a fulltime faculty member and Geography is alive and well at GW—a Director of the GIS Certificate Program. Dr. Qin Yu, a point underscored by the recent senior seminar post-doc from the University of Virginia, is Professor camping trip at Mason Neck, Virginia, October 11- contributing to our research on environmental 13, 2013 where 32 geography majors and change in the Arctic as a Research Associate. -

South Carolina NATIONAL MILITARY PARK NORTH CAROLINA I Gaffney B Lake Wylie 42°N 35°N Sassafras Mt
A B C D E F H G J I KILOMETERS KILOMETERS 30 20 10 30 20 10 0 0 83°W 82°W 80°W 79°W STATUTE MILES STATUTE STATUTE MILES STATUTE e 30 20 10 0 30 20 10 0 No shoes or writing utensils on map on utensils writing or shoes No ALBERS CONIC EQUAL-AREA PROJECTION EQUAL-AREA CONIC ALBERS ALBERS CONIC EQUAL-AREA PROJECTION EQUAL-AREA CONIC ALBERS g 1 1 d Highest point in KINGS MOUNTAIN South Carolina NATIONAL MILITARY PARK NORTH CAROLINA i Gaffney B Lake Wylie 42°N 35°N Sassafras Mt. r 35°N 3,560 feet o t a R a York g 1,085 meters o Lake Greer Spartanburg d o t t C a Keowee Rock Hill h Greenville a C e Easley t n a w 2 u Simpsonville Chester b Union 2 Tu Seneca a Lancaster Clemson l ga Cheraw lo o Lake B Hartwell o G r e Laurens a t Anderson P S Lake e a m e Wateree D Dillon v W a Hartsville e Winnsboro e n a n t 3 e n a d r Darlington 3 h Lake Newberry e e Greenwood Greenwood Florence Richard B. Lake Marion i e Salu Murray Russell Lake da SOUTH Ly Irmo nc Loris 34°N Columbia h L i es 34°N West Columbia a i J. Strom t t Thurmond Cayce l P e CAROLINA C Reservoir P o Sumter Lake City l e Conway 4 n e G g 4 a CONGAREE D r r ee NATIONAL PARK e e No shoes or writing utensils on map No a e Edgefield P t Myrtle y Pe a No e Beach r D B th w S e a o F Bl e g u or ac m Garden North Aiken th k k n F E a Augusta o d Orangeburg y c City o r i c k s map on utensils writing or shoes No E t a L d o Lake is W to Marion 5 Williston r GEORGIA l Georgetown 5 Bamberg Lake Sa Moultrie t nte North E a e d Island S is Moncks Corner av to n an t C na o h o 33°N p Summerville u e Cape Island 33°N Allendale s r 6 S o Hanahan 6 a WalterboroC C o North Mount D oo m c sa b Charleston Pleasant o w a h h a e Charleston N t e w C c h A ie o Edisto Island L ATLANTIC 7 L Beaufort 7 St. -

National Geographic Adult Fall 2020
- A STORY IN PHOTOGRAPHS I SBN 978-1-4262-2165-1 NatGeoBooks @NatGeoBooks 90000 ADULT BOOKS CATALOG * IF YOU’RE WONDERING, THESE ARE THE COORDINATES OF HUBBARD HALL AT NATIONAL GEOGRAPHIC HEADQUARTERS 9 781426 221651 I FALL 2020 I NATIONAL GEOGRAPHIC PARTNERS LLC, a joint venture between The Walt Disney Company FOR ORDERS AFTER OCTOBER 1, 2020 and the National Geographic Society, is committed to bringing the world premium science, adventure Contact your Hachette Book Group Sales Representative or write: and exploration content across an unrivaled portfolio of media assets. NGP combines the global National Geographic television channels (National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo MUNDO, Nat Geo ALL U.S. AND CANADIAN PRICING TO SCHOOLS MISCELLANEOUS ORDERS AND LIBRARIES PEOPLE) with National Geographic’s media and consumer-oriented assets, including National Geographic All titles are free freight unless otherwise Hachette Book Group For complete information regarding noted. For details on the new free freight magazines; National Geographic studios; related digital and social media platforms; books; maps; children’s Order Department pricing terms, please contact: policy, please visit the Hachette Book 185 N. Mt. Zion Rd. Group Web site at: media; and ancillary activities that include travel, global experiences and events, archival sales, licensing and Hachette Book Group Lebanon, IN 46052 USA hachettebookgroup.com Customer Service e-commerce businesses. Furthering knowledge and understanding of our world has been the core purpose Call toll-free: 1-800-759-0190 185 N. Mt. Zion Road or call of National Geographic for 132 years, and now we are committed to going deeper, pushing boundaries, Fax toll-free: 1-800-286-9471 Lebanon, IN 46052 Hachette Book Group Call toll-free: 1-800-759-0190 Customer Service at: going further for our consumers … and reaching millions of people around the world in 172 countries and INTERNATIONAL ORDERS Fax toll-free: 1-800-286-9471 1-800-759-0190 43 languages every month as we do it. -

U.S. History American Stories Beginnings to 1877
U.S. HISTORY AMERICAN STORIES BEGINNINGS TO 1877 i_SE_11362_Title_Page.indd 1 3/27/17 11:53 AM AMERICAN STORIES ON THE COVER Lewis, Clark, and Sacagawea In 1803, Thomas Jefferson sent explorers Meriwether Lewis and William Clark on an expedition into the uncharted territory of the American West. Jefferson wanted them to gather information about the geography, plants, and animals of this region, and befriend Native American tribes. After encountering both friendly and unfriendly tribes during their journey, Lewis and Clark realized they needed the help of For more someone who knew the local terrain and people. information They hired Sacagawea, a young Shoshone woman, on Lewis and Clark (above) to be their interpreter and guide. Her knowledge and Sacagawea of languages and the land was invaluable, and (right), read the Sacagawea became an important member of American Story in Chapter 9. Lewis and Clark’s expedition. “National Geographic”, “National Geographic Society” and the Yellow Border Design are registered trademarks of the National Geographic Society ® Marcas Registradas Acknowledgments For product information and technology assistance, contact us at Grateful acknowledgment is given to the authors, artists, Customer & Sales Support, 888-915-3276 photographers, museums, publishers, and agents for permission to reprint copyrighted material. Every effort For permission to use material from this text or product, submit has been made to secure the appropriate permission. If any all requests online at www.cengage.com/permissions omissions have been made or if corrections are required, Further permissions questions can be emailed to please contact the Publisher. [email protected] Credits National Geographic Learning | Cengage Wrap Cover: Mark Summers/National Geographic Learning 1 N. -

Department of GEOGRAPHY the GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY FALL 2012
Department of GEOGRAPHY THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY FALL 2012 this issue New Faculty: Dr. Michael Mann P.2 CALM III Grant Update P.11 NEW FACULTY: DR. MICHAEL GEOG Profs. Scale Mt. Kilimanjaro P.12 MANN P AGE 2 Alumni News P.18 GWU Geography Professor Joseph Dymond at the peak of Mt. Kilimanjaro. After working in the horn of Africa, Michael Notes from the chair Mann received his Dear Friends of the Department of Geography at weekend field trip to Mason Neck, Virginia and were Masters in GWU, lucky to have returned before Hurricane Sandy struck the Washington area on October 29-30, 2012. Environmental Policy I am very pleased to report that the Department of and Management and Geography and the Environmental Studies Program This year, we are joined by two new faculty: Dr. PhD in quantitative (which is housed within the Department) are Michael Mann and Dr. Edwin Squires. Dr. Michael flourishing. Numbers of both full-time faculty and Mann, who is currently a post-doctoral fellow at the Geography from Boston students declaring a major in Geography or University of California, Berkeley, will be joining us as University. .. Environmental Studies are on the rise. We currently a tenure-track professor in Spring 2013. We are also continued on page 2. have 10 full-time faculty, 84 majors in Geography and very fortunate to have Dr. Edwin R. Squires as a 82 majors in Environmental Studies. Our faculty has Visiting Professor for the academic year. Prof. been active in research, teaching and service. Several Squires comes to us from Taylor University and has a of our students at both the undergraduate and wealth of teaching, research, and administrative GEOG PROFS. -

Enduring Traditions Driving & Walking Tour
Enduring Traditions Driving & Walking Tour THE CULTURE AND HERITAGE OF LAKE TAHOE, NEVADA Acknowledgements ountless individuals shared their knowledge, experience, and support in order to create this tour. We are particularly grateful to all of the traditional artists who are its lifeblood. An C entire acknowledgement page could have been written for each one, and there are many oth- ers important to this guide, whose names are not included because of space limitations. All gave us their time, and allowed us to enter their worlds and their lives, so that we could portray Lake Tahoe’s authentic artistic diversity and map its most significant sites. There would be no tour without them. A project such as this takes minds, money, devotion, and encouragement. Without the support of the State of Nevada, the National Endowment for the Arts Challenge America and Millennium Trails grants, and the Western Folklife Center, this project would only have existed in our imagina- tions. We want to express our thanks to individuals in the following organizations and agencies who provided services and guidance in the process of developing this tour guide, and checked for accuracy in the historical and environmental content. They are: California Department of Parks and Recreation-Sierra District Gatekeepers Museum-North Lake Tahoe Historical Society Gnomon Inc. Humboldt-Toiyabe National Forest-Carson Ranger District Nevada Division of State Parks North Tahoe Arts The Parasol Community Collaboration South Lake Tahoe Historical Society Tahoe-Baikal Institute Tahoe Regional Planning Agency Tahoe Rim Trail Thunderbird Lodge Preservation Society USDA Forest Service-Lake Tahoe Basin Management Unit Washiw Wahayay Mangal (Washoe Language Program) Washoe Tribe of Nevada and California In 2006, the first edition ofEnduring Traditions was published to encourage visitors and locals to un- derstand and enjoy the traditional arts and the tribal and ethnic cultures of Lake Tahoe. -

Maps and Aerial Secondary Grades; *Social Studies Cartography
DOCUMENT RESUME ED 075 266 SO 001 502. TITLE Sources of Information and Materials: Maps and Aerial Photographs. A Reference Book. INSTITUTION High School Geography Project, Boulder, Colo. SPONS AGENCY National Science Foundation, Washington, D.C. PUB DATE Feb 70 NOTE 166p. EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$6.58 DESCRIPTORS Annotated Bibliographies; Atlases; Charts; *Geography; *Maps; *Photographs; Resource Guides; Secondary Grades; *Social Studies IDENTIFIERS Cartography; *High School Geography Project ABSTRACT This booklet is a compilation of sources of cartographic information, ideas and materials. Designed for geography and social studies teachers, the guide tells where to obtain: 1) additional information and ideas on the preparation and use of cartographic materials; 2)motion pictures, filmstrips and slides on mapping and photography; 3)statistical data useful for thematic map preparation; 4) matching aerial photographs and topographic maps of outstanding physical and cultural features in the U.S.; 5) sheet maps and other cartographic materials from government and society sources; 6) wall maps, outline maps, map transparencies, globes, relief models, atlases, and related materials from commercial sources; 7) aerial and space photographs; and 8)interpretation and drawing eqUipment. Annotations and complete bibliographic information are included in the citations which were chosen on th9. basis of potential value to high school geography or other social studies courses, probable availability to the teacher, and recency of publication. (Author/SHM) FILMED FTOM BEST AVAILABLE COPY H S G 44. 44,11," . ..Jo, f.t . L 4 R. .11'4 . J ,,,._, A:',..'. .- ' ,t ;j3; ICU ' :3J.': -4 . .k . -!'l , h ...;.., ,,,..,04, 001:113 ...:s. i.,. / % '...,t,. -

Measuring Success of National Geographic Society’S Geotourism Program
MEASURING SUCCESS OF NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY’S GEOTOURISM PROGRAM by Kristen Leonard Dr. Charlotte Clark, Advisor May 2011 Masters project submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master of Environmental Management degree in the Nicholas School of the Environment of Duke University 2011 ABSTRACT Geotourism is a method of implementing sustainable tourism developed by National Geographic Society (NGS) to promote stewardship of the world’s distinctive travel destinations. As of April 2011, fourteen regional destinations in six countries have undertaken this community-based marketing strategy, which aims to expand traveler access to authentic, sustainable travel options. The Geotourism Program has potential to contribute to environmental sustainability, benefit local economies, and preserve regional and cultural authenticity. However, NGS and destination partners need a system of evaluation to gauge impacts and measure success of all geotourism initiatives. In this study, I used participatory action research and case study methods to identify success indicators and develop three measures of success (MOS) tools: a Stewardship Council Assessment, Program Sustainability Assessment, and Web User Survey. These data collection instruments are based on evaluation interests of the Western U.S. Geotourism Collaboration. By implementing the same MOS methodology across projects, evidence of project successes may be aggregated to create a strong case for future project funding. Relevant background for each of the six western U.S. -

National Geographic Trails Illustrated Map)
[PDF] Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map) National Geographic Maps - Trails Illustrated - pdf download free book Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map) PDF, Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map) PDF Download, Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map) Download PDF, Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map) by National Geographic Maps - Trails Illustrated Download, Read Online Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map) E-Books, Read Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map) Full Collection National Geographic Maps - Trails Illustrated, Read Best Book Online Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map), Read Online Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map) Ebook Popular, full book Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map), by National Geographic Maps - Trails Illustrated Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map), book pdf Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map), pdf National Geographic Maps - Trails Illustrated Sequoia And Kings Canyon National Parks (National Geographic Trails Illustrated Map), Download Online Sequoia And -

National Geographic Makes Maps More Timely Than Ever With
Months to Less Than Five Weeks! National Geographic Makes Maps More Timely Than Ever With GIS Following the terrorist attacks on the United States on September 11, 2001, millions of Americans searched for some way to help out. Emergency personnel from all over the country made their way to New York and Washington, D.C., to assist. Many flew flags and displayed patriotic bumper stickers in a show of national solidarity. At the offices of National Geographic, the map division felt it was in a unique position to help Americans understand the events in the news and the geography behind them. World attention was soon directed at Afghanistan and its ruling Taliban regime. Even before the United States began its air campaign in Afghanistan in October of 2001, National Geographic Maps had committed itself to produce a high-quality, detailed map of Afghanistan and the surrounding region for its December 2001 issue. Normally a map supplement is on the magazine’s produmost recipients of the December issue didn’t realize was that National Geographic had committed itself to a production time line of less than five weeks to include the Afghanistan map in the issue. And, according to the map division, it wouldn’t have been possible without its GIS staff. Response to September 11 “When the planes struck the World Trade Center, everyone was sort of in shock,” says Allen Carroll, chief cartographer at National Geographic Maps. “That weekend I realized that we needed to respond in some way. We were 95 percent finished on a map of Antarctica, but first thing Monday morning I went to see Bill Allen, the editor of the magazine. -
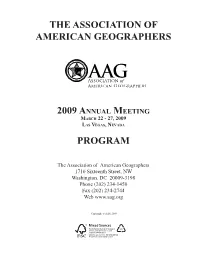
2009 Annual Meeting Program • 5 TABLE of CONTENTS
THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS 2009 ANNUAL MEETING MARCH 22 - 27, 2009 LAS VEGAS, NEVADA PROGRAM The Association of American Geographers 1710 Sixteenth Street, NW Washington, DC 20009-3198 Phone (202) 234-1450 Fax (202) 234-2744 Web www.aag.org Copyright © AAG 2009 16894_003-082-N1-R1.indd 3 3/5/2009 12:42:42 AM Partner with Us in Supporting GIS Education With your wealth of knowledge and experience, you can help ESRI Press continue its mission to advance geographic information system (GIS) knowledge in the education community. Please stop by our booth and learn more about our publishing program, fi nd out how to become a book reviewer, or share with us your ideas for ESRI Press book projects. You can also learn what’s new with ESRI’s GIS software. Visit ESRI at booth numbers 603 and 605. Enter a raffl e to win an iPod ® nano with ESRI ® podcast recordings. Winner will be announced Thursday, March 26, 2009. Attendance at the drawing is not required to win. Copyright © 2009 ESRI. All rights reserved. The ESRI Press logo, ArcGIS, and ESRI are trademarks, registered trademarks, or service marks of ESRI in the United States, the European Community, or certain other jurisdictions. Other companies and products mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective trademark owners. 16894_003-082-N1-R1.indd 4 3/5/2009 12:42:42 AM 2009 Annual Meeting Program • 5 TABLE OF CONTENTS AAG Offi cers, Councillors, and Staff .......................................................................................6 Local Arrangements Committee and J. Warren Nystrom Award Committee ........................... 7 General Information ................................................................................................................. -

National Geographic (Magazine)
National Geographic (magazine) National Geographic, formerly The National Geo- graphic Magazine, is the official magazine of the National Geographic Society. It has been published con- tinuously since its first issue in 1888, nine months after the Society itself was founded. It primarily contains ar- ticles about geography, history, and world culture. The magazine is known for its thick square-bound glossy for- mat with a yellow rectangular border and its extensive use of dramatic photographs. The magazine is published monthly, and additional map supplements are also included with subscriptions. It is available in a traditional printed edition and through an interactive online edition. On occasion, special editions of the magazine are issued. As of 2015, the magazine is circulated worldwide in nearly 40 local-language editions and had a global circu- lation of 6.8 million per month.[4] Its U.S. circulation is around 3.5 million per month.[5] 1 Administration The current Editor-in-Chief of the National Geographic Magazine is Susan Goldberg.[1] January 1915 cover of The National Geographic Magazine Chris Johns is chief content officer. He oversees the print and digital expression of National Geographic’s editorial content across its media platforms. He is responsible for National Geographic magazine, News, Books, Traveler magazine, Maps and all digital content with the exception of National Geographic Kids. He reports to Gary Evan Knell, president and CEO of the National Geographic So- Among its more recent issues, the June 1985 cover por- ciety. trait of 13-year-old Afghan girl Sharbat Gula became one Terry B. Adamson, Executive Vice President of the So- of the magazine’s most recognizable images.