GESTÃO E TECNOLOGIA DE PROJETOS Design Management and Technology
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
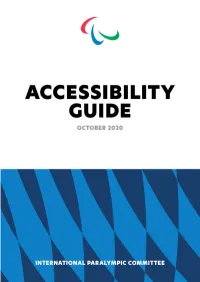
IPC Accessibility Guide
2 TABLE OF CONTENTS FIGURES AND TABLES ................................................................................................................. 8 Foreword ........................................................................................................................................... 10 Introduction ................................................................................................................................. 10 Evolving content ......................................................................................................................... 10 Disclosure ...................................................................................................................................... 11 Structure and content of the IPC Accessibility Guide ...................................................... 11 Content ........................................................................................................................................... 11 Executive summary ......................................................................................................................... 12 Aim and purpose of the Guide ................................................................................................ 12 Key objectives of the Guide ..................................................................................................... 12 Target audience of the Guide ................................................................................................. 12 1 General information -

A Social-Aware Assistant to Support Individuals with Visual Impairments During Social Interaction: a Systematic Requirements Analysis
A Social-Aware Assistant to Support Individuals with Visual Impairments during Social Interaction: A Systematic Requirements Analysis María Elena Meza-de-Lunaa, Juan R. Tervenb, Bogdan Raducanuc, Joaquín Salasd,1 aUniversidad Autónoma de Querétaro, México bAiFi Inc., United States cCentro de Visión por Computadora, Spain dInstituto Politécnico Nacional, México Abstract Visual impairment affects the normal course of activities in everyday life in- cluding mobility, education, employment, and social interaction. Most of the existing technical solutions devoted to empowering the visually impaired people are in the areas of navigation (obstacle avoidance), access to printed information and object recognition. Less effort has been dedicated so far in developing solu- tions to support social interactions. In this paper, we introduce a Social-Aware Assistant (SAA) that provides visually impaired people with cues to enhance their face-to-face conversations. The system consists of a perceptive component (represented by smartglasses with an embedded video camera) and a feedback component (represented by a haptic belt). When the vision system detects a head nodding, the belt vibrates, thus suggesting the user to replicate (mirror) the gesture. In our experiments, sighted persons interacted with blind people wearing the SAA. We instructed the former to mirror the noddings according to the vibratory signal, while the latter interacted naturally. After the face-to- face conversation, the participants had an interview to express their experience regarding the use of this new technological assistant. With the data collected during the experiment, we have assessed quantitatively and qualitatively the ∗Send correspondence to: Joaquín Salas. Cerro Blanco 141, Colinas del Cimatario, Queré- taro, México, 76090, [email protected] Preprint submitted to International Journal of Human-Computer Studies May 7, 2021 device usefulness and user satisfaction. -

Oshawa Accessibility Design Standards
Accessibility Design Standards The path to an accessible future [Page intentionally left blank for printing purposes.] Oshawa Accessibility Design Standards Second Edition, October 2017 City of Oshawa 50 Centre Street South Oshawa, Ontario L1H 3Z7 Email: [email protected] The City of Oshawa would like to acknowledge and thank the City of Ottawa and the City of Markham for permitting this adaptation of their Accessibility Design Guidelines. If you require this document in an alternate accessible format, please contact Service Oshawa at 905-436-3311 or [email protected] Oshawa Accessibility Design Standards Revision History Second Edition October 2017 Oshawa Accessibility Design Standards ii Oshawa Accessibility Design Standards Table of Contents 1.0 Introduction 1.1 Regulatory Framework ......................................................................................................6 1.2 Standard Organization .....................................................................................................13 2.0 Common Elements (Exterior and Interior) 2.1 Ground and Floor Surfaces ............................................................................................. 17 2.2 Ramps ............................................................................................................................. 21 2.3 Stairs ............................................................................................................................... 27 2.4 Guards and Handrails ..................................................................................................... -
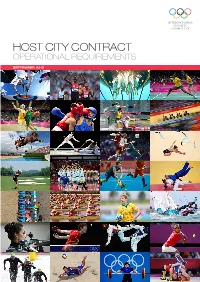
Host City Contract Operational Requirements
HOST CITY CONTRACT OPERATIONAL REQUIREMENTS SEPTEMBER 2015 Host City Contract Operational Requirements September 2015 Host City Contract Operational Requirements September 2015 © International Olympic Committee Château de Vidy – Route de Vidy 9 - C.P. 356 – CH-1001 Lausanne / Switzerland www.olympic.org Host City Contract Operational Requirements September 2015 This page has been left blank intentionally Host City Contract Operational Requirements September 2015 Table of content Codes and Acronyms ........................................................................................................... 5 Foreword.................................................................................................................................. 9 Cross-reference matrix .................................................................................................... 12 1. Product and Experience ............................................................................................. 14 1.1. Sport (including IF services) ................................................................................... 15 1.2. Ceremonies............................................................................................................. 26 1.3. City Activities and Live Sites ................................................................................... 35 1.4. Cultural Olympiad................................................................................................... 38 1.5. Education programme ........................................................................................... -
The Influence of Building Features on Wayfinding by Adults with Intellectual Disability: Towards Achieving More Inclusive Building Design
School of Education Science and Mathematics Education Centre The Influence of Building Features on Wayfinding by Adults with Intellectual Disability: Towards Achieving More Inclusive Building Design Lindsay Maurice Castell This thesis is presented for the Degree of Doctor of Philosophy of Curtin University June 2017 i Declaration To the best of my knowledge and belief this thesis contains no material previously published by any other person except where due acknowledgment has been made. This thesis contains no material which has been accepted for the award of any other degree or diploma in any university. Human Ethics (For projects involving human participants/tissue, etc) The research presented and reported in this thesis was conducted in accordance with the National Health and Medical Research Council National Statement on Ethical Conduct in Human Research (2007) – updated March 2014. The proposed research study received human research ethics approval from the Curtin University Human Research Ethics Committee (EC00262), Approval Number: SMEC 20070021 Signature: …………………………………………. Date: ………………………... ii Acknowledgements Thank you to all the participants who gave their time and effort to walk through the hospital and participate in the interviews. I am so grateful for your involvement because without your willingness to participate, this study could not have been possible. I hope that your enthusiastic support for this project will be rewarded. Thank you to my supervisory team; Associate Professor Heather Jenkins, Professor Barry Fraser, Professor David Treagust and Associate Professor Monty Sutrisna. Monty, thank you for taking on the supervision of my PhD and guiding me to completion. Your patience, insight and steadfastness were much appreciated. -

Safetylit Is a Free Service of the Safetylit Foundation in Collaboration with San Diego State University and the World Health Organization
SafetyLit® Weekly Literature Update Bulletin SafetyLit is a free service of the SafetyLit Foundation in collaboration with San Diego State University and the World Health Organization. 25 September 2016 Volume 19, Number 39 ISSN 1556-8849 Hhttp://www.safetylit.org Click on the title of a report to view the full citation and abstract. Abstracts of these reports are available now 588 unique articles this week « Please ask your library to include SafetyLit in its listing of literature databases » Is this pdf version too cluttered and too long? There are alternatives: 1) Use your PDF viewer's “bookmarks” (Adobe) or “Table of Contents” (Preview) functionto jump to categories of interest to you. All items appear under several categories. 2) You may want to view the Web Version. This allows you to select tick boxes to only see items in the categories the meet your interests. This is also the best version for users with a slow internet connection. 3) Try using the My SafetyLit tool. Register to log in and automatically find articles on the topics you want, week after week, after you set your preferences the first time. Soon the options and limits will allow you to fine-tune the weekly update to closely match your needs. 4) Consider subscribing to one or more of the SafetyLit RSS feeds. An added benefit to this is that you can read the update in near real-time (as items are entered into the database) or as infrequently as once a month without missing anything. The SafetyLit Foundation has been designated a not-for-profit 501(c)(3) public charity by the US IRS. -

City Futures Research Centre, Faculty of Built Environment, UNSW Sydney Australia 2017
Built Environment City Futures Research Wayfinding at night Literature review Final report June 2017 © City Futures Research Centre, Faculty of Built Environment, UNSW Sydney Australia 2017 Wayfinding at night: Literature review by Aida Afrooz, Parisa Kalali, Simone Zarpelon Leao, Chris Pettit City Futures Research Centre Faculty of Built Environment UNSW Australia www.cityfutures.net.au Published by: City Futures Research Centre, UNSW Australia © City Futures Research Centre 2017 This report is based on research undertaken with funding from the City of Sydney Council. The researchers would like to thank Carmela Ticzon for her assistant. Any opinions expressed in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the views of UNSW Australia or the City of Sydney Council. I Table of contents Executive Summary ........................................................................................................................................................................................ VI 1. Introduction .................................................................................................................................................................................................. 1 1.1 Purpose of the study .............................................................................................................................................................................. 2 1.2 Methodology .......................................................................................................................................................................................... -
Inclusive Design in the Built Environment Who Do We Design For?
INCLUSIVE DESIGN IN THE BUILT ENVIRONMENT WHO DO WE DESIGN FOR? Training Handbook March/April 2016 By Sandra Manley This handbook has been prepared to accompany training delivered on behalf of Welsh Government during March and April 2016 in Aberystwyth, Cardiff, Llandudno and Swansea. It also provides a resource for anyone seeking to understand more about inclusive design and its application. It is important to recognise that the principles of inclusive design and the legislation and regulations relevant to inclusive design are evolving over time. This evolution occurs as society recognises the importance of designing inclusively and moves forward to make improvements. Always check the latest legislation, building regulations and most importantly recent ideas about the philosophy of inclusive design. Remember also that inclusive design needs good, imaginative designers and their designs should result in buildings and spaces that are not only inclusive, but also beautiful. The training and this document have been developed and compiled by Sandra Manley, Visiting Research Fellow, University of the West of England, Bristol. The training was organised and promoted by Design Commission for Wales, RSAW, CEW and RTPI Cymru. Sandra Manley was a Principal Lecturer at the University of the West of England in Bristol for over 35 years where she taught urban designers, planners and architects and acted as Associate Head of the Department of Planning and Architecture. She also ran the department’s Short Course and Conference unit and taught many courses for built environment professionals herself. In childhood she noted how a disabled family member was discriminated against and excluded from mainstream society and this undoubtedly influenced the development of her longstanding concerns about inequality of opportunity for all minority groups and for disabled people in particular. -

Rethinking the Grocery Store
Rethinking the Grocery Store: Inclusive Wayfinding System for Visually Impaired Shoppers in Grocery Stores by Doaa Khattab Submitted to OCAD University In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Design In Inclusive Design Toronto, Ontario, Canada, April 2015 © Doaa Khattab, 2015 ii Author’s Declaration I hereby declare that I am the sole author of this MRP. This is a true copy of the MRP, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I authorize OCAD University to lend this MRP to other institutions or individuals for the purpose of scholarly research. I understand that my MRP may be made electronically available to the public. I further authorize OCAD University to reproduce this MRP by other means, in total or in part, at the request of other institutions or individuals for the purpose of scholarly research. iii Abstract Many people with disabilities face considerable barriers while shopping in grocery stores. One such barrier is that they cannot find their way around easily, especially when they visit the grocery store for the first time and have not yet built a cognitive map in their memory. They may also experience delays in finding the right product or waiting for assistance from store employees, thus leading them to rely on family, friends, relatives, or volunteers to help them with their shopping. Problems start when these people are not available, in which case the individual is forced to cancel their visit to the grocery store and reschedule the trip. Grocery stores include many different zones and services, the aisles area being one of the main barriers to access for people with different disabilities. -
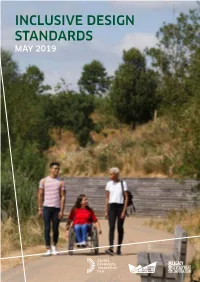
Download the Inclusive Design Standards
INCLUSIVE DESIGN STANDARDS MAY 2019 Hackney Marsh LEE VALLEY HOCKEY AND TENNIS CENTRE Leyton Mills Retail Park Wick Woodland Mabley Green East Bank Entrance points The Old Baths VELODROME Wick Village Canalside St Columba BREWERS LANE EAST BAY LANE COOPERS LANE Drapers St Mary Eton Field Church KEIRAN ROAD Gainsborough PELOTON AVENUE School Chobham Manor Trowbridge DERNY AVENUE Estate VILLIERS GARDENS MADISON WAY ARENA FIELDS Changing Places The East Pearl Beer Merchants Tap Wick East Number 90 Village Grow Mobile Garden City HUB 67 Crate Brewery Howling Hops Schwartz Gallery International Quarter Barge London North East Sweetwater Carpenters Road Carlton Lock Chimney Westeld International Stratford Quarter City Fish East London Island Outdoor Gym Bank Truman’s Playground Brewery Bobby Moore Olympic Academy Bell Smokehouse Primary MAIN Gallery School ENTRANCE ENDEAVOUR SQUARE ENDEAVOUR SQUARE OLD RIVER PATH East Bank East Carpenters Bank Estate Bobby Moore Academy Secondary School Stratford Halo Hackney Marsh LEE VALLEY HOCKEY AND TENNIS CENTRE Leyton Mills Retail Park Wick Woodland Mabley Contents Green The Old Baths VELODROME Wick Village Canalside Foreword 5 IDS 15.8. Considerations for supporting older St Columba BREWERS LANE EAST BAY LANE COOPERS LANE Drapers Londoners and multi-generational housing 38 St Mary Eton Field Policy context 9 Church KEIRAN ROAD IDS 15.9. Faith and cultural considerations 39 Gainsborough PELOTON AVENUE IDS 16. Student accommodation 39 School Chobham Manor Inclusive Design Standards 13 DERNY AVENUE Trowbridge Public buildings 41 Estate VILLIERS GARDENS Achieving inclusive neighbourhoods 14 MADISON WAY IDS 01. Site planning 16 IDS 17. Entering the building 42 ARENA FIELDS IDS 17.1. -

PARK DESIGN GUIDE 2018 Drafts 1 and 2 Prepared by Draft 3 and 4 Prepared By
PARK DESIGN GUIDE 2018 Drafts 1 and 2 prepared by Draft 3 and 4 prepared by November 2017 January 2018 Draft Originated Checked Reviewed Authorised Date 1 for client review GW/RW/LD JR/GW NH HS 22/09/17 2 for final submission (for GW RW SJ HS 10/11/17 internal LLDC use) 3 for consultation AM/RH RH 24/11/17 4 final draft AM/RH RH LG 24/09/18 CONTENTS INTRODUCTION 4 USER GUIDE 6 STREET FURNITURE STRATEGIC GUIDANCE STREET FURNITURE OVERVIEW 54 SEATING 55 PLAY FURNITURE 64 VISION 8 BOUNDARY TREATMENTS 66 INCLUSIVE DESIGN 9 PLANTERS 69 RELEVANT POLICIES AND GUIDANCE 10 BOLLARDS 70 GREEN INFRASTRUCTURE AND BIODIVERSITY 12 LIGHTING 72 HERITAGE AND CONSERVATION 14 PUBLIC ART 74 VENUE MANAGEMENT 15 REFUSE AND RECYCLING FACILITIES 75 SAFETY AND SECURITY 16 WAYFINDING 76 TRANSPORT INFRASTRUCTURE 17 CYCLE PARKING 80 TEMPORARY AND MOVEABLE FURNITURE 82 CHARACTER AREA DESIGN PRINCIPLES OTHER MISCELLANEOUS FURNITURE 84 QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK 22 LANDSCAPE AND PLANTING NORTH PARK 23 SOUTH PARK 24 LANDSCAPE SPECIFICATION GUIDELINES 88 CANAL PARK 25 NORTH PARK 90 KEY DESIGN PRINCIPLES 26 SOUTH PARK 95 TREES 108 SURFACE MATERIALS SOIL AND EARTHWORKS 113 SUSTAINABLE DRAINAGE SYSTEMS (SUDS) 116 STANDARD MATERIALS PALETTE 30 WATERWAYS 120 PLAY SPACES 31 FOOTPATHS 34 CONSTRUCTION DESIGN AND MANAGEMENT FOOTWAYS 38 CARRIAGEWAYS 40 PARK OPERATIONS AND DESIGN MANAGEMENT 126 KERBS AND EDGING 42 RISK MANAGEMENT 127 SLOPES, RAMPS AND STEPS 45 CONSTRUCTION PLANNING AND MITIGATION 128 DRAINAGE 47 ASSET MANAGEMENT 129 PARKING AND LOADING 49 A PARK FOR THE FUTURE 130 UTILITIES 51 SURFACE MATERIALS MAINTENANCE 52 ACKNOWLEDGEMENTS GLOSSARY REFERENCES QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK DESIGN GUIDE INTRODUCTION CONTEXT Occupying more than 100ha, Queen Elizabeth Queen Elizabeth Olympic Park Estate is made Olympic Park lies across the border of four up of development plots which are defined East London boroughs: Hackney, Newham, by Legacy Communities Scheme (LCS). -

Host City Contract – Operational Requirements
HOST CITY CONTRACT OPERATIONAL REQUIREMENTS JUNE 2018 Host City Contract - Operational Requirements June 2018 Host City Contract - Operational Requirements June 2018 © 2018 – International Olympic Committee – all rights reserved Cover: © 2018 – Intel Host City Contract - Operational Requirements June 2018 Erratum (10 October 2018) This document was first published on 2 July 2018. It has been modified on 10 October 2018 to include the following corrections: Page 24, ACM 04 – Stakeholder Accommodation Requirements table Stakeholder # Rooms Subgroup Population Group (SG) (Winter) Rights Holders Rights Holders Hospitality 750 Hospitality OBS Production Broadcasters 10,500 Media Production Rights Holders Production 10,000 Written and Photo. World News Agencies 2,500 Press Individual written and photographic press Totals 23,860 Page 38, 4. Brand, Identity and Look of the Games – Introduction “More information on the topics covered in this section is available in the Olympic Games Guide on Brand, Identity and Look of the Games, the following annex and any cross-referenced documents listed within them: • BIL Annex 1 - Specifications on IOC Uniform Guidelines for OCOG, Olympic Torch Relay and Marketing Partners’ Workforce at the Olympic Games Uniform General Rules for OCOG, Olympic Torch Relay and Service Providers.” Page 40, BIL 10 – Dual branding • “Wherever possible, and in particular in Back-of-House (BOH) areas and operations (e.g. workforce uniforms, fleets, etc.) except on the FOP, apply dual branding to simplify the transition, subject