Dialogos Urbanos 2 Reduzido.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Paulonascimentoverano.Pdf
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Escola de Comunicações e Artes Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação PAULO NASCIMENTO VERANO POR UMA POLÍTICA CULTURAL QUE DIALOGUE COM A CIDADE O caso do encontro entre o MASP e o graffiti (2008-2011) São Paulo 2013 PAULO NASCIMENTO VERANO POR UMA POLÍTICA CULTURAL QUE DIALOGUE COM A CIDADE O caso do encontro entre o MASP e o graffiti (2008-2011) Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, como requisito para obtenção do título de mestre em Ciência da Informação. Orientadora: Profª Drª Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira Área de concentração: Informação e Cultura São Paulo 2013 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa desde que citada a fonte. PAULO NASCIMENTO VERANO POR UMA POLÍTICA CULTURAL QUE DIALOGUE COM A CIDADE O caso do encontro entre o MASP e o graffiti (2008-2011) Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, como requisito para obtenção do título de mestre em Ciência da Informação. BANCA EXAMINADORA _____________________________________________________ a a Prof Dr Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira (orientadora) Universidade de São Paulo _____________________________________________________ Universidade de São Paulo _____________________________________________________ Universidade de São Paulo CLARICE, CLARIDADE, CLARICIDADE. AGRADECIMENTOS Sou profundamente grato à Profa Dra Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira pela oportunidade dada para a realização deste estudo. Sua orientação sempre presente e amiga, o diálogo aberto, as aulas ministradas, as indicações bibliográficas, a leitura atenta e exigente durante todas as fases desta dissertação, dos esboços iniciais à versão final. -
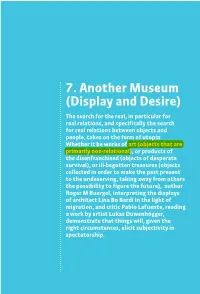
7. Another Museum (Display and Desire)
7. Another Museum (Display and Desire) The search for the real, in particular for real relations, and specifically the search for real relations between objects and people, takes on the form of utopia. Whether it be works of art (objects that are primarily non-relational), or products of the disenfranchised (objects of desperate survival), or ill-begotten treasures (objects collected in order to make the past present to the undeserving, taking away from others the possibility to figure the future), author Roger M Buergel, interpreting the displays of architect Lina Bo Bardi in the light of migration, and critic Pablo Lafuente, reading a work by artist Lukas Duwenhögger, demonstrate that things will, given the right circumstances, elicit subjectivity in spectatorship. agency, ambivalence, analysis: approaching the museum with migration in mind — 177 The Migration of a Few Things We Call − But Don’t Need to Call − Artworks → roger m buergel → i In 1946, 32-year-old Italian architect Lina Bo Bardi migrated to Brazil. She was accompanying her husband, Pietro Maria Bardi, who was a self- taught intellectual, gallerist and impresario of Italy’s architectural avant garde during Mussolini’s reign. Bardi had been entrusted by Assis de Chateaubriand, a Brazilian media tycoon and politician, with creating an art institution of international standing in São Paulo. Te São Paulo Art Museum (MASP) had yet to fnd an appropriate building to house its magnifcent collection of sculptures and paintings by artists ranging from Raphael to Manet. Te recent acquisitions were chosen by Bardi himself on an extended shopping spree funded by Assis Chateaubriand, who had taken out a loan from Chase Manhattan Bank in an impoverished, chaotic post-war Europe. -

MAM Leva Obras De Seu Acervo Para As Ruas Da Cidade De São Paulo Em Painéis Urbanos E Projeções
MAM leva obras de seu acervo para as ruas da cidade de São Paulo em painéis urbanos e projeções Ação propõe expandir as fronteiras do Museu para além do Parque Ibirapuera, para toda a cidade, e busca atingir públicos diversos. Obras de artistas emblemáticos da arte brasileira, de Tarsila do Amaral a Regina Silveira, serão espalhadas pela capital paulista Incentivar e difundir a arte moderna e contemporânea brasileira, e torná-la acessível ao maior número possível de pessoas. Este é um dos pilares que regem o Museu de Arte Moderna de São Paulo e é também o cerne da ação inédita que a instituição promove nas ruas da cidade. O MAM expande seu espaço físico e, até 31 de agosto, apresenta obras de seu acervo em painéis de pontos de ônibus e projeções de escala monumental em edifícios do centro de São Paulo. A ação MAM na Cidade reforça a missão do Museu em democratizar o acesso à arte e surge, também, como resposta às novas dinâmicas sociais impostas pela pandemia. “A democratização à arte faz parte da essência do MAM, e é uma missão que desenvolvemos por meio de programas expositivos e iniciativas diversas, desde iniciativas pioneiras do Educativo que dialogam com o público diverso dentro e fora do Parque Ibirapuera, até ações digitais que ampliam o acesso ao acervo, trazem mostras online e conteúdo cultural. Com o MAM na Cidade, queremos promover uma nova forma de experienciar o Museu. É um presente que oferecemos à São Paulo”, diz Mariana Guarini Berenguer, presidente do MAM São Paulo. Ao longo de duas semanas, MAM na Cidade apresentará imagens de obras de 16 artistas brasileiros espalhadas pela capital paulista em 140 painéis em pontos de ônibus. -

Lina Bo Bardi 100 Years Young
Gardenhouse: Hertl.Architekten converted the ruin of an old farmhouse in Austria using the concept of the house-in-house Since 1928 Italiano Sign up / Log in Search Domus... Like You, Bart Lootsma and 441,360 others like this. Architecture / Design / Art / Products / Domus Archive / Shop Contents News / Interviews / Op-ed / Photo-essays / Specials / Reviews / Video / From the archive / Competitions Magazine Current issue / Local editions Network Your profile / RSS / facebook / twitter / instagram / pinterest / LOVES Lina Bo Bardi 100 years young Following on from the current exhibitions and those recently ended, the catalogues, the video, the talks that help refocus attention on Lina who was an ingenious architect, a designer of fantastic things and animals, a thinker, a graphic artist and a sophisticated set designer. Architecture / Giacomo Pirazzoli Author Sections Network Giacomo Pirazzoli Architecture Like on Facebook Share on Twitter Published Keywords 5 December 2014 Arper, Gio Ponti, Lina Bo Bardi, Lina Bo Bardi Pin to Pinterest 100, Lina Bo Bardi Together, MASP, MAXXI, Location Pietro Maria Bardi, Precise Poetry, SESC San Paolo Pompeia These thoughts on the 100th anniversary of Lina Bo Bardi’s birth in Rome on 5 December 1914 is a parti-pris on the LinaProject.com collaboration platform – a project open to scholars, connoisseurs and admirers of “Dona Lina”, which I am coordinating for the Department of Architecture of Florence University. In apertura: Lina Bo Bardi, 1960. Photo © Arquivo ILBPMB. Qui sopra: Casa de Vidro, São Paulo, with Lina Bo Bardi, 1949-1951. Photo Francisco Albuquerque, 1951, © Arquivo ILBPMB A sense of scientific focus and attentiveness emerges from a recent visit to the orderly shelves of the “Dona Lina” archives at the Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi in Saõ Paulo – in the famous Glass House built by the architect as a home for herself and her husband. -

Brazil's Best-Kept Secret
BBC - Culture - Lina Bo Bardi: Brazil’s best-kept secret http://www.bbc.com/culture/story/20140611-brazils-best-kept-secret BRAZIL BEYOND FOOTBALL (HTTP://WWW.BBC.COM/CULTURE/COLUMNS/BRAZIL-BEYOND-FOOTBALL) | 11 June 2014 Jason Farago Art (http://www.bbc.com/culture/sections/art) Architecture (http://www.bbc.com/culture/tags/architecture) Design (http://www.bbc.com/culture/tags/design) Exhibition (http://www.bbc.com/culture/tags/exhibition) Museums (http://www.bbc.com/culture/tags/museum) Politics (http://www.bbc.com/culture/tags/politics) The Museu de Arte de São Paulo (SambaPhoto/Ed Viggiani/Getty) The Italian-born architect’s radical approach to the design of people-friendly buildings in Brazil should receive greater recognition, Jason Farago argues. Like no other country of its size, Brazil has projected its character to the world through modern architecture – the government buildings and housing projects of Brasília, the skyscrapers along São Paulo’s broad Avenida Paulista, the pleasure palaces of Rio’s Sambódromo and Maracanã stadium. We think we know the look of Brazil. For all the beauty of Copacabana and the Amazon, Brazil in our imaginations is a built environment, one where International Style modernism was souped up with plunging curves, organic detailing, and lush greenery. One woman in particular can help us expand our view not just of Brazil but of modern architecture at large. Lina Bo Bardi, an Italian-born architect with an uncommon commitment to building for society’s needs, was just getting her practice started when Lúcio Costa and Oscar Niemeyer began to adapt international modernism for local purposes. -

Gendering Architecture, Architecting Gender Introduction
GENDERING ARCHITECTURE, ARCHITECTING GENDER INTRODUCTION The Women in Architecture Student Organization (WIASO) presents: Gendering Architecture, Architecting Gender, a celebration of female architects throughout history as well as contemporary female architects often neglected or erased in mainstream media and architectural curricula. By showcasing works by female architects, WIASO hopes to counteract the dominant narrative of the architect as a male subject. This exhibition works to rewrite architectural history by acknowledging the contributions of female architects who have been dismissed, belitted, or denied credit for their work. By looking at architectural movements from a critical, feminist perspective, one is able to recenter history around marginalized identities and redefine what it means to be an architect. The exhibition is a glimpse at a shared history among female architects at the University of Minnesota, one that architecture students are learning about and contributing to daily. Women’s School of Planning and Architecture, 1975 EXHIBITION CREDITS DESIGN & CURATION Support for this exhibition and programs provided by the Goldstein Museum of Design, the College of Design, and generous individuals. In addition, GMD programming is made possible by the voters of Minnesota Neva Hubbert UMN Architecture Student through a Minnesota State Arts Board Operating Support grant, thanks to Dana Saari UMN Architecture Student the legislative appropriation from the Arts and Cultural Heritage Fund. The Mary Begley UMN Architecture Student University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. To request disability accomodations or to receive this information in Erin Kindell UMN Architecture Student alternative formats, please contact GMD at 612-624-7434. Brittany Pool UMN Architecture Student EDITING & ASSISTANCE Daniela Sandler UMN Architecture Faculty Goldstein Museum of Design Ashleigh Grizzell UMN Architecture Student Gallery 241, McNeal Hall 1985 Buford Avenue St. -

Bowl: a Chair for Freedom
Bowl: A Chair for Freedom By Adélia Borges Six decades ago, chairs would rigidly dictate the way people should sit on them. Users had just one option: to sit up straight. The 1951 Bowl Chair arrived to shake up this scene. Man no longer obeyed the object; now the object would obey man, according to their movements and desires. Far from limiting or constraining users, it would free them. Freedom is a key word in the ideas and trajectory of the chair’s creator, Lina Bo Bardi, and an everyday practice in her plural activities. In all the dimensions of her work, more than technique or aesthetics, she was interested in serving human beings. ‘True architecture is a total process, embracing human beings’ economic, political and social relationships,’ Lina wrote. ‘Surely beauty, a beautiful form, is capable of consoling man. Poetry in form is vital. However, without architecture’s social sense, all of this gets lost. Man is the ultimate objective of architecture.’ The Bowl Chair illustrates this enunciation perfectly. The poetry in its essential form comes to the forefront at first sight. It can be summed up as a shell deposited on a tubular frame. These two pieces are loose, superimposed without any means of fixation. ‘What is new in this piece of furniture, what is absolutely new, is the fact that the chair can achieve movement from all sides, with no mechanic means whatsoever, only due to its spherical form. There are no other pieces of furniture of this kind,’ Lina wrote about her Bowl Chair. Innovation was evident, so much so the chair was featured in a cover story in the renowned American magazine Interiors in November 1953, sixty years ago – a notable feat, considering Brazil was, at that time, regarded as a peripheral country in the design arena, with its creations usually destined to invisibility, the opposite of what was happening in centers of power such as New York, London, or Milan. -

Aarchitecture 17Download
AARCHITECTURE 17 TECTURE ARCHI THE ARCHITECTURALCURAT ASSOCIATION HAS ALWAYS EMBRACED CURATION AS AN IMPORTANT ASPECT WITHIN THE SCHOOL, FROM ITS ACADEMIC ORGANISATION AND STUDENT PORTFOLIOS TO THE EVER-EVOLVING EXHIBITIONS THAT TAKE PLACE EACH YEAR, WHAT BETTER SUBJECT TO FOCUS ON FOR AARCHITECTURE 17? THE NEW ING THEMATIC FORMAT OF THE NEWSLETTER, LAUNCHED WITH THE REDESIGN OF ISSUE 16, LENDS ITSELF TO FOCUSING ON RELEVANT SUBJECTS FOR EACH ISSUE. CURATION SEEMED A NATURAL FIT FOR THIS TIME OF YEAR, WITH ARCHITECTURE EXHIBITIONS BEING HELD AT A VARIETY OF GLOBAL LOCATIONS. FROM OUR VERY OWN EXHIBITION OF STUDENT WORK AT PROJECTS REVIEW, THE ROYAL ACADEMY SUMMER EXHIBITION TO THE 13TH INTERNATIONAL ARCHITECTURE BIENNALE IN VENICE, EACH PRESENT DIFFERENT WAYS OF CURATING ARCHITECTURE. IN ADDITION TO THE TRADITIONAL EXHIBITION, NEWS FROM THE ARCHITECTURAL ASSOCIATION EVENTS ORGANISED BY THE MEMBERSHIP OFFICE THIS SUMMER INCLUDED A PANEL DISCUSSION AT THE SOUTHBANK AND A TALK BY EMERGING ARCHITECTS AT A POP-UP SPACE IN EAST LONDON, - EACH ANALYSING THE TOPIC OF THE OLYMPICS - AS A CURATION OF PEOPLE, EVENTS AND ICONIC PLACES, AT AN URBAN SCALE. AT A SMALLER SCALE, WE LOOK AT STUDENT PORTFOLIOS AS AN AArchitecture 17 / Spring 2012 www.aaschool.ac.uk ©2012 All rights reserved Published by the Architectural Association 36 Bedford Square, London WC1B 3ES Please send your news items for the next issue to [email protected] Editorial Board Alex Lorente, Membership Brett Steele, AA School Director Zak Kyes, AA Art Director Editorial -

Docomomo US Modern Brazil São Paulo - Brasília - Rio De Janeiro October 17, 2019 - October 27, 2019
Docomomo US Modern Brazil São Paulo - Brasília - Rio de Janeiro October 17, 2019 - October 27, 2019 Docomomo US Modern Brazil is the third in a series of exclusive modern architecture, art and design travel experiences. This ten-day, nine-night trip features the work of Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi, Afonso Eduardo Reidy, Lucio Costa among others. Travelers will experience a journey through the history of modern architecture in Brazil. From its early sinuous and iconic Carioca School designs through its brutalist Paulista School period, guests will experience the 20th century through three of Brazil’s most important cities: São Paulo, Brasília and Rio de Janeiro. Highlights of the tour include the opportunity to visit many of Oscar Niemeyer’s most important works including Ibirapuera Auditorium, Copan Building Casa de Canoas Oscar Niemeyer’s family home. Guests will enjoy two days exploring the country’s capital of Brasília with stops all along Brasília’s Monumental Axis including: Three Power Square, the National Congress, the Metropolitan Cathedral, and Itamaraty Palace. In São Paulo, guests will visit the Lina Bo Bardi designed Glass House for a special curator’s tour in addition to a visit to Bo Bardi’s São Paulo Museum of Modern Art. In Rio, highlights include a visit to Park Guinle by Lucio Costa, the Ministry of Education and Culture building, in addition to two works by Afonso Eduardo Reidy: The Museum of Modern Art and the Pedregulho residential project. Modern Brazil offers a unique travel opportunity in a small group setting featuring access to modern homes and buildings considered off the beaten path or not ordinarily open to the public. -

Fevereiro 2020
Fevereiro 2020 1 Legenda de preços Trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e seus dependentes. Aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor da escola pública com comprovante. 2 O Sesc – Serviço Social do Comércio é uma entidade privada mantida e administrada pelo empresariado dos setores do comércio de bens, serviços e turismo. Realiza ações que têm por finalidade a promoção do bem-estar social, o desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores desses setores e da comunidade em geral, acreditando na educação não-formal e permanente como base para a transformação social. O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc é um espaço que articula produção, formação e difusão de conhecimentos, por meio de cursos, palestras, encontros, estudos, pesquisas e publicações nas áreas de Educação, Cultura e Artes. Além de contar com salas de atividades, aulas, leitura e uma Biblioteca com 10.000 volumes, o Centro publica artigos em seu site e Biblioteca Online, multiplicando o conhecimento produzido e colaborando com o aprimoramento da Gestão Cultural. O CPF Sesc é composto por três núcleos: o Núcleo de Pesquisas, que se dedica à produção de bases de dados, diagnósticos e estudos em torno das ações culturais e dos públicos. O Núcleo de Formação, que promove encontros, palestras, oficinas, seminários e cursos. O Núcleo de Difusão, que se volta para o lançamento de trabalhos nacionais e internacionais que ofereçam subsídios à formação de gestores e pesquisadores. Foto capa Atividade: Tons de Machete: Recuperação de técnicas da viola machete no samba do Recôncavo Baiano Foto: Tiago de Oliveira Pinto, 1987 - João de Deus e Valfrido de Jesus, Santo Amaro da Purificação, Bahia, performando samba-de-viola. -

Tensão Moderno/Popular Em Lina Bo Bardi: Nexos De Arquitetura
EDUARDO PIERROTTI ROSSETTI Tensão moderno/popular em Lina Bo Bardi: nexos de arquitetura DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – SALVADOR 2002 Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia Orientador: Prof. Dr. Pasqualino Romano Magnavita MESTRADO EM ARQUITETURA E URBANISMO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CONSERVAÇÃO E RESTAURO 1 Tensão moderno/popular em Lina Bo Bardi: nexos de arquitetura EDUARDO PIERROTTI ROSSETTI Dissertação submetida ao corpo doscente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Arquitetura e Urbanismo. ORIENTADOR: Prof. Dr. Pasqualino Romano Magnavita BANCA EXAMINADORA: Prof. Dr. Pasqualino Romano Magnavita _____________________________ Profa. Dra. Odete Dourado Silva ___________________________________ Profa. Dra. Silvana Barbosa Rubino _________________________________ Salvador, Bahia, 11 de outubro de 2002 2 ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. Tensão moderno/popular em Lina Bo Bardi: nexos de arquitetura/ Eduardo Pierrotti Rossetti. – Salvador, 2002. 160 p.. Ilustrada. Dissertação (Mestrado) – Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura. Universidade Federal da Bahia, 2002. 3 Este trabalho é dedicado à memória de meus avós e ao empenho vivaz de meus pais para sua realização. 4 AGRADECIMENTOS Agradecimentos são fundamentais, pois esta dissertação não seria possível sem a adesão espontânea e a colaboração irrestrita de muitas pessoas incríveis! Depois de vê-la finalizada, agradeço aos meus pais, ao Renato e à Carolina, pelas perspectivas abertas, pela paciência inquestionável e pela confiança que só eles teriam. Agradeço ao tio Betinho e à tia Lucinha, ao tio Joel e à tia Alice; e a todos da família que acreditaram em mim. -

O Museu De Arte De São Paulo E O Solar Do Unhão Silvana Barbosa Rubino ([email protected]) Departamento De Arquitetura – CEATEC – Puccamp
Uma Arquiteta, Duas Capitais, Dois Projetos de Museu: o Museu de Arte de São Paulo e o Solar do Unhão Silvana Barbosa Rubino ([email protected]) Departamento de Arquitetura – CEATEC – PUCCamp Resumo O Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Solar do Unhão, em Salvador, BA, onde funcionou por um breve período um Museu de Arte Popular, são projetos arquitetônicos de Lina Bo Bardi. Nesse texto, chamamos os dois museus de “projetos totais”, uma vez que vão do edifício e sua relação com o contexto urbano até a definição do espaço interno, opções museológicas, acervo, exposições, publicações. Lina esteve por trás de todas essas tarefas. Contudo, mesmo tratando-se da mesma arquiteta romana que se mudou para o Brasil em 1947, os museus têm particularidades que – é esse o argumento do texto – vinculam-se a transformações culturais, sociais e econômicas que as duas cidades viviam nos anos do pós- guerra. Diferentes concepções de modernidade: Salvador vivia um “renascimento” enquanto São Paulo afirmava sua centralidade de cidade industrial. Palavras-chave: Lina Bo Bardi; MASP; Solar do Unhão; Arquitetura; Brasil 1945-1964; cidades Abstract The São Paulo Museum of Arts (MASP) and the Solar do Unhão, located in Salvador, BA, where for a short term there was a Museum of Popular Arts, have been designed by Lina Bo Bardi. In this essay, we name both museums “total designs”, for they cover a wide range, from the building and its connections to urban space, to museological choices, exhibitions, periodicals, collection. Lina had been concerned to all these tasks. Nevertheless, even if we consider that the same roman female architect, who moved to Brazil in 1947, designed both buildings, both museums had particular aspects.