Pedro S. Malan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Brazil's Largest Private Banks: an Economic and Sociopolitical Profile
Sociologias vol.3 no.se Porto Alegre 2007 Brazil’s largest private banks: an economic and sociopolitical ∗∗∗ profile Ary Cesar Minella Universidade Federal de Santa Catarina (Federal University of Santa Catarina). Email: [email protected] ABSTRACT This study examines elements of the power of financial institutions, emphasizing control over capital flow – characterized as financial hegemony – the constitution of economic or financial groups, the structure of representation of the segment's class interests, and its participation in the political process and in State decision-making mechanisms. Considering the economic restructuring undergone by Brazil in the 1990s, the work draws a profile of the ten largest private banks based on selected economic and sociopolitical indicators. Beyond their stance as mere financial intermediaries, it indicates the degree to which those banks become economic groups and, especially, larger organizational units, which is shown in connections with the State and in the class's actual organization and actions in the corporate and political realms. Key words: Financial system, bank concentration, financial groups, financial hegemony, class representation. Introduction To discuss the theme of this issue’s dossier, it is important to consider the role of the financial system in the process of wealth concentration in Brazil in recent years. With a relatively high degree of concentration of financial operations in a few state and private institutions, the financial system has made use of several mechanisms to accumulate wealth. The importance of each mechanism has varied ∗ This work is related to the research project " América Latina: uma visão sociopolítica das transformações e das perspectivas do sistema financeiro – III etapa " (Latin America: a sociopolitical view on the changes and prospects of the financial system – stage 3), with support from CNPq (Brazilian National Council of Research). -

Universidade Federal De Juiz De Fora Faculdade De Administração E Ciências Contábeis Curso De Administração
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ROTAÇÃO DOS GESTORES DO CAPITAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO (1990-2016) VICTOR DA SILVA CASTRO JUIZ DE FORA 2017 VICTOR DA SILVA CASTRO ROTAÇÃO DOS GESTORES DO CAPITAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO (1990-2016) Monografia apresentada pelo acadêmico Victor da Silva Castro ao curso de Administração da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Administração. Orientador: Prof. Dr. Elcemir Paço Cunha Juiz de Fora FACC/UFJF 2017 AGRADECIMENTOS À minha família por sua presença a todo o momento nestes anos, apoiando e fazendo com que fosse possível realizar o curso de graduação. Aos amigos que sempre estiveram ao meu lado tanto nos momentos difíceis e como nos momentos felizes. Às pessoas que fizeram valer a pena toda esta nova experiência, aos novos amigos, mas não menos importantes, que foram conquistados e para sempre permanecerão ao meu lado. Ao meu orientador, Elcemir Paço Cunha, que não só ajudou muito na realização de tal trabalho, mas também fez com que minha mente e meus olhos fossem abertos, além de suas aulas terem justificado minha permanência no curso apesar de todas críticas a ele. DEDICATÓRIA Aos meus pais, principalmente à minha mãe, e a todos que, através de sua luta diária, fizeram da universidade pública uma realidade, que tornaram isto possível. Esta universidade deve pertencer ao povo! UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS Termo de Declaração de Autenticidade de Autoria Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, junto à Universidade Federal de Juiz de Fora, que meu Trabalho de Conclusão de Curso é original, de minha única e exclusiva autoria e não se trata de cópia integral ou parcial de textos e trabalhos de autoria de outrem, seja em formato de papel, eletrônico, digital, audiovisual ou qualquer outro meio. -

Persio Arida
XX Persio Arida Brasília 2019 História Contada do Banco Central do Brasil XX Persio Arida Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca do Banco Central do Brasil – v. 20 Banco Central do Brasil Persio Arida / Banco Central do Brasil – Brasília : Banco Central do Brasil, 2019. 96 p. ; 23 cm – (Coleção História Contada do Banco Central do Brasil; v. 20) I. Banco Central do Brasil – História. II. Entrevista. III. Arida, Persio. IV. Título. V. Coleção. CDU 336.711(81)(091) Apresentação O Banco Central do Brasil tem mais de 50 anos. A realização de entrevistas orais com personalidades que contribuíram para a sua construção faz parte da memória dessa Instituição, que tão intimamente se vincula à trajetória econômica do país. Essas entrevistas são apresentadas nesta Coleção História Contada do Banco Central do Brasil, que complementa iniciativas anteriores. É um privilégio poder apresentar esta Coleção. As entrevistas realizadas permitem não apenas um passeio pela história, mas também vivenciar as crises, os conflitos, as escolhas realizadas e as opiniões daqueles que deram um período de suas vidas pela construção do Brasil. Ao mesmo tempo, constituem material complementar às fontes históricas tradicionais. O conjunto de depoimentos demonstra claramente o processo de construção do Banco Central como instituição de Estado, persistente no cumprimento de sua missão. A preocupação com a edificação de uma organização com perfil técnico perpassa a todos os entrevistados. Ao mesmo tempo em que erguiam a estrutura, buscavam adotar as medidas de política econômica necessárias ao atingimento de sua missão. É evidente, também, a continuidade de projetos entre as diversas gestões, viabilizando construções que transcendem os mandatos de seus dirigentes. -

The Brazilian Economy from Cardoso to Lula: an Interim View
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Paiva Abreu, Marcelo; Werneck, Rogério L. F. Working Paper The Brazilian economy from Cardoso to Lula: An interim view Texto para discussão, No. 504 Provided in Cooperation with: Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Suggested Citation: de Paiva Abreu, Marcelo; Werneck, Rogério L. F. (2005) : The Brazilian economy from Cardoso to Lula: An interim view, Texto para discussão, No. 504, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Departamento de Economia, Rio de Janeiro This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/175989 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu TEXTO PARA DISCUSSÃO No. -

Growth, Poverty Reduction, and Inequality
32691 At the Frontlines of Public Disclosure Authorized Development Reflections from the World Bank Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized EDITED BY INDERMIT S. GILL & TODD PUGATCH Public Disclosure Authorized THE WORLD BANK At the Frontlines of Development Reflections from the World Bank At the Frontlines of Development Reflections from the World Bank Edited by Indermit S. Gill and Todd Pugatch Washington, D.C. © 2005 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, NW Washington,DC 20433 Telephone 202-473-1000 Internet www.worldbank.org E-mail [email protected] All rights reserved. 123408070605 The findings, interpretations, and conclusions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Board of Exec- utive Directors of the World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work.The boundaries, colors, denominations, and other informa- tion shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of the World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Rights and Permissions: The material in this work is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be a violation of applicable law.The World Bank encourages dissemination of its work and will normally grant permission promptly. For permission to photocopy or reprint any part of this work, please send a request with complete information to the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA, telephone 978-750-8400, fax 978-750-4470, www.copyright.com. -

O Saldo Do Economista
01/10/2018 O saldo do economista Imprimir () 16/06/2017 - 05:00 O saldo do economista Por Daniel Salles Persio Arida entra na Taberna 474 sem o peso de um banco nas costas. Três dias antes daquela segunda-feira ensolarada de 29 de maio, o economista anunciara sua renúncia ao cargo de conselheiro do BTG Pactual e a venda, ao longo dos próximos meses, de todas as suas ações. Descontraído e sorridente, veste paletó preto com camisa lilás, calça jeans escura e sapato marrom. Nada no aspecto dele lembra o compenetrado executivo que assumiu o comando do banco em novembro de 2015, um dia após a prisão do fundador e maior acionista, o carioca André Esteves, acusado de planejar obstruir as investigações da Operação Lava-Jato. A detenção do ex-controlador, solto no mês seguinte, foi catastrófica para o BTG. As atividades ligadas ao mercado de capitais não foram tão afetadas, mas as operações de crédito, nas quais o banco apostava, foram drasticamente reduzidas. Sem uma equipe altamente qualificada, poucos bancos não quebrariam num cenário parecido - por lei, o governo não pode socorrê-los com o chamado "bail-out". "Minha vontade de sair vem de 2014", diz Arida logo no início deste "À Mesa com o Valor". "Você trabalha em banco para ganhar dinheiro, mas chega um momento na vida que diz: 'Prefiro me dedicar a outros projetos a ter mais dinheiro'". Arida ficou no que ele define como "vai, não vai" até 2015. "Com o que aconteceu, fui obrigado a dar meia-volta, volver, a assumir a posição de chairman e focar totalmente." Estancada a sangria, cedeu a presidência do conselho do BTG para Marcelo Kalim, em novembro de 2016. -

"Never Before in the History of This Country?": the Rise of Presidential Power in the Lula Da Silva and Rousseff Administrations (2003-2016)
Washington International Law Journal Volume 28 Number 2 4-1-2019 "Never Before in the History of This Country?": The Rise of Presidential Power in the Lula Da Silva and Rousseff Administrations (2003-2016) Mauro Hiane de Moura Follow this and additional works at: https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj Part of the Comparative and Foreign Law Commons, and the President/Executive Department Commons Recommended Citation Mauro H. de Moura, "Never Before in the History of This Country?": The Rise of Presidential Power in the Lula Da Silva and Rousseff Administrations (2003-2016), 28 Wash. L. Rev. 349 (2019). Available at: https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol28/iss2/5 This Article is brought to you for free and open access by the Law Reviews and Journals at UW Law Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Washington International Law Journal by an authorized editor of UW Law Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Compilation © 2019 Washington International Law Journal Association “NEVER BEFORE IN THE HISTORY OF THIS COUNTRY?”: THE RISE OF PRESIDENTIAL POWER IN THE LULA DA SILVA AND ROUSSEFF ADMINISTRATIONS (2003-2016) Mauro Hiane de Moura* Abstract: After the impeachment of President Collor de Mello (1990-1992), Brazil finally managed to devise and implement an economic plan that, firmly based on economic science, eradicated the country's long-standing hyperinflation. In the following Cardoso Administration (1995-2002), new regulatory frameworks were introduced in several different sectors—the implementation and oversight of which were entrusted to Regulatory Agencies relatively insulated from the Presidency. -

Vinte Anos Do Plano Real*
2014: vinte anos do Plano Real* Fábio Guedes Gomes1 Nas salas de aulas das universidades e faculdades brasileiras os alunos e alunas têm idade média de 22 anos. Isso não é diferente nos cursos de economia. Um ou outro possui mais do que essa média. Acima de 30 anos é raridade. Então, o sujeito que já completou três décadas de existência estendia uma das mãos aos pais para atravessar a rua em direção à escola, por exemplo. De acordo como último censo demográfico do IBGE [2010], o total da população brasileira atingiu pouco mais de 190 milhões de pessoas. Até os 30 anos são 100,8 milhões. Com trinta anos completos apenas 3,5 milhões. Isso significa que, atualmente, 53% do total da população do país não sabem ou conheceram na prática o que foi ou representou o Plano Real e seu desenrolar. Apenas cerca de um terço da população vivenciou, verdadeiramente, a experiência do Plano Real. Fora desse universo um percentual muito pequeno dedicou algum tempo em sua vida a estudar, ler e interpretar artigos sobre o assunto. Com certeza a grande maioria das pessoas no país somente ouviu falar ou apenas conhece o Plano Real por causa da moeda que usa. Portanto, trata-se de mais uma página de nossa história recente. Para início de conversa é importante lembrar que no início da década de 1990 a conjuntura econômica internacional estava muito favorável, com os capitais voltando a circular em maiores volumes pelos mercados, intensificando os fluxos buscando novos horizontes de rentabilidade e remuneração. Bem diferente do contexto da década de 1980, quando encurralados por uma crise de liquidez internacional e uma dívida externa estratosférica, o Brasil tinha grandes dificuldades de realizar pagamentos ao exterior, com sucessivas desvalorizações da moeda nacional e, por consequência, processos inflacionários crônicos. -

Circumstances and Institutions: Notes on Monetary Policy in Brazil in the Last 14 Years Gustavo H
Circumstances and institutions: Notes on monetary policy in Brazil in the last 14 years Gustavo H. B. Franco Looking back to the record of monetary policy in Brazil in the recent past it occurred to me that Brazilian policy makers are entering into the seventh year of the Real Plan, an effort which ended a hyperinflation process that, according to Michael Bruno’s criteria[1], lasted a little more than seven years. It would be interesting, therefore, to go back in time for exact fourteen years in order to observe as much time under hyperinflation as to its extermination. In light of my experience at the Central Bank of Brazil in the second half of that period, two elements seem to stand as key to explain monetary policy in Brazil during these turbulent fourteen years: circumstances and institutions. This may sound somewhat of platitude since, on the one hand, after all, “money is not a mechanism; it is a human institution, one of the most remarkable human institutions”, according to John Hicks (1967, p. 59), so that all questions of monetary policy could be seen ultimately as institutional in nature. On the other, is it not public policy, and monetary policy more specifically, mostly an effort to respond to circumstances? But the problem with the Brazilian experience during these years was that actions and policies of the Central Bank seemed either overwhelmed by circumstances or severely constrained by existing institutions. So much that policy choices always appeared exceedingly limited, or even minor, in view of available alternatives. Emergencies seemed the rule rather than the exception on the one hand and also, on the other, it was common to see second or third best, or even outright bad policies being “traded for” institutional advances, or rules to preclude such policies in the future. -

A Era Fhc Nas Representações Da Mídia Impressa (1993 – 2002)
Universidade de Brasília Instituto de Ciências Humanas Departamento de História Programa de Pós-Graduação NUNCA FOI TÃO FÁCIL FAZER UMA CRUZ NUMA CÉDULA? A ERA FHC NAS REPRESENTAÇÕES DA MÍDIA IMPRESSA (1993 – 2002) David Renault da Silva Brasília, dezembro de 2006 I Universidade de Brasília Instituto de Ciências Humanas Departamento de História Programa de Pós-Graduação NUNCA FOI TÃO FÁCIL FAZER UMA CRUZ NUMA CÉDULA? A ERA FHC NAS REPRESENTAÇÕES DA MÍDIA IMPRESSA (1993 – 2002) David Renault da Silva Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília – Área de Concentração: História Cultural, Linha de Pesquisa: Identidades, Tradições e Processos – para a obtenção do título de Doutor em História. Orientadora: Profª Dra. Maria T. Ferraz Negrão de Mello Brasília, dezembro de 2006 II NUNCA FOI TÃO FÁCIL FAZER UMA CRUZ NUMA CÉDULA? A ERA FHC NAS REPRESENTAÇÕES DA MÍDIA IMPRESSA (1993 – 2002) Banca examinadora Profª Dra. Maria T. Ferraz Negrão de Mello (Presidente) Prof. Dr. Antônio José Barbosa (Membro) Profª Dra. Eleonora Zicari Costa de Brito (Membro) Prof. Dr. Luiz Gonzaga Motta (Membro) Profª Dra. Teresinha Aparecida Mendes Marra (Membro) Profª Dra. Márcia de Melo Martins Kuyumjian (Suplente) III O ÚLTIMO POEMA Assim eu quereria o meu último poema Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos A paixão dos suicidas que se matam sem explicação Manuel Bandeira IV Para seu Mundinho e dona Cenira, o começo de tudo, na gloriosa Santana dos Brejos, sertão da Bahia. -

Sindicalismo. Lisboa, Iniciativas Editoriais, Coleção “Fbntos De Vista”, 1974
MAURI ANTONIO DA SILVA BANCARIOS E DESEMPREGO F lexibilização n o Tr ab alh o e E stratégias S in d ic a is F lorianópolis - 1 9 9 9 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA POLÍTICA BANCÁRIOS E DESEMPREGO Flexibilização no Trabalho e Estratégias Sindicais Mauri Antônio da Silva Esta Dissertação foi julgada e aprovada em sua forma final pela Orientadora e Membros da Banca Examinadora, composta pelos Professores: Profa. Dra. Berraáydete Wrublevski Aued Orientadora Prof. Dr. Ary pesar MHiella Membro / Prof. Dr. Clariton E.D. Cardoso Ribas Membro Profa Coordenadora Florianópolis, junho de 1999. III Resumo Esta pesquisa analisa a natureza e as conseqüêndas das transformações ocorridas no capitalismo para a categoria bancária e para os sindicatos.Toma como base o estudo do Bradesco, o maior banco privado nacional. As transformações no sistema capitalista internacional a partir dos anos 70 levam à concentração e centralização de capital, aumentando as desigualdades sociais e econômicas em todo o mundo, constituindo um novo padrão de acumulação capitalista denominado acumulação flexível. Os capitalistas tentam eliminar as conquistas trabalhistas e reestruturam as empresas para ampliar a exploração da força de trabalho. O resultado são as enormes taxas de desemprego. As fusões entre bancos, para suportarem a concorrência e sua internacionalização cada vez maior, combinadas com as mudanças tecnológicas, organizacionais e institucionais trazem desemprego para os bancários. Os impasses do sindicalismo em nível mundial - que ingressa numa fase defensiva para enfrentar a crise do capitalismo - têm reflexos nas lutas de classe. O desemprego é resultante do modo de produção capitalista e a organização sindical bancária não consegue mobilização dos trabalhadores bancários para lutar pela implantação de propostas de defesa do emprego. -
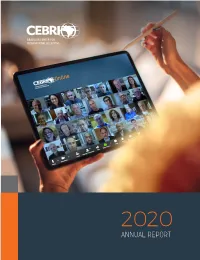
Annual Report 2020
BRAZILIAN CENTER FOR INTERNATIONAL RELATIONS 2020 ANNUAL REPORT THINKING DIALOGUING DISSEMINATING INFLUENCING www.cebri.org Table of Contents 04 PRESENTATION 06 2020 HIGHLIGHTS 11 CEBRI IN NUMBERS 2020 12 PROGRAMS 13 South America 16 Asia 20 United States 23 Europe 25 Multilateralism 29 Agro 32 International Trade 34 Culture and International Relations 37 Energy 40 Infrastructure 42 Environment and Climate Change 46 International Security 49 MEETINGS WITH PUBLIC OFFICIALS AND EXECUTIVES 51 CEBRI ONLINE EVENTS 52 Foreign Policy 54 Economic Policy 55 Brazil 57 COMMUNICATION 58 Social Media 59 Press 61 NETWORKING 62 Stakeholders 64 Members 66 Partnerships 68 INSTITUTIONAL 69 About CEBRI 70 Board of Trustees 72 International Board 73 Senior Fellows 75 Individual Members 76 CEBRI Staff Presentation Getting through 2020, with all its uncertainties, impelled us to reinvent ourselves every day. We reach this moment with satisfaction for seeing CEBRI gain a new dimension, expanding its reach and recognition and further fulfilling its mission as a think tank. We held 135 events with a total audience of 150,000 people. In this document, you will find the links to the recording of all of this year’s events. Among the many themes on our agenda, in 2020 we dedicated special attention to discussing and reflecting upon geopolitics and foreign policy. In addition to the discussion panels, we launched 46 José Pio Borges publications, which are also available in the following pages. Chaiman of the Board of Trustees at CEBRI Throughout the year, we restructured some of our thematic programs, totaling twelve fronts of work. In 2021, we will launch position papers with CEBRI’s recommendations on the respective areas.