Tese Doutorado Pedro Plaza Pinto
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Do Teatro Ao Cinema – Três Olhares Sobre O Auto Da Compadecida1
Do Teatro ao Cinema – três olhares sobre o Auto da Compadecida1 Cláudio Bezerra2 Universidade Católica de Pernambuco Sinopse O presente trabalho faz um estudo comparativo das três adaptações cinematográficas da peça Auto da Compadecida, do escritor Ariano Suassuna. A análise observa e compara as características gerais dos três filmes em relação a alguns elementos narrativos como fábula, trama, caracterização dos personagens, presença do narrador, pontos de vista e montagem. Sem qualquer julgamento de valor, procura-se entender a adaptação como um processo que envolve opções estéticas pessoais, relacionadas a certas tendências dominantes na linguagem audiovisual. Palavras-chave: cinema; adaptação; narrativa; Auto da Compadecida. Introdução A transposição de um texto literário ou dramático para o audiovisual, chamada adaptação3, é uma operação complexa e envolve uma série de detalhes, sutilezas e possibilidades criativas, muitas vezes não levadas em consideração quando da análise de obras adaptadas. Durante muito tempo, o debate em torno da adaptação esteve concentrado no problema da fidelidade ao texto de origem e, não raro, os críticos julgavam o trabalho do cineasta com critérios específicos ao campo literário (as propriedades sensíveis do texto) e procuravam sua tradução no que é específico do cinema (fotografia, trilha, ritmo da montagem, composição das personagens, etc). Mas, os estudos sobre as adaptações têm passado por um processo evolutivo, com novos aportes teóricos sendo incorporados à análise cinematográfica. É nesse contexto em que a metalinguagem tem sido apontada como um elemento central para o entendimento da obra fílmica, e as análises das adaptações passaram a dar uma atenção especial aos deslocamentos entre as culturas. Através da metalinguagem, a adaptação de um texto 1 Trabalho apresentado ao NP 07 – Comunicação Audiovisual, do IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. -

Programa De Pós.Graduação Direção Teatral //2019
PROGRAMA DE PÓS.GRADUAÇÃO DIREÇÃO TEATRAL //2019 CURSO DE OBJETIVO ESPECIALIZAÇÃO O curso propõe apresentar de forma prática e teórica uma meto- LATO SENSU dologia básica para o diretor teatral. Teatro é uma arte de colaboração, embora, como arte, seja indi- CARGA HORÁRIA visível. Criar uma unidade coerente entre todos os elementos 360 HORAS diversos do teatro é competência de uma pessoa: o diretor. 320 PRESENCIAIS + O diretor tem um papel independente, mas precisa guiar e, ao 40 COMPLEMENTARES mesmo tempo, depender de seus colaboradores. O curso propõe articular o papel transdisciplinar do diretor. PERÍODO Convenções teatrais e técnicas de encenação estão sujeitas às 03.JUN A transformações. Todavia a metodologia do diretor se baseia nos 01.DEZ 2019 fundamentos do teatro em sua natureza única. O método não rejeita nem o talento nem os experimentos, e sim, os pressupõe como necessários para a criação artística. HORÁRIOS 14h às 18h O método é um auxílio à criatividade e a criatividade é um ato 2ª / 4ª / 5ª pessoal ligado à perspectiva humana e orientação estética do artista. LOCAL Instituto CAL CONTEÚDO PROGRAMÁTICO de Arte e Cultura Unidade CAL Glória EIXO PRÁTICO 184H Rua Santo Amaro 44 MÓDULO 1 . A PRÁTICA DO ENCENADOR I 38h VAGAS Através de exercícios cênicos serão explorados os seguintes conceitos: Os pontos orientadores do Enredo; A Perspectiva do Diretor; O Trabalho com 25 o Ator. (Uma das tarefas principais do diretor é o trabalho com o ator. O ator não é somente a matéria-prima do ato teatral, mas também seu criador. É o criador e o objeto da criação do diretor.) FACULDADE CAL DE ARTES CÊNICAS : PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREÇÃO TEATRAL : 2019 MÓDULO 2 . -
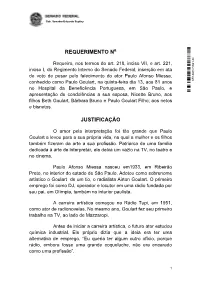
Requerimento Nº , De 2009
Gab. Senador Eduardo Suplicy REQUERIMENTO No Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do ator Paulo Afonso Miessa, conhecido como Paulo Goulart, na quinta-feira dia 13, aos 81 anos SF/14289.74661-40 no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e apresentação de condolências a sua esposa, Nicette Bruno, aos filhos Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho; aos netos e bisnetos. JUSTIFICAÇÃO O amor pela interpretação foi tão grande que Paulo Goulart a levou para a sua própria vida, na qual a mulher e os filhos também fizeram da arte a sua profissão. Patriarca de uma família dedicada à arte de interpretar, ele deixa um vazio na TV, no teatro e no cinema. Paulo Afonso Miessa nasceu em1933, em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Adotou como sobrenome artístico o Goulart de um tio, o radialista Airton Goulart. O primeiro emprego foi como DJ, operador e locutor em uma rádio fundada por seu pai, em Olímpia, também no interior paulista. A carreira artística começou na Rádio Tupi, em 1951, como ator de radionovelas. No mesmo ano, Goulart fez seu primeiro trabalho na TV, ao lado de Mazzaropi. Antes de iniciar a carreira artística, o futuro ator estudou química industrial. Ele próprio dizia que a ideia era ter uma alternativa de emprego. “Eu queria ter algum outro ofício, porque rádio, embora fosse uma grande coqueluche, não era encarado como uma profissão”. 1 Gab. -

O Í DIO No Cinema Brasileiro E O ESPELHO RECE TE
JULIAO GOÇALVES DA SILVA O ÍDIO no cinema brasileiro E O ESPELHO RECETE Dissertação apresentada ao Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, para obtenção do Título de Mestre em Multimeios Orientador: Prof. Dr. Fernão Pessoa de Almeida Ramos CAMPIAS 2002 iii FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO ISTITUTO DE ARTES DA UICAMP Silva, Juliano Gonçalves da. Si38i O índio no cinema brasileiro e o Espelho Recente. / Juliano Gonçalves da Silva. – Campinas, SP: [s.n.], 2002. Orientador: Fernão Pessoa Ramos. Dissertação(mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes. 1. Índio. 2. Cinema. 3. Imagem. 4. Estética. I. Ramos, Fernão Pessoa. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Artes. III. Título. (lf/ia) Título em ingles:“The indian in brazilian cinema and the recent mirror” Palavras-chave em inglês (Keywords): Indian – Cinema – Image - Aesthetic Titulação: Mestre em Multimeios Banca examinadora: Prof. Dr. Fernão Pessoa de Almeida Ramos Prof. Dr. José Soares Gatti Junior Profa. Dra. Neusa Maria Mendes de Gusmão Data da defesa: 28 de Agosto de 2002 Programa de Pós-Graduação: Multimeios iv Instituto de Artes Comissão de Pós-Graduação Defesa de Dissertação de Mestrado em Multimeios, apresentada pelo Mestrando Juliano Gonçalves da Silva - RA 994951, como parte dos requisitos para a obtenção do título de MESTRE EM MULTIMEIOS, apresentada perante a Banca Examinado:ra: Prof. Dr. Fernão Pessoa de A Ramos -D:MM:/IA Presidente/Orientador Prof. Dr. José Soares Gatti Junior -Artes/UFSCar Membro Titula:r Profa. Dra. Neusa Maria Mendes de Gusmão -FE Membro Titula:r 2 \..9 ~ ,f) UNrCA.MP (\- BmUOTECA CeNTRAL CtSAH LXtTES ~ v DESFNVOLVr:'~E;'iTO'MU_____--.--[jE COLf:ÇAO ,. -

O Teatro Adulto Na Cidade De São Paulo Na Década De 1980 / Alexandre Mate
Alexandre Alexandre Mate A seleção do que é exposto no livro é bastante Este livro é resultado de pesquisa e reflexão prodigiosas sobre Conheci Alexandre Mate em 1985, quando estáva- feliz, pois apresenta um aspecto geral do teatro durante mos envolvidos na realização de um trabalho extrema- os anos de 1980, em que cabem tanto as experiências o teatro em São Paulo nos anos de 1980. A elaboração analítica mente difícil e desafiador: apresentar novas propostas radicais de um Gerald Thomas, como os trabalhos mais de um panorama exaustivo da produção comercial produz os curriculares para professores da rede estadual de escolas singelos do chamado “besteirol”. Na amplitude que dis- critérios necessários ao exame da trajetória de dois grupos – do estado de São Paulo, dentro de um órgão pertencen- tancia vivências teatrais quase antagônicas, um ponto em te à Secretaria de Educação denominado Coordenadoria comum: a incompreensão apressada da crítica que reage Teatro União e Olho Vivo e Apoena/Engenho Teatral –, que, por de Estudos e Normas Pedagógicas (Cenp). Ele fazia parte segundo o senso comum, negando-se a reconhecer “o opções ética, política e estética, atuaram à margem do circuito, da equipe de Educação Artística que tentava construir a que não é espelho”. A acertada preocupação do autor proposta para essa disciplina, e eu compunha a equipe de está na questão tanto da acessibilidade do teatro, ou pagando o preço da incompreensão crítica e da invisibilidade História com o mesmo propósito. Estávamos, portanto, seja, a quem ele consegue atingir, bem como daquilo social. Em reviravolta histórica, esses mesmos grupos se torna- em meio àquela que não foi uma “década perdida”. -

A Atriz Nicette Bruno Morre, Aos 87 Anos, No Rio, Vítima Da Covid-19 'A
RIO DE JANEIRO, SEGUnda-FEIRA, 21/12/2020 · MEIA HORA 3 GERAL LLLUTO ADEUS À DIVA A atriz Nicette Bruno morre, aos 87 anos, no Rio, vítima da Covid-19 REPRODUÇÃO DA INTERNET JOÃO MIGUEL JÚNIOR / TV GLOBO Brasil perdeu um dos grandes nomes da dra- Homenagens Omaturgia do país. A atriz Nicette Bruno morreu na ma- de famosos nhã de ontem, aos 87 anos, víti- ma da Covid-19. Ela estava inter- LLFamosos usaram as redes sociais nada na Casa de Saúde São José, para prestar homenagens a Nicet- no Humiatá, na Zona Sul do Rio, te Bruno. “A nossa querida Nicette desde o fim do mês passado. Bruno nos deixou. Mais uma víti- “A Casa de Saúde São José in- ma da Covid. Nicette fez história forma que a atriz Nicette Bruno, na televisão brasileira. Era amada que estava internada no hospital por todos, um coração de ouro. desde 26 de novembro, faleceu Tive o privilégio de trabalhar com hoje (ontem), às 11h40, devido ela”, escreveu o autor de novelas a complicações decorrentes da Walcyr Carrasco. “Nicette se foi. Covid-19”, afirmou o hospital Que tristeza! Que ela descanse em em um comunicado. paz e encontre seu grande amor O corpo de Nicette será crema- no outro plano”, postou a canto- do hoje, às 13h30, no Cemitério Nicette atuou em ‘Éramos Seis’ ra Fafá de Belém. “Dona Nicette, da Penitência, no Caju. Segundo AGNEWS minha querida amiga, um ser ilu- a Globo News, o velório será restri- minado de talento e carinho. Per- to à família da atriz. -

Dom Casmurro Sem Dom Casmurro
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA BRASILEIRA CESAR ADOLFO ZAMBERLAN Dom Casmurro sem Dom Casmurro São Paulo 2007 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA BRASILEIRA Dom Casmurro sem Dom Casmurro Cesar Adolfo Zamberlan Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de Mestre em Letras. Orientador: Prof. Dr. Hélio de Seixas Guimarães São Paulo 2007 Cesar Adolfo Zamberlan Dom Casmurro sem Dom Casmurro Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de Mestre em Letras. Aprovado em: Banca Examinadora Prof. Dr.____________________________________________ Instituição____________________Assinatura ______________ Prof. Dr.____________________________________________ Instituição____________________Assinatura ______________ Prof. Dr.____________________________________________ Instituição____________________Assinatura ______________ DEDICATÓRIA A minha mãe com enorme saudade e a meu pai com enorme carinho. AGRADECIMENTOS Ao meu orientador, o Prof. Dr. Hélio de Seixas Guimarães, pelo diálogo sempre muito pertinente e pela incansável dedicação nesses anos de convivência e trabalho. Aos professores Roberto Moreira, Marcos Cesar de Paula Soares, Antonio Pasta, Alfredo Bosi, Ismail Xavier, Jorge de Almeida e Oswaldo Ceschin pelos conselhos sempre úteis e pelas indicações bibliográficas. À minha família que sempre me apoiou e compreendeu minha ausência. -

Itapuan Bôtto Targino Toma Posse Na APL Seleção Brasileira De Futebol
Ano CXX1 Número 035 R$ 1,00 Assinatura anual R$ 160,00 JoãoA Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA,UNIÃO 14 de março de 2014 121 A no S - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb POR ANO Cigarro mata 2,5 mil na PB O tabagismo continua encurtando a os anos em decorrência do uso do cigarro. de traqueia, brônquios ou pulmão ainda em vida dos paraibanos. A previsão é de que Segundo estimativa do Inca, 280 paraiba- 2014. O Estado possui aproximadamente 2,5 mil pessoas no Estado morram todos nos devem ser diagnosticados com câncer 511 mil fumantes. PáginA 9 FOTO: Ortilo Antônio Pessoenses enfrentam mais um dia de chuva com acidentes e trânsito lento em diversos pontos da cidade PáginA 14 FOTO: Divulgação 2oCaderno MPPB autua Esportes empresas que 8 Itapuan Bôtto Targino usam calçadas como “depósito” toma posse na APL PÁGInA 4 PÁGInA 8 8 Madalena Moog lança FIM DA GREVE CD Levante Popular Entrega de PÁGInA 5 cartas deve ser FPF divulga tabela do normalizada 2o turno do Paraibano em até 30 dias PÁGInA 16 Servidores dos Cor- reios na Paraíba vão rea- Seleção Brasileira de Futebol Americano terá 4 da Paraíba semana. PáginA 13 PÁGInA 15 lizar mutirão nos finais de Três homens SEM CONTRAPARTIDA ivulgação D ficam feridos OTO: F em acidente no Governo Federal anuncia R$ 3,8 bi Shopping Manaira para mobilidade e inclui João Pessoa PÁGInA 14 PÁGInA 17 clima & tempo Fonte: INMET l Escritor Amir Alves Dionísio lança o livro “Aurora” hoje, no Sebo Cultural Fonte: Marinha do Brasil LITORAL CARIRI-AGRESTE Sertão Informações úteis para a semana: l Polícia Militar encerra inscrições para a Guarda Militar da AlturaReserva Marés Hora Altura 0.3m ALTA 03h06 2.2m Nublado com DÓLAR R$ 2,360 (compra) R$ 2,361 (venda) Nublado com Nublado com l UFPB sedia no dia 22 o Encontro do Fórum de Educação Popular em Saúde chuvas ocasionais chuvas ocasionais chuvas ocasionais DÓLAR TURISMO R$ 2,330 (compra) R$ 2,440 (venda) baixa 09h02 0.4m 29o Máx. -

Redalyc.A Escrita Da História Do Teatro No Brasil: Questões Temáticas E
História (São Paulo) ISSN: 0101-9074 [email protected] Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Brasil PATRIOTA, Rosangela A escrita da história do teatro no Brasil: questões temáticas e aspectos metodológicos História (São Paulo), vol. 24, núm. 2, 2005, pp. 79-110 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho São Paulo, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=221014793004 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto A escrita da história do teatro no Brasil: questões temáticas e aspectos metodológicos″ Rosangela PATRIOTA* RESUMO: Este artigo discute a maneira pela qual a história do Teatro de Arena (São Paulo) tem sido escrita, por meio de depoimentos de seus integrantes e de teses, dissertações e ensaios acadêmicos. Além disso, estabelece um diálogo interdisciplinar entre História e Teatro a partir de questões teóricas e metodológicas. PALAVRAS-CHAVE: história e teatro; história do teatro brasileiro; Teatro de Arena (São Paulo). Sempre me pareceu que o trabalho de todo historiador está dividido entre duas exigências. A primeira, clássica e essencial, consiste em propor a inteligibilidade mais adequada possível de um objeto, de um corpus, de um problema. É por essa razão que a identidade de cada historiador lhe é dada por seu trabalho em seu território particular, -

Sobre O Cinema Popular E Erótico
0 JOSÉ INACIO DE MELO SOUZA ABRINDO AS PERNAS AO SOM DE MOZART E BARTÓK: OBSERVAÇÕES SOBRE O CINEMA POPULAR E ERÓTICO RESUMO Ensaio sobre o filme popular e a comédia erótica produzidos na Boca do Lixo de São Paulo e na “Boca” carioca durante os anos de 1969 a 1982. As balizas foram dadas pelos filmes Adultério à brasileira, de Pedro Carlos Rovai, e Coisas eróticas, de Raffaele Rossi, o primeiro filme pornográfico a vencer a barreira da Censura. PALAVRAS-CHAVES Filme Popular; Comédia Erótica; Chanchada; Pornochanchada; Exibição; Boca do Lixo ABSTRACT Essay on the popular film and erotic comedy produced at the Boca do Lixo and the "Boca" carioca between 1969 and 1982. The analisys were limited by the films Adultério à brasileira (1969), directed by Pedro Carlos Rovai, and Coisas eróticas (1982), by Raffaele Rossi, the first pornographic movie to overcome the barrier of censorship. KEY WORDS Popular film; Erotic comedy; Chanchada; Pornochanchada; Exibition; Boca do Lixo 1 INTRODUZINDO O PROBLEMA: O BANHO DE CHUVEIRO O banho de Janet Leigh em Psicose (Psycho, 1960) de Alfred Hitchcock. Há sequência no cinema moderno mais analisada do que esta? Para um filme de 109 minutos, 45 segundos parecem um tempo desmesurado para a “cena do chuveiro”, termos com que a maioria dos comentários define este mínimo espaço dentro da narrativa. Para a sequência, Hitchcock usou três ou sete bíblicos dias dos 36 empregados nas filmagens, mostrando especial carinho pela meticulosidade dedicada ao momento de terror vivido pela protagonista. O argumento central é bem conhecido. Marion Crane (Janet Leigh), depois de dar um desfalque na firma em que trabalha, hospeda-se num motelzinho decadente de beira de estrada dirigido por Norman Bates (Anthony Perkins). -

Miriam Mehler
Miriam Mehler 1 Sensibilidade e Paixão Governador Geraldo Alckmin Secretário Chefe da Casa Civil Arnaldo Madeira Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Diretor-presidente Hubert Alquéres Diretor Vice-presidente Luiz Carlos Frigerio Diretor Industrial Teiji Tomioka Diretora Financeira e Administrativa Nodette Mameri Peano Chefe de Gabinete Emerson Bento Pereira Núcleo de Projetos 2 Institucionais Vera Lucia Wey Fundação Padre Anchieta Presidente Marcos Mendonça Projetos Especiais Adélia Lombardi Diretor de Programação Rita Okamura Coleção Aplauso Perfil Coordenador Geral Rubens Ewald Filho Coordenador Operacional e Pesquisa Iconográfica Marcelo Pestana Projeto Gráfico e Editoração Carlos Cirne Revisão Cláudia Rodrigues Assistente Operacional Andressa Veronesi Tratamento de Imagens José Carlos da Silva Miriam Mehler Sensibilidade e Paixão 3 por Vilmar Ledesma São Paulo - 2005 © 2005 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação elaborados pela Biblioteca da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Ledesma, Vilmar Miriam Mehler : sensibilidade e paixão / por Vilmar Ledesma. – São Paulo : Imprensa Oficial do Estado de São Paulo : Cultura – Fundação Padre Anchieta, 2005. 240p. : il. – (Coleção aplauso. Série perfil / coordenador geral Rubens Ewald Filho). ISBN 85-7060-233-2 (Obra completa) (Imprensa Oficial) ISBN 85-7060-384-3 (Imprensa Oficial) 1. Atores e atrizes de teatro – Brasil 2. Atores e atrizes de televisão - Biografia 3. Mehler, Miriam I. Ewald Filho, Rubens II. Título. III. Série. CDD – 791.092 4 Índices para catálogo sistemático: -

Prefeitura Oferece Assistência Social a Crianças No Espaço Cazuza
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro | Poder Executivo | Ano XXXIV | Nº 244 | Quarta-feira, 24 de Fevereiro de 2021 Fernando Maia / Prefeitura do Rio Prefeitura oferece assistência social a crianças no Espaço Cazuza A Secretaria Municipal de para esta nova sede. mento somam 33 vagas. A Ana espalhar cores pelos muros da Assistência Social inaugura O centro de formação desen- Carolina tem 20 vagas para a cidade. Seus trabalhos estão hoje o Espaço Cazuza, em volverá uma metodologia inédi- chamada primeiríssima infância registrados em bairros como Laranjeiras, novo equipamen- ta na Prefeitura, voltada para os (de zero a 3 anos), e a Bia Bedran Centro e Copacabana. to da Prefeitura voltado ex- profissionais da assistência so- oferece 13, para crianças de 4 a 8 No Espaço Cazuza, Toz clusivamente para o atendi- cial envolvidos nos cuidados pa- anos, inclusive grupos de irmãos. grafitou num dos portões da mento de crianças de zero ra essa faixa etária. O trabalho O sobrado onde fica o novo casa um de seus personagens a 8 anos. No local, que já foi será multidisciplinar e inspira- espaço é o mesmo que abrigou clássicos, o Vendedor de Ale- endereço da Sociedade Viva do na abordagem Pikler, que, a Sociedade Viva Cazuza. Ele gria, inspirado nos ambulan- Cazuza, funcionarão o Centro desenvolvida pela pediatra aus- foi doado para a Prefeitura por tes que oferecem bolas nas de Formação para a Primei- tríaca Emmi Pikler no pós-guerra, Lucinha Araújo, mãe do cantor praias. A unidade também re- ra Infância e as unidades de consiste na promoção do desen- e compositor brasileiro que dá ceberá grafites de Toz na parte acolhimento Ana Carolina e volvimento infantil através dos nome à unidade.