2016 Aguedamaciasdeoliveira
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

B Ra Silia C Ity T O Ur G U Id E
Brasilia City Tour Guide - Edition # 1 - December 2017 # 1 - December - Edition Guide CityBrasilia Tour Ge t kno i an surprise Ge t kno i an surprise Brasília, JK Bridge (Lago Sul) Get to know Brasilia and be surprised. Brasilia is amazing. And it was intended that way. Since its inauguration on April 21, 1960, the city has been amazing the world with its unique beauty. Conceived by Juscelino Kubitschek, Brasilia is a masterpiece of modern architecture. Its conception results from the work and genius of the urbanist Lucio Costa and the architect Oscar Niemeyer. In addition to that, the city is full of artworks by artists such as Athos Bulcão, Burle Marx, Alfredo Ceschiatti, Marianne Peretti and Bruno Giorgi, which turn it into a unique place. Brasilia is so surprising that it was the first modern and youngest city to be declared a World Heritage Site by UNESCO in 1987, only 27 years old. The city is also full of natural riches, with many waterfalls, caves and lagoons, the perfect environments for ecological walks and outdoor sports. During your visit take the chance to get to know, discover and be enchanted with Brasilia. You will realize that the Capital of Brazil will amaze you as well. Access the guide from your smartphone. Use the QR Code to download this guide to your mobile. Ge t kno i an surprise Ge t kno i an surprise BP BRASÍLIAAND ITS TOURISTIC ATTRACTIONS THIS GUIDE IS ORGANIZED IN SEGMENTS AND EACH SEGMENT BY A CORRESPONDING COLOR. CHECK OUT THE MAIN ATTRACTIONS IN THE CITY AND ENJOY YOUR STAY! Historic-Cultural 12 a 21 Architecture 22 a 57 Civic 58 a 75 Nature 76 a 89 Mystic and Religious 90 a 103 Leisure and Entertainment 104 a 123 Tourism Historic- Cultural Get to know it, and be surprised Brasilia has a history that was conceived by great dreamers BP even before its creation. -

Asa Sul Asa Norte Lago Sul Lago Sul Lago No
VIA ESTRADA VIA ESTR TAGUATINGA SALTO CORUMBÁ P GUARÁ II ARQUE SETOR DE PIRENÓPOLIS PARQUE DE EXPOSIÇÃO GOIÂNIA SETOR DE TINGA AGROPECUÁRIA INDÚSTRIAS E UTURAL SETOR DE ARMAZENAMENTO DO TORTO A ANÁPOLIS GARAGENS E AGU ABASTECIMENTO Get to know the T GUARÁ CONCESSIONÁRIAS E ABASTECIMENTO NORTE NÚCLEO DE VEÍCULOS SETOR DE tourism sites that BANDEIRANTE OFICINAS NORTE C will amaze you. H SETOR CRUZEIRO NOVO MILITAR SETOR OCTOGONAL CRUZEIRO VELHO URBANO MILITAR 42 PARQUE URBANO NACIONAL RESIDÊNCIA 32 L DE BRASÍLIA PRESIDENCIAL DO TORTO SAÍDA SUL 01 - Juscelino Kubitschek International Airport 51 02 - Nelson Piquet Racing Circuit AO CANDANGOLÂNDIA HOSPITAL DAS SETOR ACESSO FORÇAS ARMADAS MILITAR TETINHO 03 - National Library CA URBANO INSTITUTO CHAPADA DOS VEADEIROS 04 - Asa Norte Sidewalk VALPARAÍSO SUDOESTE NACIONAL DE NOROESTE ALTO PARAÍSO 05 - Legislative Chamber LUZIÂNIA METEOROLOGIA 07 FORMOSA CALDAS NOVAS SETOR CEMITÉRIO POLICIAL 49 SALTO DO ITIQUIRA 06 - Our Lady of Aparecida Metropolitan Cathedral BELO HORIZONTE SETOR SÃO PAULO MILITAR 07 - Rainha da Paz Cathedral RIO DE JANEIRO URBANO ACESSO 08 - Banco do Brasil Cultural Center - CCBB ZOOLÓGICO A SOBRADINHO E PLANAL L 09 - Ulysses Guimarães Convention Center SETOR DE A 10 - Cine Brasilia GARAGENS 27 TORRE DE 56 SUDOESTE OFICIAIS 11 - Choro Club TV DIGIT TINA 12 - Funarte Cultural Complex SETOR DE AL SIG INDÚSTRIAS 26 13 - Acoustic Shell 29 GRÁFICAS 05 14 - National Congress Building SIG 36 04 15 - Caixa Cultural Complex 16 - Dom Bosco Chapel 22 41 17 - Lucio Costa Space Autódromo -

The Apocynaceae S. Str. of the Carrancas Region, Minas Gerais, Brazil Darwiniana, Vol
Darwiniana ISSN: 0011-6793 [email protected] Instituto de Botánica Darwinion Argentina Simões Olmos, André; Kinoshita Sumiko, Luiza The Apocynaceae s. str. of the Carrancas Region, Minas Gerais, Brazil Darwiniana, vol. 40, núm. 1-4, 2002, pp. 127-169 Instituto de Botánica Darwinion Buenos Aires, Argentina Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66940414 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative A. O. SIMÕES & L. S. KINOSHITA. The ApocynaceaeDARWINIANA s. str. of the Carrancas Region, Minas ISSNGerais, 0011-6793 Brazil 40(1-4): 127-169. 2002 THE APOCYNACEAE S. STR. OF THE CARRANCAS REGION, MINAS GERAIS, BRAZIL ANDRÉ OLMOS SIMÕES & LUIZA SUMIKO KINOSHITA Dpto. de Botânica, IB, Unicamp, Caixa Postal 6109 CEP 13083-970, Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: [email protected] ABSTRACT: Simöes, A. O. & Kinoshita, L. S. 2002. The Apocynaceae s. str. of the Carrancas Region, Minas Gerais, Brazil. Darwiniana 40(1-4): 127-169. The aims of the present work were to identify and characterize the species of Apocynaceae s. str. occurring in the Carrancas region, State of Minas Gerais, Brazil. Collections were performed from 1997 to 2000 and regional representative collections were also examined. The floristic survey showed the presence of 31 species belonging to 15 genera: Aspidosperma (5 spp.), Condylocarpon (1 sp.), Forsteronia (3 spp.), Hancornia (1 sp.), Macrosiphonia (2 spp.), Mandevilla (9 spp.), Mesechites (1 sp.), Peltastes (1 sp.), Prestonia (2 spp.), Rauvolfia (1 sp.), Rhabdadenia (1 sp.), Rhodocalyx (1 sp.), Secondatia (1 sp.), Tabernaemontana (1 sp.) and Temnadenia (1 sp.). -

Gender in the Modernist City: Shaping Power Relations and National Identity with the Construction of Brasilia Larissa Pires Iowa State University
Iowa State University Capstones, Theses and Graduate Theses and Dissertations Dissertations 2013 Gender in the modernist city: shaping power relations and national identity with the construction of Brasilia Larissa Pires Iowa State University Follow this and additional works at: https://lib.dr.iastate.edu/etd Part of the Feminist, Gender, and Sexuality Studies Commons, Latin American History Commons, and the Urban Studies and Planning Commons Recommended Citation Pires, Larissa, "Gender in the modernist city: shaping power relations and national identity with the construction of Brasilia" (2013). Graduate Theses and Dissertations. 13193. https://lib.dr.iastate.edu/etd/13193 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Iowa State University Capstones, Theses and Dissertations at Iowa State University Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Iowa State University Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. Gender in the modernist city: shaping power relations and national identity with the construction of Brasilia by Larissa Oliveira Pires A dissertation submitted to the graduate faculty in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Major: History of Technology and Science Program of Study Committee: Amy S. Bix, Major Professor David B. Wilson Kimberly E. Zarecor John W. Monroe Timothy S. Wolters Iowa State University Ames, Iowa 2013 Copyright © Larissa Oliveira Pires, 2013. All rights reserved. ii DEDICATION To Gabriela and Nathan. iii TABLE OF CONTENTS DEDICATION ii LIST OF FIGURES v LIST OF TABLES vi ACKNOWLEDGEMENTS vii ABSTRACT viii CHAPTER 1. -

World Bank Document
Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No: 43319-BR PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED LOAN Public Disclosure Authorized IN THE AMOUNT OF US$130.00 MILLION TO THE FEDERAL DISTRICT WITH THE GUARANTEE OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL FOR A Public Disclosure Authorized FEDERAL DISTRICT MULTISECTOR PUBLIC MANAGEMENT PROJECT February 20, 2009 Brazil Country Management Unit Human Development Sector Management Unit Latin American and the Caribbean Regional Office Public Disclosure Authorized This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective January 31, 2009) Currency Unit = Real (R$) R$ 1.00 = US$0.432 US$1.00 = R$ 2.32 FISCAL YEAR January 1 – December 31 Vice President: Pamela Cox Country Director: Makhtar Diop Sector Manager: Keith Hansen Sector Leader: Michele Gragnolati Task Team Leader: Joana Godinho FOR OFFICIAL USE ONLY ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AIDS Acquired Immune FHP Family Health Program Deficiency Syndrome FM Financial Management ALOS Average Length-of-Stay FMA Financial Management AMQ Quality Ranking System Assessment APL Adaptable Program Loan FRL Fiscal Responsibility Law ARI Acute Respiratory Infections (LFR) BP Bank Procedures GDF Government of the Federal BRT Bus Rapid Transit District CAF Corporacion Andina de GDP Gross Domestic Product Fomento GPRS Growth and Poverty CBA -

Listing and Protecting the Momo
Listing and Protecting the MoMo. Brazil / Brasilia It’s not enough to plant, we must know how to plant and care and persist, then, yes, the thing works. By Andrey Rosenthal Schlee and Sylvia Ficher Lúcio Costa, Museu do Ouro, Registro de uma vivência, 1995 Brazil LSO in the field of preservation, Brazil has made sible for setting up the institute’s preservation guidelines. an unparalleled contribution to the MoMo. Af- As one of his first tasks, he would inspect and assess Ater all, when in 1988 docomomo was founded, the conditions of the Church of São. Miguel (c.1735-50), the country already had a number of modernist works le- in one of the Guarani Jesuit missions in southern Brazil. gally protected. And Brasilia had joined the select World Concurring with innovative preservation practices at that Heritage of UNESCO, the first modernist urban complex to time, he recommended the consolidation of the ruins, be conferred that honor. The precedent was established, ordering the remains to be collected in a small museum and since then other MoMo works—all prior to Brasilia— designed by him. The listing attained in 1938, after the received the distinction: the Bauhaus in 1996, the Schröder museum’s completion in 1940, was included in the list- House and the University of Caracas in 2000, the Tugend- ing as part of the church protected environment. The first 6 hat House in 2001, the White City of Tel Aviv in 2003. step was taken toward registering recent buildings. Yet— A rather bizarre circumstance, but well known and as we shall see—only those authored by architects from widely reported, where modernists and preservationists the same carioca modernist set, clearly identified with the were the same people, all joined in a cohesive and hege- corbusierian manner. -
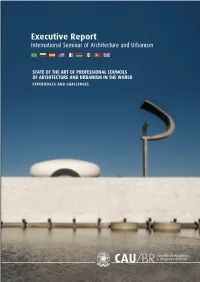
Oscar Niemeyer, the Architect Who Conquered the World with a Unique, Modern and Clearly Brazilian Style
The Council of Architecture and Urbanism of Brazil: an overview Executive Report Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz International Seminar of Architecture and Urbanism SEMINÁRIO INTERNACIONAL STATE OF THE ART OF PROFESSIONAL COUNCILS OF ARCHITECTURE AND URBANISM IN THE WORLD EXPERIENCES AND CHALLENGES 1 Administrative Board (2012) Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz (Distrito Federal) President Antônio Francisco de Oliveira (Paraíba) 1st Vice president Coordinator for the Comittee of Professional Practice Napoleão Ferreira da Silva Neto (Ceará) 2nd Vice president Coordinator for the Comittee of Ethics and Discipline Anderson Fioreti Menezes (Espírito Santo) Coordinator for the Comittee of Organization and Management Roberto Rodrigues Simon (Santa Catarina) Coordinator for the Comittee of Planning and Finance José Roberto Geraldine Junior (Higher Education Institutions) Coordinator for the Comittee of Teaching and Trainning Federal Councillors State MEMBER DEPUTY AC Clênio Plauto de Souza Farias Ulderico Queiroz Junior AL Heitor Antonio Maia das Dores Pedro Cabral de Oliveira Filho AP Oscarito Antunes do Nascimento Ana Karina Nascimento Silva Rodrigues AM Rodrigo Capelato Marcelo de Borborema Correia BA Paulo Ormindo David de Azevedo Raimundo Lopes Pereira CE Napoleão Ferreira da Silva Neto Antonio Martins da Rocha Júnior DF Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz Antônio Menezes Júnior ES Anderson Fioreti de Menezes Andre Tomoyuki Abe GO Arnaldo Mascarenhas Braga Daniel Dias Pimentel MA Roberto Lopes Furtado Maria Lais Cunha Pereira MG Claudia -

University of Florida Thesis Or Dissertation
PUBLIC ARCHAEOLOGY AND HERITAGE VALUE(S): LEARNING FROM URBAN ENVIRONMENTS IN CENTRAL BRAZIL By RENATA DE GODOY A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2012 1 © 2012 Renata de Godoy 2 To all Brasilienses (from birth or by choice) 3 ACKNOWLEDGMENTS First I thank the person who stood by me during my entire research, physically, emotionally, and also as a colleague, my dear love Diogo Costa. I thank my family, always so supportive, specially my parents Gil and Maria Tereza, my sister Patricia, and my dear aunt Stela. I appreciate my friends’ support over the years, old friends who have always been by my side, and newer friends I met in Gainesville and in Brazil after returning in 2009, some as classmates, others as workmates, my sincere appreciation to all of you. I am also grateful for the special attention, and for the professional opportunities professor Joseli Macedo has given me. I’d like to thank the professors on my committee, each with so much expertise and wisdom to offer, without them I would have never finished this research. I thank specially my committee chair Augusto Oyuela-Caycedo for his kind words of incentive, countless advice and support. Thanks to Brijesh Thapa for priceless guidance and to Steven Brandt for sharing his thoughts since the very early stages of this research. Truly special thanks to Michael Heckenberger for mentoring during most of this journey, for his support and friendship. -

Asa Sul Asa Norte Lago Sul Lago Sul
VIA ESTRADA VIA EST TAGUATINGA SALTO CORUMBÁ P GUARÁ II ARQUE SETOR DE PIRENÓPOLIS PARQUE DE EXPOSIÇÃO TINGA GOIÂNIA SETOR DE A R AGROPECUÁRIA INDÚSTRIAS E UTURAL SETOR DE ARMAZENAMENTO DO TORTO Conheça os pontos ANÁPOLIS GARAGENS E AGU ABASTECIMENTO T GUARÁ CONCESSIONÁRIAS E ABASTECIMENTO NORTE NÚCLEO DE VEÍCULOS SETOR DE turísticos que vão BANDEIRANTE OFICINAS NORTE te surpreender. C H SETOR CRUZEIRO NOVO MILITAR SETOR OCTOGONAL CRUZEIRO VELHO URBANO MILITAR 42 PARQUE URBANO NACIONAL RESIDÊNCIA 32 L DE BRASÍLIA PRESIDENCIAL DO TORTO SAÍDA SUL 01 - Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek 51 02 - Autódromo Nelson Piquet AO CANDANGOLÂNDIA HOSPITAL DAS SETOR ACESSO FORÇAS ARMADAS MILITAR ATETINHO 03 - Biblioteca Nacional C URBANO INSTITUTO CHAPADA DOS VEADEIROS 04 - Calçadão da Asa Norte VALPARAÍSO SUDOESTE NACIONAL DE NOROESTE ALTO PARAÍSO LUZIÂNIA METEOROLOGIA 07 FORMOSA 05 - Câmara Legislativa CALDAS NOVAS SETOR CEMITÉRIO POLICIAL 49 SALTO DO ITIQUIRA 06 - Catedral Metropolitana N. Sr Aparecida BELO HORIZONTE SETOR SÃO PAULO MILITAR 07 - Catedral Rainha da Paz RIO DE JANEIRO URBANO ACESSO 08 - Centro Cultural do Banco do Brasil – CCBB ZOOLÓGICO A SOBRADINHO E PLANA L 09 - Centro de Convenções Ulysses Guimarães SETOR DE A 10 - Cine Brasília GARAGENS 27 TORRE DE 56 SUDOESTE OFICIAIS 11 - Clube do Choro TV DIGI LTINA T 12 - Complexo Cultural Funarte SETOR DE AL SIG INDÚSTRIAS 26 13 - Concha Acústica 29 GRÁFICAS 05 14 - Congresso Nacional SIG 36 04 15 - Conjunto Cultural da Caixa 22 16 - Ermida Dom Bosco 41 17 - Espaço Lucio Costa Autódromo -

Guia De Obras De Oscar Niemeyer Brasília 50 Anos
Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados Centro de Documentação e Informação Coordenação de Biblioteca http://bd.camara.gov.br "Dissemina os documentos digitais de interesse da atividade legislativa e da sociedade.” VIA L2 NORTE VIA W3 NORTE LAGO NORTE EPIA D D 34 33 EIXO RODOVIÁRIO NORTE D NORTE L4 VIA D D 35 E 36 32 B 37 17 B ASA NORTE 18 B 19 EIXO MONUMENTAL C B E 25 20 40 A C 16 A 24 08 A C 01 A A 26 03 15 A E A 13 EPIA 38 A 07 A E 02 14 E 39 A 50 04 A AV. DAS NAÇÕES C 41 05 A 31 06 A 10 A A E A 09 12 43 E E 11 42 44 PARQUE DA CIDADE C E E E 30 C C 46 45 28 29 49 C VIA L4 SUL VIA W3 SUL 27 EIXO RODOVIÁRIO SUL VIA L2 SUL E ASA SUL 47 E 48 EPIA VIA L4 SUL LAGO SUL ESTRADA PARQUE DOM BOSCO C 23 AEROPORTO NÚCLEO BANDEIRANTE C 21 C 22 10 km sentido Gama 5 km sentido Gama Guia de obras de Oscar Niemeyer BRASÍLIA 50ANOS Mesa da Câmara dos Deputados 53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa 2010 Presidente Câmara dos Deputados Michel Temer 1º Vice-Presidente Marco Maia 2º Vice-Presidente Antonio Carlos Magalhães Neto 1º Secretário Rafael Guerra 2º Secretário Inocêncio Oliveira Guia de obras de Oscar Niemeyer 3º Secretário Odair Cunha 4º Secretário BRASÍLIA Nelson Marquezelli Suplentes de Secretário 50ANOS 1º Suplente Marcelo Ortiz 2º Suplente O Guia de obras de Oscar Giovanni Queiroz Niemeyer é uma iniciativa do Instituto de Arquitetos do 3º Suplente Brasil – Departamento do Leandro Sampaio Distrito Federal (IAB/DF), em parceria com a Câmara dos 4º Suplente Deputados, como parte das Manoel Junior homenagens aos 50 anos de Brasília. -

The Mascagnia Cordifolia Group (Malpighiaceae)
Contr.2005 Univ. Michigan Herb. 24:ANDERSON 33–44. 2005. & DAVIS: MASCAGNIA 33 THE MASCAGNIA CORDIFOLIA GROUP (MALPIGHIACEAE) William R. Anderson Charles C. Davis University of Michigan Herbarium 3600 Varsity Drive Ann Arbor, Michigan 48108-2287 ABSTRACT. A revision is provided for the Mascagnia cordifolia group, five South American species with basally biglandular petioles. The group comprises M. aptera W. R. Anderson, M. cordifolia (Adr. Juss. in A. St.-Hil.) Griseb. in Mart., and three new species: M. aequatorialis W. R. Anderson & C. Cav. Davis, M. affinis W. R. Anderson & C. Cav. Davis, and M. glabrata W. R. Anderson & C. Cav. Davis. The treatment includes a key, descriptions, specimens studied, notes, a distribution map, and illustrations of M. aequato- rialis, M. aptera, and M. cordifolia. Mascagnia (Bertero ex DC.) Colla, as treated by Niedenzu (1928) and other authors, is a diverse assemblage of about 100 species of wing-fruited Malpighiaceae. Anderson (e.g., 1990, p. 51) has suggested repeatedly that the genus in the broad tra- ditional sense is possibly or probably polyphyletic, and recent molecular phylogenies (Cameron et al. 2001; Davis et al. 2001, 2002) have supported his opinion—they show that Mascagnia sens. lat. comprises at least six distinct clades. In a separate paper, now in preparation, W. R. Anderson will divide Mascagnia sens. lat. into several putatively monophyletic genera. Mascagnia sens. str. is by far the largest clade within Mascagnia sens. lat. Most species of Mascagnia sens. str. can be recognized by the following combination of character-states (W. R. Anderson, unpublished data): vines with interpetiolar stipules, glands impressed in the abaxial surface of the lamina, glabrous petals exposed in the enlarging bud, orbicular membranous samaras with arching and anastomosing veins in the lateral wing, and a smooth three-lobed disciform structure subtending the fruit. -
And Contested Urban Histories
and Contested Urban Urban Contested and Museos de Ciudad e de Museos Historias Urbanas Urbanas Historias Ciudad de México, octubre de 2017 de octubre México, de Ciudad CAMOC Annual Conference 2017 Conference Annual CAMOC CAMOC Conferencia Anual 2017 Anual CAMOC Conferencia Mexico City, October 2017 October City, Mexico Impugnadas Book of Proceedings of Book Histories Libro de Actas de Libro www.camoc.icom.museum ISBN: 978-92-9012-433-7 ISBN: APRIL 2018 APRIL 1 InternatIonal CommIttee for the ColleCtIons and aCtIvItIes of museums of CItIes © Copyright by CamoC: Design: Cover photo: This e-book is available for download free of charge from the CAMOC website () or upon request at: 2 MuseuMs Of CiTies AnD COnTesTeD urbAn HisTOries editor: 3 07 JOAnA sOusA MOnTeirO 08 MuseuMs, MIgRAtIon And ARRIvAL CItIes Museos, Migrac ión y ciudades de LLegada 12 MArCO bArrerA bAssOls “Museología y Migración en la era Trump” [full text in Spanish] 17 MArlen MOuliOu Antes de ‘La Llegada’.. cómo empoderar a las comunidades de refugiados urbano” 26 JOAn rOCA i AlberT “La ciudad informal en el museo de la ciudad [full text in Spanish] 50 Jesús AnTOniO AnD MACHuCA rAMírez “¿Cuentan los grupos indígenas establecidos en la ciudad [full text in Spanish] 66 HOrTensiA bArDerAs AlVArez “ estructurador del tejido urbano en la periferia sur de Madrid [full text in Spanish] uRbAn MeMoRy, AMnesIA And CIty MuseuMs MeMoria urbana, aMnesia y Museos de ciudad 86 JOAnA sOusA MOnTeirO WiTH DAnielA ArAúJO AnD rui COelHO “ 90 lAurA l. ACCeTTA [full text in Spanish] 104 Jennefer nePinAK AnD ClinT Curle “ Humanos 110 ÁGueDA MACiAs De OliVeirA AnD AnA lúCiA De Abreu GOMes “Ciudad extraordinaria, problemas ordinarios: los casos de tres museos de la ciudad de Brasília 4 118 AnneMArie De WilDT “ Urbanas 127 CinTiA VelÁzQuez MArrOni “ pasado en el museo[full text in Spanish] dIsPuted PResent: CItIes And CuLtuRes In ConFLICt eL Presente en disP uta : ciudades y cuLturas en confLicto 140 sArAH M.