Personagens Em Processo: Narração Em Better Call Saul
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
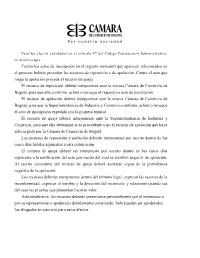
Contra Los Actos De Inscripción En El Registro Mercantil Que Aparecen Relacionados En El Presente Boletín Proceden Los Recursos De Reposición Y De Apelación
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer. Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. -

Monachopsis Living in an Americanized, Hispanic Household
Monachopsis Living in an Americanized, Hispanic household with Mexican heritage, the intersectional ties I face prove difficult to accept. The disconnection with my culture and realization of its subjectivity lead me in an attempt to understand myself. Influential aspects with the preservation and diffusion of my culture inspired my process and mixed media installation of my tree of life. This installation utilizes contrasting positive and negative space (with a limited pallet) while focusing on significant places, people, and moments that shaped my culture. Myself and significant family members have been removed from the photographs, and our family has been mapped on the regional map of the United States and Mexico. Elements of collage, found objects, painting, and pieces of trees are present to construct the tree and a Dìa de los Muertos altar. In this way, I am commemorating my culture and life that has been filled with loss and a sense of being out of place. As my work evolved with time, I reminisced on my life thus far, and I wonder where it is headed. I have discovered the various factors—such as history and society— that dismantle a culture, leaving me to shape my own for future generations. This sculptural installation poses questions about adaptability, assimilation, and the inevitability of cultural change. Elijah C. New Mexico Guero Elijah C. Based on realizations from my life so far, I question the social constructs of race and ethnicity in relation to my cultural identity. For centuries, these concepts have influenced society greatly and stratifying humans based on appearance. With history Hot air balloons from the Balloon Fiesta1 scattered across the warm sunrise over the Sandia Mountains, the cottonwood Bosque running along the murky Rio Grande River and the smell and taste of chile in the majority of meals is what I have grown up with. -

German Jews in the United States: a Guide to Archival Collections
GERMAN HISTORICAL INSTITUTE,WASHINGTON,DC REFERENCE GUIDE 24 GERMAN JEWS IN THE UNITED STATES: AGUIDE TO ARCHIVAL COLLECTIONS Contents INTRODUCTION &ACKNOWLEDGMENTS 1 ABOUT THE EDITOR 6 ARCHIVAL COLLECTIONS (arranged alphabetically by state and then city) ALABAMA Montgomery 1. Alabama Department of Archives and History ................................ 7 ARIZONA Phoenix 2. Arizona Jewish Historical Society ........................................................ 8 ARKANSAS Little Rock 3. Arkansas History Commission and State Archives .......................... 9 CALIFORNIA Berkeley 4. University of California, Berkeley: Bancroft Library, Archives .................................................................................................. 10 5. Judah L. Mages Museum: Western Jewish History Center ........... 14 Beverly Hills 6. Acad. of Motion Picture Arts and Sciences: Margaret Herrick Library, Special Coll. ............................................................................ 16 Davis 7. University of California at Davis: Shields Library, Special Collections and Archives ..................................................................... 16 Long Beach 8. California State Library, Long Beach: Special Collections ............. 17 Los Angeles 9. John F. Kennedy Memorial Library: Special Collections ...............18 10. UCLA Film and Television Archive .................................................. 18 11. USC: Doheny Memorial Library, Lion Feuchtwanger Archive ................................................................................................... -

Albuquerque Morning Journal, 12-20-1908 Journal Publishing Company
University of New Mexico UNM Digital Repository Albuquerque Morning Journal 1908-1921 New Mexico Historical Newspapers 12-20-1908 Albuquerque Morning Journal, 12-20-1908 Journal Publishing Company Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/abq_mj_news Recommended Citation Journal Publishing Company. "Albuquerque Morning Journal, 12-20-1908." (1908). https://digitalrepository.unm.edu/ abq_mj_news/3504 This Newspaper is brought to you for free and open access by the New Mexico Historical Newspapers at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Albuquerque Morning Journal 1908-1921 by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. ' r ..r,........r., f. n ' ni i i, ,n Kw iiiinii m f ii l'W.i m i1 ..in .r, ..r). .r I f TWELVE PAGES. ALBUQUERQUE MOKNING J01JBNAL. THIRTIclH YfcAR. Vol. CXX, Mo. 81. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SUNDAY, DECEMBER 20, Itjr Stall SO I. a Month. Single coplea, S ceuta. Ity Currier 60 cenia a- nxuitli. (if and mir ancestors in cmhoddiiug its Stock association, arrived in Los An- in the inn dm k w bib- ships iieod-pan- s sum-tilin- in tli" liill of rights in our geles toda.v to arrange for the twelfth i ii k minor are being docked in STANDARD OIL WANTS annual convention which will be held I'll ('id sill i eon In the outer docks. CHANCE FOR Ill conclusion it is urged lll.lt the TARIFF ill this city from January (1 to 2s REHEARING IS llv floating the inner caisson from 0 granting of tin- writ would tint lie The officers will arrange the speakei the drv dock, of greater length hel'ole the (invention These w ill in- than anv now ill existence ,r i lanned clude the best in California and als. -

Breaking Bad and Cinematic Television
temp Breaking Bad and Cinematic Television ANGELO RESTIVO Breaking Bad and Cinematic Television A production of the Console- ing Passions book series Edited by Lynn Spigel Breaking Bad and Cinematic Television ANGELO RESTIVO DUKE UNIVERSITY PRESS Durham and London 2019 © 2019 Duke University Press All rights reserved Printed in the United States of America on acid- free paper ∞ Typeset in Warnock and News Gothic by Tseng Information Systems, Inc. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Restivo, Angelo, [date] author. Title: Breaking bad and cinematic television / Angelo Restivo. Description: Durham : Duke University Press, 2019. | Series: Spin offs : a production of the Console-ing Passions book series | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2018033898 (print) LCCN 2018043471 (ebook) ISBN 9781478003441 (ebook) ISBN 9781478001935 (hardcover : alk. paper) ISBN 9781478003083 (pbk. : alk. paper) Subjects: LCSH: Breaking bad (Television program : 2008–2013) | Television series— Social aspects—United States. | Television series—United States—History and criticism. | Popular culture—United States—History—21st century. Classification: LCC PN1992.77.B74 (ebook) | LCC PN1992.77.B74 R47 2019 (print) | DDC 791.45/72—dc23 LC record available at https: // lccn.loc.gov/2018033898 Cover art: Breaking Bad, episode 103 (2008). Duke University Press gratefully acknowledges the support of Georgia State University’s College of the Arts, School of Film, Media, and Theatre, and Creative Media Industries Institute, which provided funds toward the publication of this book. Not to mention that most terrible drug—ourselves— which we take in solitude. —WALTER BENJAMIN Contents note to the reader ix acknowledgments xi Introduction 1 1 The Cinematic 25 2 The House 54 3 The Puzzle 81 4 Just Gaming 116 5 Immanence: A Life 137 notes 159 bibliography 171 index 179 Note to the Reader While this is an academic study, I have tried to write the book in such a way that it will be accessible to the generally educated reader. -

Ezer Ez Da Erlatiboa. Breaking Bad-En Posizionamendu Etikoari Buruzko Ikus-Entzunezko Azterlana
Nada es relativo. Un estudio audiovisual del posicionamiento ético de Breaking Bad Ezer ez da erlatiboa. Breaking Bad-en posizionamendu etikoari buruzko ikus-entzunezko azterlana Nothing is relative. An audiovisual study of ethical positioning in Breaking Bad Roberto Gelado Marcos1 Javier Figuero Espadas2 Ana Lanuza Avello3 zer Vol. 23 - Núm. 44 ISSN: 1137-1102 e-ISSN: 1989-631X https://doi.org/10.1387/zer.18126 pp. 139-154 2018 Recibido el 2 de octubre de 2017, aceptado el 9 de abril de 2018. Resumen La conducta ética y moral de Walter White le ha convertido en uno de los personajes de fic- ción que ha levantado mayor debate entre críticos, académicos y a nivel popular. En este ar- tículo se indaga si esa fascinación sobre el antihéroe que provoca un posicionamiento moral acerca de su proceder, existe también al otro lado de la cámara. Para ello, se examinan aspec- tos como la escala y la angulación de los planos, la utilización de movimientos de cámara, los juegos de focos o el empleo significativo de la luz en cuatro momentos narrativos cruciales. Palabras clave: ética; conducta; narrativa audiovisual; Breaking Bad; Vince Gilligan. Laburpena Walter White, bere jokabide etiko eta morala dela medio, kritikari, akademiko eta herritarren artean eztabaida handiena piztu duten fikziozko pertsonaietako bat da. Artikulu honek aztertzen du ea kameraren beste aldean ere existitzen den antiheroiaren inguruko mirespen hori, zei- nak haren jokaerari buruzko posizionamendu moral bat eragiten baitu. Hainbat alderdi ikertu 1 Universidad CEU San Pablo, [email protected] 2 Universidad CEU San Pablo, [email protected] 3 Universidad CEU San Pablo, [email protected] Roberto GELADO MARCOS, Javier FIGUERO ESPADAS y Ana LANUZA AVELLO dira horretarako: planoen eskala eta angeluazioa, kameraren mugimenduen erabilera, fokuen jokoak, eta argia kontakizuneko lau une garrantzitsutan erabiltzeko modu esanguratsua. -

The Parthenon, October 23, 2019
Marshall University Marshall Digital Scholar The Parthenon University Archives Fall 10-23-2019 The Parthenon, October 23, 2019 Hanna Pennington [email protected] Follow this and additional works at: https://mds.marshall.edu/parthenon Recommended Citation Pennington, Hanna, "The Parthenon, October 23, 2019" (2019). The Parthenon. 774. https://mds.marshall.edu/parthenon/774 This Newspaper is brought to you for free and open access by the University Archives at Marshall Digital Scholar. It has been accepted for inclusion in The Parthenon by an authorized administrator of Marshall Digital Scholar. For more information, please contact [email protected], [email protected]. WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2019 | VOL. 123 NO. 8 | MARSHALL UNIVERSITY’S STUDENT NEWSPAPER | marshallparthenon.com | SINGLE COPY FREE Unity Walk kicks off homecoming festivities pg. 2 HANNA PENNINGTON | EXECUTIVE EDITOR In Their Shoes MOVC celebrates Football set to COLUMN: INTO students raises anniversary face WKU Greek Life attend Bridge Day awareness3 4 6 12 PAGE EDITED AND DESIGNED BY HANNA PENNINGTON | [email protected] 2 WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2019 MARSHALLPARTHENON.COM Unity Walk kicks off homecoming, celebrates family By PHUONG ANH DO simple; we all come in one place, we meet, walk and talk THE PARTHENON with each other and celebrate together. But more impor- Campus Activities Board (CAB). Hundreds of students joined the eighth annual Unity tantly, we want to make sure that our students at the homecomingKylie Johnson, banner a Marshall competition; student first and place CAB went member, to the Walk to kick off the homecoming week activities Mon- university fully understand the importance of being a said thanks to the event, all its students now belong to day afternoon. -
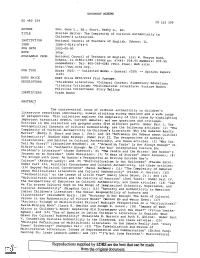
Stories Matter: the Complexity of Cultural Authenticity in Children's Literature (Pp
DOCUMENT RESUME ED 480 339 CS 512 399 AUTHOR Fox, Dana L., Ed.; Short, Kathy G., Ed. TITLE Stories Matter: The Complexity of CulturalAuthenticity in Children's Literature. INSTITUTION National Council of Teachers of English, Urbana,IL. ISBN ISBN-0-8141-4744-5 PUB DATE 2003-00-00 NOTE 345p. AVAILABLE FROM National Council of Teachers ofEnglish, 1111 W. Kenyon Road, Urbana,.IL 61801-1096 (Stock no. 47445: $26.95members; $35.95 nonmembers). Tel: 800-369-6283 (Toll Free); Web site: http://www.ncte.org. PUB TYPE Books (010).-- Collected Works General (020) -- Opinion Papers (120) EDRS PRICE EDRS Price MF01/PC14 Plus Postage. DESCRIPTORS *Childrens Literature; *Cultural Context; ElementaryEducation; *Literary Criticism; *Multicultural Literature;Picture Books; Political Correctness; Story Telling IDENTIFIERS Trade Books ABSTRACT The controversial issue of cultural authenticity inchildren's literature resurfaces continually, always elicitingstrong emotions and a wide range of perspectives. This collection explores thecomplexity of this issue by highlighting important historical events, current debates, andnew questions and critiques. Articles in the collection are grouped under fivedifferent parts. Under Part I, The Sociopolitical Contexts of Cultural Authenticity, are the following articles: (1) "The Complexity of Cultural Authenticity in Children's Literature:Why the Debates Really Matter" (Kathy G. Short and Dana L. Fox); and (2)"Reframing the Debate about Cultural Authenticity" (Rudine Sims Bishop). Under Part II,The Perspectives of Authors, -

Small-Screen Courtrooms a Hit with Lawyers - Buffalo - Buffalo Business First
9/18/2018 Small-screen courtrooms a hit with lawyers - Buffalo - Buffalo Business First MENU Account FOR THE EXCLUSIVE USE OF [email protected] From the Buffalo Business First: https://www.bizjournals.com/buffalo/news/2018/09/17/small-screen-courtrooms-a-hit-with-lawyers.html Small-screen courtrooms a hit with lawyers Sep 17, 2018, 6:00am EDT For many, TV shows are an escape from reality. For attorneys, that’s no different – even when they’re watching lawyers on TV. “Better Call Saul” is the latest in a long line of TV shows about the legal profession. A prequel to AMC’s “Breaking Bad,” the show stars Bob Odenkirk as a crooked-at-times attorney named Jimmy McGill. “He’s a likable guy and you like his character,” said Patrick Fitzsimmons, senior associate at Hodgson Russ LLP in Buffalo. “It’s a great show. I think it’s the one BEN LEUNER/AMC show compared to the others where it’s not about a big firm.” “Better Call Saul” puts a new spin on legal drama as the slippery Jimmy McGill (played by Bob Odenkirk) Also a fan is Michael Benz, an associate at HoganWillig who recently returned to builds his practice. his native Buffalo after working in the Philadelphia public defender’s office and in his own practice as a criminal defense attorney. “(Odenkirk’s character is) the classic defense attorney who will do anything to make a buck or help his client,” Benz said, adding that he often binge-watches shows with his wife, Carla, an attorney in the federal public defender’s office in Buffalo. -

The Reel Latina/O Soldier in American War Cinema
Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 10-26-2012 12:00 AM The Reel Latina/o Soldier in American War Cinema Felipe Q. Quintanilla The University of Western Ontario Supervisor Dr. Rafael Montano The University of Western Ontario Graduate Program in Hispanic Studies A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree in Doctor of Philosophy © Felipe Q. Quintanilla 2012 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Film and Media Studies Commons Recommended Citation Quintanilla, Felipe Q., "The Reel Latina/o Soldier in American War Cinema" (2012). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 928. https://ir.lib.uwo.ca/etd/928 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. THE REEL LATINA/O SOLDIER IN AMERICAN WAR CINEMA (Thesis format: Monograph) by Felipe Quetzalcoatl Quintanilla Graduate Program in Hispanic Studies A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD in Hispanic Studies The School of Graduate and Postdoctoral Studies The University of Western Ontario London, Ontario, Canada © Felipe Quetzalcoatl Quintanilla 2012 THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO School of Graduate and Postdoctoral Studies CERTIFICATE OF EXAMINATION Supervisor Examiners ______________________________ -

A Textual Analysis of the Closer and Saving Grace: Feminist and Genre Theory in 21St Century Television
A TEXTUAL ANALYSIS OF THE CLOSER AND SAVING GRACE: FEMINIST AND GENRE THEORY IN 21ST CENTURY TELEVISION Lelia M. Stone, B.A., M.P.A. Thesis Prepared for the Degree of MASTER OF ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS December 2013 APPROVED: Harry Benshoff, Committee Chair George Larke-Walsh, Committee Member Sandra Spencer, Committee Member Albert Albarran, Chair of the Department of Radio, Television and Film Art Goven, Dean of the College of Arts and Sciences Mark Wardell, Dean of the Toulouse Graduate School Stone, Lelia M. A Textual Analysis of The Closer and Saving Grace: Feminist and Genre Theory in 21st Century Television. Master of Arts (Radio, Television and Film), December 2013, 89 pp., references 82 titles. Television is a universally popular medium that offers a myriad of choices to viewers around the world. American programs both reflect and influence the culture of the times. Two dramatic series, The Closer and Saving Grace, were presented on the same cable network and shared genre and design. Both featured female police detectives and demonstrated an acute awareness of postmodern feminism. The Closer was very successful, yet Saving Grace, was cancelled midway through the third season. A close study of plot lines and character development in the shows will elucidate their fundamental differences that serve to explain their widely disparate reception by the viewing public. Copyright 2013 by Lelia M. Stone ii TABLE OF CONTENTS Chapters Page 1 INTRODUCTION .............................................................................................. -

Contra Costa Lawyer Online
Contra Costa Lawyer Online August 2016 The Contra Costa Lawyer is the official publication of the Contra Costa County Bar Association (CCCBA) published 12 times a year -- in six print and 12 online issues. 1 2 Contents Ray Donovan Review 4 NFL Police Reports 6 Broderick Roadhouse, Restaurant Review 9 Ethics and Better Call Saul 11 A Local Attorney’s Reflections on Last Month’s Tragedies 13 London Inns of Court Adventure in England 15 Summer Reading 17 President's Message 18 Accessing the Law from your Home or Office 19 All Sections Summer Mixer [photos] 21 The 20/10/5 Rule: The Key to Managing Your Firm and Your 23 Life Celebrity Apprentice Replaces Trump with the Governator 25 Coffee Talk: Summer Binge Watching - What are your favorites? 28 Uncorked! Fundraiser for the Food Bank 30 3 Ray Donovan Review Monday, August 01, 2016 We love Ray Donovan the same way we loved Tony Soprano. He gets the job done and at the end of the day, as bloody and philandering and as it may be, he returns home to be the rock of his family. Only instead of working for the mob, Ray Donovan works for attorneys. Ray (played by Liev Schreiber) does the dirty work beyond the sensibilities of two nebbish partners, Ezra Goodman (played by Elliott Gould) and Lee Drexler (played by Peter Jacobson) dispatch him as “fixer” while staying behind at their lavish office or by the pool. While Ray makes his living by excising a price for his fixing, the money is nothing close to that made off of his deeds by the partners while shrouding themselves in ignorance.