Mauro Cordeiro De Oliveira Junior Carnaval E Poderes No Rio De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Baixar Baixar
pragMATIZES - Revista Latino Americana de Estudos em Cultura Sambantropologia Sambantropology Sambantropologia Vinícius Ferreira NatalI Resumo: Palavras chave: O Presente artigo apresenta uma breve etnografia da ala de compositores do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Escolas de Samba Vila Isabel, relativizando o papel do pesquisador em relação à proximidade e características específicas com o campo das escolas Antropologia Urbana de samba do Rio de Janeiro, propondo a “Sambantropologia” como um método de pesquisa particular e situacional. Música Arte Cultura Popular Disponível em http://www.pragmatizes.uff.br 150 Ano 6, número 11, semestral, abr/2016 a set/ 2016 Resumen: El presente artículo presenta una breve etnografía del ala de Palabras clave: compositores Grêmio Recreativo Unidos Escuela de Samba de Vila Isabel, relativizando el papel del investigador en relación Escuelas de Samba con la proximidad y características específicas con el campo de las escuelas de samba de Río de Janeiro, proponiendo, para Antropología urbana terminar, “Sambantropologia” como método de investigación La música individual y situacional. Arte La cultura popular Abstract: Keywords: The present article presents a brief ethnography of the wing of composers Grêmio Recreativo States Samba School of Vila Isabel, Samba Schools relativizing the role of the researcher in relation to proximity and specific features with the field of the samba schools of Rio de Janeiro, Urban Anthropology proposing, to finish, “Sambantropologia” as a method of individual -

TESE Swanne Souza Tavares De Almeida.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTO DE DESIGN PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN SWANNE SOUZA TAVARES DE ALMEIDA BICHOS BOÊMIOS: um estudo sobre recorrências, referências e análise de significado dos animais nos rótulos de aguardente da Coleção Almirante Recife 2018 SWANNE SOUZA TAVARES DE ALMEIDA BICHOS BOÊMIOS: um estudo sobre recorrências, referências e análise de significado dos animais nos rótulos de aguardente da Coleção Almirante Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para a obtenção do Título de Doutora em Design. Área de concentração: Planejamento e Contextualização de Artefatos. Orientadora: Profa. PhD Solange Coutinho. Recife 2018 Catalogação na fonte Bibliotecária Jéssica Pereira de Oliveira, CRB-4/2223 A447b Almeida, Swanne Souza Tavares de Bichos boêmios: um estudo sobre recorrências, referências e análise de significado dos animais nos rótulos de aguardente da Coleção Almirante / Swanne Souza Tavares de Almeida. – Recife, 2018. 399f.: il. Orientadora: Solange Coutinho. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Artes e Comunicação. Programa de Pós-Graduação em Design, 2018. Inclui referências, apêndices e anexos. 1. Rótulos de aguardente. 2. Animais. 3. Coleção Almirante. 4. Marca de comércio. I. Coutinho, Solange (Orientadora). II. Título. 745.2 CDD (22. ed.) UFPE (CAC 2019-258) SWANNE SOUZA TAVARES DE ALMEIDA BICHOS BOÊMIOS: um estudo sobre recorrências, referências e análise de significado dos animais nos rótulos de aguardente da Coleção Almirante Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para a obtenção do Título de Doutora em Design. -

Universidade Federal Do Rio De Janeiro Centro De Filosofia E Ciências Humanas Escola De Comunicação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS ESCOLA DE COMUNICAÇÃO A DINÂMICA CULTURAL DOS DESFILES DA UNIDOS DE VILA ISABEL COMO ESPETÁCULO MIDIÁTICO Daniel Walassy Rocha da Silva RIO DE JANEIRO/RJ 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS ESCOLA DE COMUNICAÇÃO A DINÂMICA CULTURAL DOS DESFILES DA UNIDOS DE VILA ISABEL COMO ESPETÁCULO MIDIÁTICO Daniel Walassy Rocha da Silva Monografia de graduação apresentada à Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Radialismo. Orientadora: Profª. Drª. Ilana Strozenberg RIO DE JANEIRO/RJ 2016 SILVA, Daniel Walassy Rocha da. A dinâmica cultural dos desfiles da Unidos de Vila Isabel como espetáculo midiático/ Daniel Walassy Rocha da Silva – Rio de Janeiro; UFRJ/ECO, 2016. 90 f. Monografia (graduação em Comunicação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação, 2016. Orientação: Ilana Strozenberg 1. Cultura Popular 2. Meios de Comunicação 3. Unidos de Vila Isabel I. STROZENBERG, Ilana (orientadora) II. ECO/UFRJ III. Radialismo IV. A dinâmica cultural dos desfiles da Unidos de Vila Isabel como espetáculo midiático À minha mãe Vânia e avó Francisca (Xica) por serem símbolos de garra e fé maranhenses, alegria carioca e coração vila isabelense. E aos 70 anos do celeste G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel. AGRADECIMENTO Primeiramente, agradeço a Jeová Deus por ter me ouvido e vigiado em todos os anos de minha vida e de meus estudos! Por ter me ajudado a conquistar os sonhos e objetivos que se tornaram alcançáveis. -

Carla Machado Lopes
Universidade Do Estado do Rio de Janeiro Centro de Educação e Humanidades Instituto de Artes Carla Machado Lopes Entre educação e espetáculo: escolas de samba mirins no Rio de Janeiro Rio de Janeiro 2019 2 Carla Machado Lopes Entre educação e espetáculo: escolas de samba mirins no Rio de Janeiro Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Artes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Arte e Cultura Contemporânea. Orientador: Prof. Dr. Roberto Conduru Co-Orientador: Prof. Dr. Luiz Felipe Ferreira Rio de Janeiro 2019 3 CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ/REDE SIRIUS/ BIBLIOTECA CCS/A Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte. ________________________________ __________________________ Assinatura Data 4 Carla Machado Lopes Entre educação e espetáculo: escolas de samba mirins no Rio de Janeiro Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Artes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Arte e Cultura Contemporânea. Aprovada em ___ de novembro de 2019. Banca examinadora: _______________________________________ Prof. Dr. Roberto Conduru (Orientador) Instituto de Artes - UERJ _______________________________________ Prof. Dr. Luiz Felipe Ferreira (Co-Orientador) Instituto de Artes - UERJ _______________________________________ Profa. Dra. Ana Paula Alves Ribeiro Faculdade de Educação da Baixada Fluminense- -

Softwares Livres, Economia Solidária E O Fortalecimento De Práticas Democráticas: Três Casos Brasileiros
Universidade Federal do Rio de Janeiro SOFTWARES LIVRES, ECONOMIA SOLIDÁRIA E O FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS: TRÊS CASOS BRASILEIROS Luiz Arthur Silva de Faria 2010 COPPE/UFRJ SOFTWARES LIVRES, ECONOMIA SOLIDÁRIA E O FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS: TRÊS CASOS BRASILEIROS Luiz Arthur Silva de Faria Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Engenharia de Sistemas e Computação. Orientador: Henrique Luiz Cukierman Rio de Janeiro Setembro de 2010 SOFTWARES LIVRES, ECONOMIA SOLIDÁRIA E O FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS: TRÊS CASOS BRASILEIROS Luiz Arthur Silva de Faria DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO. Examinada por: ______________________________________________ Prof. Henrique Luiz Cukierman, D.Sc. ______________________________________________ Profa. Claudia Maria Lima Werner, D. Sc. ______________________________________________ Prof. Ivan da Costa Marques, Ph. D. ______________________________________________ Prof. Michel Jean-Marie Thiollent, Ph. D. RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL SETEMBRO DE 2010 iii Faria, Luiz Arthur Silva de Softwares livres, economia solidária e o fortalecimento de práticas democráticas: três casos brasileiros/Luiz Arthur Silva de Faria. ― Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2010. XV, 221 p.: il. 29,7 cm. Orientador:Henrique Luiz Cukierman Dissertação (mestrado) ― UFRJ/COPPE/Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, 2010. Referências Bibliográficas: p. 174-196 1. Tecnologias da Informação e Comunicação. -
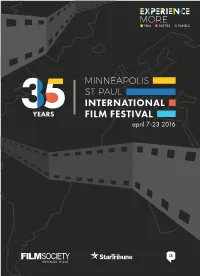
Deepa Mehta (See More on Page 53)
table of contents TABLE OF CONTENTS Introduction Experimental Cinema: Welcome to the Festival 3 Celluloid 166 The Film Society 14 Pixels 167 Meet the Programmers 44 Beyond the Frame 167 Membership 19 Annual Fund 21 Letters 23 Short Films Ticket and Box Offce Info 26 Childish Shorts 165 Sponsors 29 Shorts Programs 168 Community Partners 32 Music Videos 175 Consulate and Community Support 32 Shorts Before Features 177 MSPFilm Education Credits About 34 Staff 179 Youth Events 35 Advisory Groups and Volunteers 180 Youth Juries 36 Acknowledgements 181 Panel Discussions 38 Film Society Members 182 Off-Screen Indexes Galas, Parties & Events 40 Schedule Grid 5 Ticket Stub Deals 43 Title Index 186 Origin Index 188 Special Programs Voices Index 190 Spotlight on the World: inFLUX 47 Shorts Index 193 Women and Film 49 Venue Maps 194 LGBTQ Currents 51 Tribute 53 Emerging Filmmaker Competition 55 Documentary Competition 57 Minnesota Made Competition 61 Shorts Competition 59 facebook.com/mspflmsociety Film Programs Special Presentations 63 @mspflmsociety Asian Frontiers 72 #MSPIFF Cine Latino 80 Images of Africa 88 Midnight Sun 92 youtube.com/mspflmfestival Documentaries 98 World Cinema 126 New American Visions 152 Dark Out 156 Childish Films 160 2 welcome FILM SOCIETY EXECUTIVE DIRECTOR’S WELCOME Dear Festival-goers… This year, the Minneapolis St. Paul International Film Festival celebrates its 35th anniversary, making it one of the longest-running festivals in the country. On this occasion, we are particularly proud to be able to say that because of your growing interest and support, our Festival, one of this community’s most anticipated annual events and outstanding treasures, continues to gain momentum, develop, expand and thrive… Over 35 years, while retaining a unique flavor and core mission to bring you the best in international independent cinema, our Festival has evolved from a Eurocentric to a global perspective, presenting an ever-broadening spectrum of new and notable film that would not otherwise be seen in the region. -

Nc: 11607 - Issn: 2448-0959
Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento - NC: 11607 - ISSN: 2448-0959 www.nucleodoconhecimento.com.br Game of the Critter: Incognito Brasileira SOUSA, Maria Laura de Melo [1] SOUSA, Maria Laura de Melo. Game of the Critter: Brazilian Incognito. Multidisciplinary Scientific Journal. Edition 08. Year 02, Vol. 01. pp. 161-183, November 2017. ISSN:2448-0959 SUMMARY The game of the beast was a lottery invented in Rio de Janeiro in 1892 with the purpose of generating funds for the city's newly inaugurated Zoo, but due to its great popularization it was forbidden by the authorities. The illegality did not contain its expansion and quickly other cities of the federation happened to register occurrences of this lottery. Despite being considered a criminal contravention, the game of the animal has been increasingly propagated, in line with the principle of social adequacy. Being the subject of doctrinal divergences on the possibility of criminalizing or releasing this game, disadvantages and advantages will be demonstrated throughout this research. The deductive method is used as method of procedure and the bibliographic and jurisprudential method. Keywords: Game of the Critter, Criminal Contravention, Advantages, Disadvantages, Jurisprudence, Doctrine. 1. INTRODUCTION The game of the beast is a very old betting contest, considered by the Brazilian order and by much of the doctrine - such as Otávio Magano and [2]José Catharino [3]- an illegal practice. This mode of betting appeared in 1892, its main theme is animals, and its founder was Baron João Batista Viana Drummond, founder and owner of the Rio de Janeiro Zoo. Although this game is provided in art. -

Historico Carnaval.Pdf
Prefeitura Municipal de Porto Alegre Prefeito: Raul Pont Vice-Prefeito: José Fortunati Secretária Municipal de Cultura: Margarete Costa Moraes Secretário Substituto: Ricardo Lima Coordenação do Carnaval: Mariangela Sedrez Pinto (Coordenadora) Pesquisa e textos: Sandra Maia O direito deste trabalho foi cedido gentilmente pela autora Sandra Maia. É vetada toda e qualquer reprodução deste material sem autorização da autora. Índice Grupo Intermediário B Mocidade Independente de Esteio ___________________05 Academia de Samba Puro __________________________07 Unidos do Guajuviras ______________________________13 União da Tinga __________________________________17 Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro _________23 Unidos da Zona Norte _____________________________29 Acadêmicos da Orgia ______________________________35 Protegidos da Princesa Isabel _______________________41 Grupo Intermediário A Copacabana _____________________________________45 Real Academia de Samba __________________________51 Estação Primeira da Figueira ________________________53 Academia de Samba Praiana ________________________59 Império da Zona Norte_____________________________67 Embaixadores do Ritmo ____________________________75 Império do Sol ___________________________________81 Os Filhos da Candinha _____________________________83 Integração do Areal da Baronesa ____________________89 Grupo Especial e Tribos Carnavalescas Os Comanches ___________________________________93 Os Tapuias ______________________________________99 Os Guaianazes __________________________________105 -

Jair Martins De Miranda Samba Global
JAIR MARTINS DE MIRANDA SAMBA GLOBAL O devir-mundo do samba e a potência do carnaval do Rio de Janeiro: análise das redes e conexões do samba no mundo, a partir do método da cartografia e da organização rizomática do conhecimento Tese de doutorado Rio de Janeiro / 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ ESCOLA DE COMUNICAÇÃO – ECO INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IBICT PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - PPGCI JAIR MARTINS DE MIRANDA SAMBA GLOBAL: o devir-mundo do samba e a potência do carnaval do Rio de Janeiro: análise das redes e conexões do samba no mundo, a partir do método da cartografia e da produção rizomática do conhecimento RIO DE JANEIRO 2015 JAIR MARTINS DE MIRANDA SAMBA GLOBAL O DEVIR-MUNDO DO SAMBA E A POTÊNCIA DO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO: ANÁLISE DAS REDES E CONEXÕES NO MUNDO DO SAMBA, A PARTIR DO MÉTODO DA CARTOGRAFIA E DA PRODUÇÃO RIZOMÁTICA DO CONHECIMENTO TesedeDoutoradoapresentadaaoProgramadePós- GraduaçãoemCiênciadaInformação,convênioentreoInstitut oBrasileirodeInformaçãoemCiênciaeTecnologiaeaUniversi dadeFederaldoRiodeJaneiro,EscoladeComunicação,comore quisitoparcialparaàobtençãodotítulodeDoutoremCiênciadaI nformação. Orientador:GiuseppeCocco RiodeJaneiro201 5 MIRANDA, Jair Martins de Samba global : o devir-mundo do Samba e a potência do carnaval do Rio de Janeiro - análise das redes e conexões do samba no mundo, a partir do método da cartografia e da produção rizomática do conhecimento/ Jair Martins de Miranda. - Rio de Janeiro, 2015. 28?f. Tese (DoutoradoemCiênciadaInformação)– ProgramadePós- GraduaçãoemCiênciadaInformação,InstitutoBrasileirodeInformaçãoemCiênciaeTecnol ogia,UniversidadeFederaldoRiodeJaneiro,EscoladeComunicação,RiodeJaneiro,2015. Orientador:GiuseppeCocco 1.CiênciadaInformação–Tese.2. Samba.3. Carnaval4.Rio de Janeiro.5.Cartografia6.Globalização. .I. Cocco,Giuseppe (Orient.). II.UniversidadeFederaldo RiodeJaneiro, Escola de Comunicação.III.InstitutoBrasileirodeInformaçãoemCiênciaeTecnologia.,Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação . -

The Samba School Vila Isabel and BASF Join Forces to in Brazil: Offset Carbon Emissions Generated During Carnival Parade Vladimir M
Press Release January 24th, 2013 LThe Samba school Vila Isabel and BASF join forces to In Brazil: offset carbon emissions generated during carnival parade Vladimir M. de C. Mello Phone:+5511 2039-2919 [email protected] ® BASF and Fundação Espaço ECO will analyze the samba school’s full emissions impact during carnival, from preparation through the parade Global: Partners will plant tree seedlings to offset results. Barbara Aguiar Phone:+49 621 60-28013 [email protected] Rio de Janeiro, Brazil – January 24, 2013 – BASF, the official sponsor of Unidos de Vila Isabel samba school for the 2013 carnival, announced in Rio de Janeiro a project to offset carbon emissions for the Samba School's entire carnival parade and production. Committed to sustainable development in all its initiatives, BASF - with support from the Fundação ® ® Espaço ECO (FEE ) - saw an opportunity to address the topic of sustainability through the School's theme, which this year will highlight the importance of Brazilian agriculture. Sustainability will be reinforced by a scientific study on the emissions generated during the process of producing the carnival as a whole. The idea is to measure the volume of carbon generated throughout the carnival preparations and parade itself. This will be accompanied by a concrete offset effort of planting and monitoring trees. The scope of the study carried out by FEE covers the calculation of and offsetting measures for greenhouse gas emissions (GHG) that result from the production of costumes, allegorical floats and activities in the sheds (including labor), in addition to the movement of vehicles used in the parade and its participants. -

Universidade Federal De Santa Catarina Luciano
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO JEQUITIBAOBÁ DO SAMBA: o eco da voz do dono Florianópolis 2014 LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO JEQUITIBAOBÁ DO SAMBA: o eco da voz do dono Tese submetida ao Programa de Pós-graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do Grau de Doutor em Literatura – Teoria Literária. Orientador: Prof. Dr. Pedro de Souza. Florianópolis 2014 LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO JEQUITIBAOBÁ DO SAMBA: o eco da voz do dono Esta Tese foi julgada adequada para obtenção do Título de Doutor em Literatura – Teoria Literária, e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 27 de novembro de 2014. _________________________________________________ Prof.ª Dr.ª Maria Lúcia de Barros Camargo Coordenadora do Curso Banca Examinadora: _________________________________________________ Prof. Dr. Pedro de Souza Orientador Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC _________________________________________________ Prof. Dr. Júlio Diniz Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio _________________________________________________ Prof. Dr. Felipe Ferreira Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj _________________________________________________ Prof.ª Dr.ª Tânia Ramos Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC _________________________________________________ Prof. Dr. Claudio Celso Alano da Cruz Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC -

Unidos De Vila Isabel
Unidos de Vila Isabel Ficha Técnica | Technical Summary Fundação - 4 de abril de 1946 | Established in in April 4th 1946 Presidente | President - Wilson Alves (Wilsinho) Cores - Azul e Branco | Colours - Blue and White Carnavalesco | Carnival Designer - Rosa Magalhães Pesquisador de Enredos | Samba Theme Researcher - Alex Varela Comissão de Carnaval | Carnival Board - Evandro Luiz do Nascimento Domingo Sunday GRES Unidos de Vila Isabel 7ª Escola - Entre 03h30 e 05h12 7th School - Between 3:30am and 5:12am Concentração | Meeting Point: Balança Sinopse do Enredo | Samba Theme Synopsis A Vila Isabel apresenta a história do reino de Angola e sua contribuição para o Brasil. Ainda nos tempos dos engenhos, a cultura negra vinha com os navios negreiros e, com eles, a tradição das irmandades e festejos, os fogos, as comidas, bebidas e cantoria. Requebros, umbigadas e movimentos lascivos estavam nas ruas, nas festas de largo... Brasil e Angola são ligados por laços afetivos, linguísticos e de sangue. E o samba – hoje considerado patrimônio cultural brasileiro - tem origem angolana. O verbo kusamba, significa “saltear e pular”, expressa sensação de felicidade. Foi pelo samba que Martinho da Vila estabeleceu a ponte entre essas duas culturas, a partir de sua primeira viagem à África, nos anos 70. Como um Embaixador Cultural, levou a música brasileira de presente ao povo irmão, trazendo o “Canto livre de Angola” para os brasileiros. Nosso samba...seu semba...por isso, enquanto eu sambo cá, você semba lá... Vila Isabel presents the story of the Angola kingdom and its contribution to Brazil. Even during the times of the mills, black culture came with the slave ships, and with them the traditions of fraternities and festivities, fireworks, foods, drinks and songs.