Dissertação Retratos Do Outro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
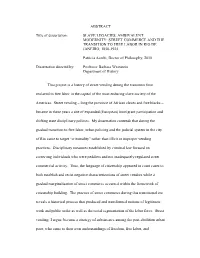
ABSTRACT Title of Dissertation: SLAVE LEGACIES, AMBIVALENT
ABSTRACT Title of dissertation: SLAVE LEGACIES, AMBIVALENT MODERNITY: STREET COMMERCE AND THE TRANSITION TO FREE LABOR IN RIO DE JANEIRO, 1850-1925 Patricia Acerbi, Doctor of Philosophy, 2010 Dissertation directed by: Professor Barbara Weinstein Department of History This project is a history of street vending during the transition from enslaved to free labor in the capital of the most enduring slave society of the Americas. Street vending – long the province of African slaves and free blacks – became in these years a site of expanded (European) immigrant participation and shifting state disciplinary policies. My dissertation contends that during the gradual transition to free labor, urban policing and the judicial system in the city of Rio came to target “criminality” rather than illicit or improper vending practices. Disciplinary measures established by criminal law focused on correcting individuals who were peddlers and not inadequately regulated street commercial activity. Thus, the language of citizenship appeared in court cases to both establish and resist negative characterizations of street vendors while a gradual marginalization of street commerce occurred within the framework of citizenship building. The practice of street commerce during this transitional era reveals a historical process that produced and transformed notions of legitimate work and public order as well as the racial segmentation of the labor force. Street vending, I argue, became a strategy of subsistence among the post-abolition urban poor, who came to their own understandings of freedom, free labor, and citizenship. Elite and popular attitudes toward street vending reflected the post- abolition political economy of exclusion and inclusion, which peddlers did not experience as mutually exclusive but rather as a dialectic of an ambivalent modernity. -

Amazonasbilder 1868
Amazonasbilder 1868 Produktion und Zirkulation von Tropenfotografien aus dem kaiserlichen Brasilien Textband Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Philosophie der Philipps-Universität Marburg vorgelegt von Frank Stephan Kohl aus Altenkirchen 2012 Vom Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Philosophie als Dissertation angenommen am 29. 08. 2012 Tag der Disputation: 14. 12. 2012 Gutachter: Prof. Dr. Karl Braun Prof. Dr. Mark Münzel [2] Für Nelly, die ich im letzten Moment in Marburg getroffen habe, und mit der ich Brasilien kennen und lieben gelernt habe [3] [4] Inhaltsverzeichnis Textband Danksagung ........................................................................................................................... 9 Einleitung ............................................................................................................................... 11 Kommerzielle Amazonasfotografien ........................................................................................ 11 1 Erkenntnissinteresse, Fragestellung, Untersuchungsgegenstand .............................. 14 1.1 Der Iconic Turn und neue Impulse für die historische Fotoforschung .............................. 14 1.2 Amazonasfotografien ........................................................................................................ 16 1.3 Akteure, Autoren und fotografische Praktiken ................................................................... 18 1.4 Produktion -

Post-Abolition in the Atlantic World
Revista Brasileira de História ISSN 1806-9347 Post-Abolition in the Atlantic World The Revista Brasileira de História integrates the portals SciELO, Redalyc and Periódicos Capes, accessible through the following URLs: http://www.scielo.br/rbh • http://redalyc.uaemex.mx • HTTP://www.periodicos.capes.gov.br Indexing data bases: Scopus, ISI Web of Knowledge, ABC-CLIO, Hispanic American Periodicals Index (HAPI) Revista Brasileira de História – Official Organ of the National Association of History. São Paulo, AN PUH, vol. 35, no 69, Jan.-June 2015. Semiannual ISSN: 1806-9347 CO DEN: 0151/RBHIEL Correspondence: ANPUH – Av. Prof. Lineu Prestes, 338 Cidade Universitária. CEP 05508-000 – São Paulo – SP Phone/Fax: (11) 3091-3047 – e-mail: [email protected] Revision (Portuguese): Armando Olivetti Desktop publishing: Flavio Peralta (Estúdio O.L.M.) Revista Brasileira de História Post-Abolition in the Atlantic World ANPUH Revista Brasileira de História no 69 Founder: Alice P. Canabrava August 2013 – July 2015 Editor in charge Alexandre Fortes, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, RJ – Brasil. E-mail: [email protected] Editorial committee (RBH) Alexandre Fortes, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, RJ – Brasil Ana Teresa Marques Gonçalves, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO – Brasil Carla Simone Rodeghero, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS – Brasil Cláudia Maria Ribeiro Viscardi, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG – Brasil Fátima Martins Lopes, Universidade -

November Artists of the Western Hemisphere: Precursors of Modernism 1860- 1930 Dr
1967 ● September – November Artists of the Western Hemisphere: Precursors of Modernism 1860- 1930 Dr. Atl (Gerardo Murillo), Juan Manuel Blanes, Humberto Causa, Joaquín Clausell, Maurice Gallbraith Cullen, Stuart Davis, Thomas Eakins, Pedro Figari, Juan Francisco González, Childe Hassam, Saturnino Herrán, Winslow Homer, George Inness, Francisco Laso, Martín Malharro, John Marin, Vicente do Rego Monteiro, James Wilson Morrice, José Clemente Orozco, Amelia Peláez, Emilio Pettoruti, José Guadalupe Posada, Maurice Brazil Prendergast, Armando Reverón, Diego Rivera, Julio Ruelas, Albert P. Ryder , Andrés de Santa María, Eduardo Sivori , Joseph Stella, Tarsila do Amaral, Tom Thomson, Joaquín Torres-García, José María Velasco Elyseu d’Angelo Visconti Curator: Stanton Loomis Catlin ● December 1967 – January 1968 Five Latin American Artists at Work in New York Julio Alpuy , Carmen Herrera, Fernando Maza, Rudolfo Mishaan, Ricardo Yrarrázaval Curator: Stanton Loomis Catlin 1968 ● February – March Pissarro in Venezuela Fritz George Melbye, Camille Pissarro Curator: Alfredo Boulton ● March – May Beyond Geometry: An Extension of Visual-Artistic Language in Our Time Ary Brizzi, Oscar Bony, David Lamelas, Lía Maisonave, Eduardo Mac Entyre, Gabriel Messil, César Paternosto, Alejandro Puente , Rogelio Polesello, Eduardo Rodríguez, Carlos Silva, María Simón, Miguel Angel Vidal Curator: Jorge Romero Brest ● May – June Minucode 1 Marta Minujín ● September From Cézanne to Miró1 Balthus (Balthazar Klossowski de Rola), Max Beckmann, Umberto Boccioni, Pierre Bonnard, -

Abre-Te Código Transformação Digital E Patrimônio Cultural
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E PATRIMÔNIO CULTURAL ABRE-TE CÓDIGO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E PATRIMÔNIO CULTURAL — Organização Leno Veras Coordenação editorial Marina Watanabe Revisão Cecilia Cavalcanti — Goethe-Institut São Paulo 2020 SUMÁRIO 11 Abre-te código: transformação digital e patrimônio cultural Anja Riedeberger | Diretora do Departamento de Informação para América do Sul | Goethe-Institut São Paulo 15 Reinventar a memória é preciso Giselle Beiguelman | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-USP) 41 Estive no futuro e lembrei de você: sobre os museus e o século XXI Leno Veras | Curador 1. Sistemas e processos 51 Reinventeceturas Cartografia Arquivos Táticos, 20 anos de cultura de internet no Brasil Giseli Vasconcelos, Tatiana Wells e Cristina Ribas 71 Interface gráfica do usuário para exploração e visualização de grandes coleções de imagens Giannella, Julia R. 5 101 Base de dados de livros de fotografia Uma enciclopédia virtual para a produção editorial fotográfica Leonardo Wen 119 O Arquivo Histórico Wanda Svevo e o acesso online às informações de seus acervos Um patrimônio da Fundação Bienal de São Paulo Ana Luiza de Oliveira Mattos | Fundação Bienal de São Paulo | Julho de 2020 137 Pesquisa interna e projetos institucionais no Arquivo Histórico Wanda Svevo Relato de experiência Diana de Abreu Dobransky e Thiago Gil | Fundação Bienal de São Paulo | Julho de 2020 155 Tratamento técnico documental no Arquivo Bienal Melânie Vargas | Fundação Bienal de São Paulo | Julho de 2020 171 Sistema de gestão de acervos documentais do Arquivo Bienal Como produzir significado e narrativas de memória com metadados? Antonio Paulo Carretta | Fundação Bienal de São Paulo | Julho de 2020 189 Itaú Cultural: pesquisa, produção e difusão de informações sobre arte e cultura brasileiras Tânia Francisco Rodrigues | Núcleo de Enciclopédias do Itaú Cultural 6 2. -

Produção, Usos E Apropriações De Uma Imagem: O Processo De Iconização Da Fotografia Da Mulher De Turbante, De Alberto Henschel
Produção, usos e apropriações de uma imagem: o processo de iconização da fotografia da mulher de turbante, de Alberto Henschel Aline Montenegro Magalhães Museu Histórico Nacional Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil [email protected] Maria do Carmo Teixeira Rainho Arquivo Nacional Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil [email protected] _____________________________________________________________________________________ Resumo: O artigo tem por objeto o retrato de uma mulher negra portando um turbante, registrado por Alberto Henschel, por volta de 1870, no Rio de Janeiro. Dentre as muitas imagens de “tipos de negros” produzidos pelo fotógrafo alemão, ela é, certamente, uma das mais conhecidas e a que tem sofrido mais apropriações na última década. Nosso objetivo, com a análise da produção, circulação e consumo desta fotografia, é examinar a relação entre o seu uso maciço e a invisibilidade ou a subalternidade imposta a negros e negras pelo racismo estrutural. Em especial, problematizamos a identificação anacrônica da mulher retratada com Luísa Mahin, mãe de Luís Gama, que teria sido uma das lideranças da Revolta dos malês, na Bahia, em 1835. A produção de sentidos que esta fotografia engendra, os efeitos que produz em seus usos e deslocamentos, seu potencial de iconização, bem como sua agência, são algumas questões que buscamos discutir, apostando, na trilha de Ana Mauad, na necessidade de tomar a imagem como agente da história, não simplesmente como fonte de informação sobre o passado ou tema de um estudo histórico. Palavras-Chave: -

Photojournalism in Nineteenth Century Brazil
PHOTOJOURNALISM IN NINETEENTH CENTURY BRAZIL: A METHODOLOGICAL APPROACH BEATRIZ MAROCCO 92 - Abstract The essay focuses on the work of two German photog- Beatriz Marocco is professor raphers, Augusto Stahl and Revert Henrique Klumb, whose of journalism at the Univer- work predates the journalistic genre of photojournalism in sidade do Vale do Rio dos nineteenth century Brazil. The author proposes the use of Sinos; e-mail: bmarocco@ a Foucaultian archaeology as a method of exploring and unisinos.br. analysing the contributions of these photographers to the journalistic discourse, and to reporting in particular. Vol.14 (2007), No. 3, pp. 79 3, pp. (2007), No. Vol.14 79 German photographers Augusto Stahl and Revert Henrique Klumb become central to discussions concerning early Brazilian photojournalism. Their contribu- tions, however, are missing from the study of photography. This essay explores this epistemological gap and proposes a Foucaultian archaeology for bringing to light their proximity to a journalistic order of discourse and their critical att itude towards its subjects proclaimed later by industrial journalism. Stahl arrived in Recife in 1853, on board of the Thames of the English Royal Mail. It is assumed that he was a young German, between 20 and 30 years of age, who had improved his training possibly in England, where there were remarkable advances in photographic techniques. Although several foreign photographers had worked in the province before him, Stahl was the only one to sett le there, opening a studio on Crespo Street, at the corner of the Cadeic Street. Klumb is reported to have arrived in Brazil as a German mercenary, fl eeing from the French government that constituted the Second Empire in 1852. -

Ufu Programa De Graduação Em Artes Visuais
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS ANDRESSA SANTOS VIEIRA SOB PELES NEGRAS: imaginário, repressão e representação visual de mulheres negras no Brasil dos séculos XIX e XX Uberlândia, Minas Gerais 2017 ANDRESSA SANTOS VIEIRA SOB PELES NEGRAS: imaginário, repressão e representação visual de mulheres negras no Brasil dos séculos XIX e XX Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Uberlândia - Campus Santa Mônica - como parte dos requisitos necessários para obtenção da graduação em Artes Visuais. Orientador: Prof. Dr. Renato Palumbo Dória. UBERLÂNDIA 2017 Dedico este trabalho a todas as mulheres negras. AGRADECIMENTOS Ao pensar nos agradecimentos, deparei-me com a incerteza de como nomear a energia que sempre me guiou e guia ao longo dos dias, que não me permitiu desistir mesmo diante das minhas próprias e piores fraquezas e imperfeições. Nomeio e agradeço meu Guia Celestial, a presença silenciosa que me acolheu em longas noites de sofrimento, que secou minhas lágrimas e dia após dia, me fortaleceu e me tornou uma pessoa melhor. Agradeço ao meu protetor Ogum, meu São Jorge, por me guiar em meio aos tortuosos caminhos terrenos, me protegendo não só do mundo, mas de mim mesma e, principalmente, por me permitir chegar tão longe, muito mais que pensei ser capaz. Agradeço ao meu estimado e querido orientador Prof. Dr. Renato Palumbo Dória, pela oportunidade de trabalhar com algo tão bonito e necessário, pela paciência (principalmente nos momentos de desespero), pelas palavras de incentivo, pelas orientações, pelos livros e por todo caminho trilhado até o momento. -

The Slave Past in the Present Ana Lucia Araujo
Living History Living History: Encountering the Memory of the Heirs of Slavery Edited by Ana Lucia Araujo Living History: Encountering the Memory of the Heirs of Slavery, Edited by Ana Lucia Araujo This book first published 2009 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2009 by Ana Lucia Araujo and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-0998-5, ISBN (13): 978-1-4438-0998-6 TABLE OF CONTENTS List of Figures............................................................................................ vii List of Tables............................................................................................... x Acknowledgements .................................................................................... xi Introduction ................................................................................................. 1 The Slave Past in the Present Ana Lucia Araujo Chapter One................................................................................................. 8 “According to my Reckoning”: Remembering and Observing Slavery and Emancipation Leslie A. Schwalm Chapter Two............................................................................................. -

Renata Conceicao Nobrega Santos.Pdf
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA RENATA CONCEIÇÃO NÓBREGA SANTOS AÇO E SUOR PELO AÇÚCAR E EM NOME DO PROGRESSO: 1ª SEÇÃO DA RECIFE SÃO FRANCISCO RAILWAY (Pernambuco, 1852-1859). RECIFE/PE 2017 RENATA CONCEIÇÃO NÓBREGA SANTOS AÇO E SUOR PELO AÇÚCAR E EM NOME DO PROGRESSO: 1ª SEÇÃO DA RECIFE SÃO FRANCISCO RAILWAY (Pernambuco, 1852-1859). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco como um dos requisitos para a obtenção do grau de Mestra.. Orientadora: Prof. Dr.ª Vicentina Maria Ramires Borba RECIFE/PE 2017 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Sistema Integrado de Bibliotecas da UFRPE Nome da Biblioteca, Recife-PE, Brasil S237a Santos, Renata Conceição Nóbrega Aço e suor pelo açúcar e em nome do progresso: 1ª Seção da Recife São Francisco Railway (Pernambuco, 1852-1859) / Renata Conceição Nóbrega Santos. – 2017. 205 f. : il. Orientador: Vicentina Maria Ramires Borba. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em História, Recife, BR-PE, 2017. Inclui referências e anexo(s). 1. Escravidão 2. Ferrovia 3. Progresso 4. Trabalho I. Borba, Vicentina Maria Ramires, orient. II. Título CDD 981.34 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA REGIONAL BANCA EXAMINADORA Profª Drª Vicentina Maria Ramires Borba Orientadora- Programa de Pós-Graduação em História – UFRPE Profª Drª Christine Paulette Yves Rufino Dabat Examinadora externa - Programa de Pós-Graduação em História – UFPE Prof Dr Humberto da Silva Miranda Examinador interno – Programa de Pós-Graduação em História – UFRPE RESUMO: Através do Decreto n. -

Diniz Tvg Me Bauru Sub.Pdf (2.799Mb)
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”- UNESP FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO- FAAC PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO- PPGCOM Thales Valeriani Graña Diniz A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DAS ELITES BRASILEIRAS EM CONTRAPOSIÇÃO A OUTROS GRUPOS SOCIAIS NAS FOTOGRAFIAS DE ALBERTO HENSCHEL E REVERT HENRIQUE KLUMB: PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS E SUAS PRODUÇÕES DE SENTIDO Bauru 2018 THALES VALERIANI GRAÑA DINIZ A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DAS ELITES BRASILEIRAS EM CONTRAPOSIÇÃO A OUTROS GRUPOS SOCIAIS NAS FOTOGRAFIAS DE ALBERTO HENSCHEL E REVERT HENRIQUE KLUMB: PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS E SUAS PRODUÇÕES DE SENTIDO Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- graduação em Comunicação- PPGCOM, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação- FAAC, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- UNESP, para obtenção do título de Mestre em Comunicação, sob orientação da profa. Dra. Maria Cristina Gobbi Bauru 2018 Diniz, Thales Valeriani Graña. A construção imagética das elites brasileiras em contraposição a outros grupos sociais nas fotografias de Alberto Henschel e Revert Henrique Klumb: práticas socioculturais e suas produções de sentido / Thales Valeriani Graña Diniz, 2018 93 f. Orientadora: Maria Cristina Gobbi Dissertação (Mestrado)–Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Bauru, 2018 1. Fotografia. 2. Alberto Henschel. 3.Revert Henrique Klumb. 4.Brasil. 5. Iconografia. I. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. II. Título. -

3. Representaciones Visuales De Otredad
NÓMADAS 35 | OCTUBRE DE 2011 | UNIVERSIDAD CENTRAL | COLOMBIA 3. REPRESENTACIONES VISUALES DE OTREDAD VISUAL REPRESENTATIONS OF OTHERNESS Lo mirado | FOTOGRAFÍA DE DANIEL FAJARDO B. {118} } FOTOGRAFÍAS DE AMAS DE LECHE EN BAHÍA. 30/09/2011 EVIDENCIA VISUAL DE LOS APORTES : 3. REPRESENTACIONES AFRICANOS A LA FAMILIA ESCLAVISTA EN BRASIL* ACEPTADO PICTURES OF SOME AMAS-DE-LEITE IN BAHIA. VISUAL EVIDENCE 02/08/2011· VISUALES DE OTREDAD : OF THE AFRICAN ROOTS IN THE BRAZILIAN SLAVISH FAMILY RECIBIDO Christianne Silva Vasconcellos** ORIGINAL { Este artículo presenta un análisis de la producción y el uso de fotografías de personas africanas y afrodescen- dientes, realizadas en Brasil entre 1840, cuando esta técnica fue introducida al país, y 1920, cuando las primeras fotografías aún estaban en circulación. Desde la evidencia visual, se analizan tres temas recurrentes en el Brasil del siglo XIX: la difusión de teorías del racismo científico europeo a través de la fotografía, la creación de los tipos urbanos en las ciudades esclavistas y las nodrizas (amas de leche) como agentes culturales en el seno de la familia colonial en Bahía. Palabras clave: nodrizas (amas de leche) africanas y afrodescendientes, fotografía del siglo XIX, racialismo cientí- fico en Brasil, historiografía bahiana, agentes culturales. Este artigo apresenta uma análise histórica da produção e utilização de fotografias de pessoas africanas e afro-des- cendentes, realizadas no Brasil entre 1840, quando esta técnica foi introduzida no país, e 1920, quando as primeiras fotografias ainda estavam em circulação. A partir da evidencia visual, são analisados três temas recorrentes no Brasil do século XIX: a difusão de teorias do racialismo pseudo-científico europeu através da fotografia, a criação dos tipos urbanos nas cidades escravistas e as amas de leite como agentes culturais da família colonial na Bahia.