Imagem E Pensamento Comunicação E Sociedade
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BRAND NAME PRODUCTS Branded Male Marketing to Men.Pdf
Branded Male hb aw:Branded Male 15/1/08 10:10 Page 1 BRANDED MALE Mark Tungate is the “Tungate dissects the social trends that have been shaping the male consumer across a Men are not what they were. In article after author of the variety of sectors in recent years… Provides insights on how brands can tackle the article we’re told a new type of man is bestselling Fashion business of engaging men in a relevant way – and the influential role that the women in abroad – he’s more interested in looking Brands, as well as the their lives play.” good and he’s a lot keener on shopping. highly acclaimed Carisa Bianchi, President, TBWA / Chiat / Day, Los Angeles Adland: A Global Branded Male sets out to discover what History of Advertising, “Finally a book that uses humour, examples and clever storytelling to shed a new light on makes men tick as consumers and how both published by male trends. Helps us approach male consumers as human beings and not simply as products and services are effectively Kogan Page. Based in marketing targets.” branded for the male market. Using a day Photography: Philippe Lemaire Paris, he is a journalist in the life of a fictional “branded male”, specializing in media, marketing and Roberto Passariello, Marketing Director, Eurosport International Mark Tungate looks at communication. Mark has a weekly column BRANDED male-orientated brands and their in the French media magazine Stratégies, “Ideas, advice and insights that will help anyone aiming to get messages across marketing strategies in areas as diverse as: and writes regularly about advertising, style to men.” and popular culture for the trends David Wilkins, Special Projects Officer, Men’s Health Forum • grooming and skincare; intelligence service WGSN and the • clothes; magazine Campaign. -
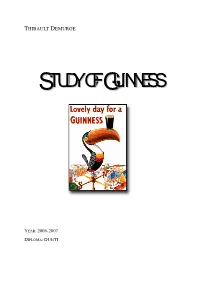
Studyof Guinness
THIBAULT DEMURGE SSTTUUDDYY OOFF GGUUIINNNNEESSSS YEAR: 2006-2007 DIPLOMA: DUETI C ONTENTS BEER CONSUMMATION IN IRELAND: .................................................................... 2 PRESENTATION OF GUINNESS : ............................................................................... 4 THE STEPS TO BREW GUINNESS? .............................................................................................. 6 THEORIES ABOUT ADVERTISING ............................................................................ 8 GLOBAL BRANDING ................................................................................................................. 8 DEFINITION OF GLOBAL BRANDING ......................................................................................... 8 The consumers’ percepton of global brands .................................................................................. 9 Analyse of global branding .............................................................................................................. 9 Challenges facing global brands .................................................................................................... 10 THE MEDIA ........................................................................................................................... 11 Television ....................................................................................................................................... 11 Newspapers .................................................................................................................................. -

Annual Report 2003 Annual04c 5/23/05 3:55 PM Page 1
Annual04C 5/23/05 4:17 PM Page 1 MILWAUKEE ART MUSEUM Annual Report 2003 Annual04C 5/23/05 3:55 PM Page 1 2004 Annual Report Contents Board of Trustees 2 Board Committees 2 President’s Report 5 Director’s Report 6 Curatorial Report 8 Exhibitions, Traveling Exhibitions 10 Loans 11 Acquisitions 12 Publications 33 Attendance 34 Membership 35 Education and Programs 36 Year in Review 37 Development 44 MAM Donors 45 Support Groups 52 Support Group Officers 56 Staff 60 Financial Report 62 Independent Auditors’ Report 63 This page: Visitors at The Quilts of Gee’s Bend exhibition. Front Cover: Milwaukee Art Museum, Quadracci Pavilion designed by Santiago Calatrava. Back cover: Josiah McElheny, Modernity circa 1952, Mirrored and Reflected Infinitely (detail), 2004. See listing p. 18. www.mam.org 1 Annual04C 5/23/05 3:55 PM Page 2 BOARD OF TRUSTEES COMMITTEES OF Earlier European Arts Committee David Meissner MILWAUKEE ART MUSEUM THE BOARD OF TRUSTEES Jim Quirk Joanne Murphy Chair Dorothy Palay As of August 31, 2004 EXECUTIVE COMMITTEE Barbara Recht Sheldon B. Lubar Martha R. Bolles Vicki Samson Sheldon B. Lubar Chair Vice Chair and Secretary Suzanne Selig President Reva Shovers Christopher S. Abele Barbara B. Buzard Dorothy Stadler Donald W. Baumgartner Donald W. Baumgartner Joanne Charlton Vice President, Past President Eric Vogel Lori Bechthold Margaret S. Chester Hope Melamed Winter Frederic G. Friedman Frederic G. Friedman Stephen Einhorn Jeffrey Winter Assistant Secretary and Richard J. Glaisner George A. Evans, Jr. Terry A. Hueneke Eckhart Grohmann Legal Counsel EDUCATION COMMITTEE Mary Ann LaBahn Frederick F. -

Computer Graphics World | 1
Contents Zoom In Zoom Out For navigation instructions please click here Search Issue Next Page ComputerTHE MAGAZINE FOR DIGITAL CONTENT CREATION AND PRODUCTION June 2006 www.cgw.com WORLD On CG Location Setting the virtual scene in prime-time shows Young Again Digital artists reverse the aging process for X-Men CSI: CGI Uncovering the clues for an immersive game experience The Wheel Deal Team Disney/Pixar shifts into high gear to create cars with character $4.95 USA $6.50 Canada Contents Zoom In Zoom Out For navigation instructions please click here Search Issue Next Page A CW Previous Page Contents Zoom In Zoom Out Front Cover Search Issue Next Page BEF MaGS &''&$54108&3)064& &OFSHJ[FZPVSTUVEJPXJUIUIF%#0995.4FSJFT XPSLTUBUJPOTQPXFSFECZ*OUFMT¡OFX%VBM$PSF9FPO¡ 1SPDFTTPST &OKPZFYDFMMFOUQFSGPSNBODF BOEIFBESPPNGPSUPEBZTCJU BQQMJDBUJPOT"OEQSPUFDUZPVS JOWFTUNFOUTBTZPVUSBOTJUJPO UPCJUDPNQVUJOH #099 888#0995&$)$0.________________ 4"-&4!#0995&$)$0.__________________ *OUFM UIF*OUFMMPHP 9FPO BOEUIF9FPOMPHPBSFUSBEFNBSLTPSSFHJTUFSFEUSBEFNBSLT PG*OUFM$PSQPSBUJPOPSJUTTVCTJEJBSJFTJOUIF6OJUFE4UBUFTBOEPUIFSDPVOUSJFT A CW Previous Page Contents Zoom In Zoom Out Front Cover Search Issue Next Page BEF MaGS A CW Previous Page Contents Zoom In Zoom Out Front Cover Search Issue Next Page BEF MaGS June 2006 • Volume 29 • Number 6 THE MAGAZINE FOR DIGITAL CONTENT CREATION AND PRODUCTION Also see www.cgw.com for computer graphics news, special surveys and reports, and the online gallery. Computer WORLD 10 Features Departments Cover story Editor’s Note 2 Car Talk 10 CHARACTER ANIMATION | Team The Ticket to Summer Fun Disney/Pixar builds the ultimate Will this year’s anticipated summer concept cars for the newly released blockbusters shine or fi zzle? vehicle-centric fi lm. -

An Evolution of Guinness Advertising - Business Insider
An Evolution of Guinness Advertising - Business Insider http://www.businessinsider.com/an-evolution-of-guinness-advertising-... 250 YEARS OF GENIUS: A Look At The Evolution Of Guinness Advertising MALLORY RUSSELL MAR. 12, 2012, 3:30 PM Guinness was founded in 1759 but didn't publish its first ad until 1794. In the early 20th century, the brewery began setting the standard for beer advertising with witty, engaging ads that helped create arguably the best-known beer worldwide. People can still quote its first tagline —"Guinness is good for you"—even though it is 83 years old. More recently, the brewer campaigned on Facebook to set a record for the largest St Patrick’s Day party. (And yes, the Guinness Book of World Records was also originally a marketing stunt by the company.) Guinness Guinness 1934 1 di 24 11/03/2015 14.46 An Evolution of Guinness Advertising - Business Insider http://www.businessinsider.com/an-evolution-of-guinness-advertising-... 1794: Guinness's first official press advertisement was published in the U.K. The company was already 63 years old when it started publishing ads. This engraving was published in ‘The Gentleman’s Magazine’ with the caption ‘Health, peace and prosperity’. It is considered to be one of Guinness's earliest ads. 1862: Guinness adopts the harp logo as its brand. 2 di 24 11/03/2015 14.46 An Evolution of Guinness Advertising - Business Insider http://www.businessinsider.com/an-evolution-of-guinness-advertising-... Until the late 1920s Guinness relied on word of mouth to promote its product.. When sales began to decline in the 1930s, Guinness hired S.H. -

DVD MAGAZINE Outstanding Animation, VFX and Motion Graphics for Design and Advertising 15 ��������������������
DVD MAGAZINE Outstanding animation, VFX and motion graphics for design and advertising 15 �������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �������� ������� �������� ������������ ������� ��������������� ������� ��� �������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������������������� �������������������������� ���������������������������������� �������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -

It's Alive Inside!
IT’S ALIVE INSIDE! A NOTE ON THE PREVALENCE OF PERSONIFICATION Stephen Brown Personification is a literary device ordinarily associated with ‘babbling’ brooks, ‘weeping’ willows and ‘dancing’ daffodils. It is also widely used in marketing and advertising. Pepsi’s ‘smiling’ logo, Yakult’s ‘friendly’ bacteria, Karmi’s ‘feminine’ beer bottle and academics’ venerable ideas about product life cycles and marketing myopia, are just some of our many attempts to humanise marketing phenomena. Taking Guinness as a guiding exemplar, this paper develops a taxonomy of brand personifications and attempts to account for the trope’s popularity in marketing theory and practice. A car that says: you’ve arrived. A car that says: currently caught up in the heartrending tribulations you’ve made it. of ‘Salty’, a tearful salt cellar who’s been cast onto A car that says: you’ve achieved something. It’s the condiment scrapheap by Knorr’s low-sodium probably out there somewhere. side-dishes (Williams, ). American adolescents are in awe of Old Spice Man, the buffed, ripped, But wouldn’t you prefer something a little more exciting? I can help with that. super-confident embodiment of a formerly mori - bund range of male grooming requisites (Malvern, I am Mercedes-Benz. ). English aesthetes are appalled by Mandeville and Wenlock, the ghastly mascots for London The above copy is taken from a magazine adver - Olympics, who are supposed to be personified steel tisement for the Mercedes CLC Coupé. It is a castings but whose appearance has been likened to classic example of ‘personification’. Personification ‘terrifying penis monsters’ (Bennett, , p. -

Wayne T Smith Production Design
Wayne T Smith Production design Art direction Liquid effects Wayne’s been involved in commercial production for more than 30 years. Always in the art department, he’s worked with many of the industries best directors and busiest companies worldwide. He’s broad experience in all aspects of the craft makes him an invaluable team member. From designing to liquid effects, he’ll bring out the best in your project. Production design / Art direction / Liquids specialist. Wayne is based in Auckland, New Zealand. He works from Auckland and Los Angeles as a local. He’s a member of the IA. The Art Ranch Ltd. [email protected] +64 9 410 6552 NZ office +64 27 472 3787 NZ cell +01 310 405 6937 US / NZ voip Skype: waynetsmith www.waynetsmith.showreelfinder.com Bookings: Filmcrew; +64 9 377-6494 / [email protected] Commercials: Note: Job names in black indicate projects performed as designer/art director; grey indicate designer/art director + liquids specialist; names in blue indicate liquids specialist. Date Job Production Company Director 11/08 Alfa One Shooter Films Craig Howard 10/08 Coke Flying Fish / PSYOP Live Inc. Todd Mueller & Kylie Matulick 9/08 Samsung Original Films Jim Manera 7/08 Samsung Original Films Jim Manera 6/08 Milo Automatic Mike Oldershaw 6/08 Heineken Smuggler/Sweet Shop Steve Ayson 5/08 Wendy’s Shooter Films Craig Howard 5/08 Oki Shooter Films Craig Howard 4/08 Heineken Robber Dog Gaysorn Thavat 1 3/08 Coffee Bean Jealous Lovers Dennis Hitchcock 2/08 Burger King Cowley Films / Radical Chris Riggert 2/08 Travelers Ins. -

MICHAEL EMERY Production Sound Mixer 6 Cypress Road, San Anselmo, CA 94960 (415) 459-6615
MICHAEL EMERY Production Sound Mixer 6 Cypress Road, San Anselmo, CA 94960 (415) 459-6615 Employment ________________ * Feature METALLICA “SOME KIND OF MONSTER”, 2001-2003. Production Sound Mixer. Radical Media. Director: Joe Berlinger, Bruce Sinofsky. Producer: Joe Berlinger. TWEEK CITY 2002. Production Sound Mixer. Tweek City LLC.. Director:Eric Johnson. Producer: Eric Johnson. JERRY SEINFELD “DIARY OF A JOKE”, 2001. Production Sound Mixer. BridgNorth Films, Inc.. Director: Christan Charles. Producer: Gary Steiner. MARGRET CHO “I’M THE ONE THAT I WANT” 2000. Production Sound Mixer. ChoTaussig Productions. Director: Lionel Coleman. Producer: Margret Cho. AMERICAN PERFEKT 1996. Production Sound Mixer. Amanda Plummer, David Theuliss, Robert Forester, Louise Fletcher, Paul Sorvino. American Perfekt Productions. Director: Paul Chart. Producer: Irwin Kirshner. DREAM WITH THE FISHES 1996. Production Sound Mixer. David Arquette, Cathy Moriarty, Brad Hunt, Kathryn Erbe. 3 Ring Circus. Director: Finn Taylor. Producer: Finn Taylor . DEADFALL 1993. Production Sound Mixer. Nicholas Cage, James Coburn, Michael Biehn, Charlie Sheen, Peter Fonda, Talia Shire, Mickey Dolenz. Trimark/Deadfall Productions. Director: Christopher Coppola. Producer: Ted Fox. FARMER & CHASE 1995. Production Sound Mixer. Ben Gazzara, Laura Flynn Boyle, Todd Field. Red Sky Films. Director: Michael Seitzman. Producer: Doug Humphreys. HORSES & CHAMPIONS 1994. Production Sound Mixer. Timothy Bottoms. Augusta Grace Productions. Director: Jonathon Tydor. Producer: Joseph Ruiz. THE GUNFIGHTER 1997. Production Sound Mixer, Sound Designer, Sound Effects Editor. Martin Sheen, Robert Carradine. Commercial Pictures/Zoetrope Studios. Director: Christopher Coppola. Producer: Michael Danty. MAD CITY 1996. Production Sound Mixer, 2nd Unit. Dustin Hoffman, John Travolta, Mia Kirshner. Warner Brothers. Director: Costa Gavras. Producer: Arnold & Anne Kopelson. LIFE TASTES GOOD 1998. -

Twenty-First Century Aesthetic Adventures in Beer and Cider Advertising on Australian Television
The Sacred Sell: Twenty-First Century Aesthetic Adventures in Beer and Cider Advertising on Australian Television Christopher Hartney Introduction1 In 2017, Meat and Livestock Australia - the body responsible for promoting the consumption of lamb in Australia - launched a controversial television advertisement. Seated around a table in a suburban Australian backyard, a number of religious figures have gathered for lunch. An actor dressed as Bacchus proposes a toast; after a number of suggestions from figures such as L. Ron Hubbard and Moses, the atheist host suggests they toast “lamb - the meat we can all eat,” and all the deities at the table find themselves in accord. No doubt many religious people would be incensed that personalities from their religion’s history have been co-opted to sell meat. But, after making the main point of the advertisement - that, given the broad range of dietary prescriptions in the religions of the world, lamb has mass appeal - the host also explains that atheism is the fastest growing religious category in Australia according to census data, and announces that she is one. This little quip seems to justify the advertisement’s controversial content and its look; the inference being that once Australians would have expressed deep upset at such a scene, but now religious tensions and concerns have been mollified by the increase of disbelief. That the characters in the advertisement are drinking, eating, and enjoying each others’ company additionally suggests that getting religious figures to endorse lamb is not a significant problem in a new and ‘religiously relaxed’ Australia. Well, this is almost the case. -

Catalogue En Français Neederlandstalige Catalogus
Catalogue en français Neederlandstalige catalogus English catalogue Illustration / Illustratie © Nicolas de Crécy / Folioscope 2006 Sommaire - Inhoud - Content 3 Les jurys - De jury’s - The Juries . 4-7 Sélection officielle longs métrages Officiële selectie langspeelfilms Official feature films selection . 9-19 Sélection officielle courts métrages Officiële selectie korte films Official short films selection . 21-61 Rétrospectives Retrospectieven Retrospectives . 62-80 Futuranima . 80-83 Les invités - Genodigden - Guests . 84-89 Index par réalisateur Index par regisseur Index according to filmmakers . 90-91 Index par titre Index per titel Index according to titles . 92-93 Glossaire - Glossarium - Glossary . 94 Ours - Colofon - Colophon . 95 4 Jury Claude Diouri - CNC (B) laude Diouri est né à Fez en laude Diouri werd geboren in laude Diouri was born in Fez C 1941. Après des études de droit C Fez in 1941. Na zijn opleidingen C (Morocco) in 1941. After he et de cinéma, il travaille à la Ciné- recht en film, restaureert hij werken studied Law and Cinema, he started mathèque Royale de Belgique à la voor het Koninlijk Belgisch Film- working on the restoration of films at restauration. Il lance la revue archief. Hij start het tijdschrift the Royal Belgian Film Archives. He “Trépied” et s’essaie à la mise en “Trépied” op en waagt zich aan de founded the magazine “Trépied” and scène avec "Le Rideau Déchiré" aux regie van “Le Rideau Déchiré” in tried his fortune as a director with Beaux-Arts de Bruxelles. En 1968, il het PSK van Brussel. In 1968 opent “Le Rideau Déchiré” at the Brussels ouvre un cinéma d’art et d’essai Le hij het filmhuis Le Styx 1, dat hij in Beaux-Arts. -

Grace of Monaco
GRACE OF MONACO A film by Olivier Dahan Written by Arash Amel Starring: Nicole Kidman TRT: 103 MIN. | U.K. | LANGUAGE: ENGLISH | COLOUR Distribution Publicity Bonne Smith Star PR 1028 Queen Street West Tel: 416-488-4436 Toronto, Ontario, Canada, M6J 1H6 Fax: 416-488-8438 Tel: 416-516-9775 Fax: 416-516-0651 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] www.mongrelmedia.com High res stills may be downloaded from http://www.mongrelmedia.com/press.html At the peak of stardom, Grace Kelly left a successful career as a Hollywood actress to marry Prince Rainier of Monaco in 1956. Six years later, faced with a crisis that threatened Monaco and her marriage, famed director Alfred Hitchcock offers her the chance to return to Hollywood for the starring role in his next film “Marnie”. Grace is at a crossroad: choose the life she thought she always wanted, or embrace the role of the woman she has now become: Her Serene Highness, The Princess of Monaco. “The idea of my life as a fairy tale is itself a fairy tale.” – Grace Kelly An YRF ENTERTAINMENT FILM A STONE ANGELS FILM Directed by Olivier DAHAN Written by Arash AMEL Nicole KIDMAN GRACE of MONACO Tim ROTH Frank LANGELLA Paz VEGA Produced By Pierre-Ange LE POGAM Uday CHOPRA Arash AMEL IN ASSOCIATION WITH SILVER REEL and LOTUS ENTERTAINMENT WITH THE PARTICIPATION OF WALLONIA CO-PRODUCED BY TF1 FILMS PRODUCTION GAUMONT LUCKY RED OD SHOTS UFILM ABOUT THE STORY Set in 1962, six years after her celebrated “Wedding of the Century”, GRACE of MONACO is an intimate snapshot of a year in the life