Marcelovianna Doutorado Tese.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Identificación De Compuestos Leishmanicidas En El Rizoma De Dorstenia Contrajerva
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Posgrado en Ciencias Biológicas IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS LEISHMANICIDAS EN EL RIZOMA DE DORSTENIA CONTRAJERVA Tesis que presenta HÉCTOR ARTURO PENICHE PAVÍA En opción al título de MAESTRO EN CIENCIAS (Ciencias Biológicas: Opción Biotecnología) Mérida, Yucatán, México 2016 Este trabajo se llevó a cabo en la Unidad de Biotecnología del Centro de Investigación Científica de Yucatán, y forma parte del proyecto de ciencia básica Conacyt 105346 titulado “Aislamiento y evaluación in vitro de metabolitos de plantas nativas de Yucatán con actividad antiprotozoaria”, en el que se participó bajo la dirección del Dr. Sergio R. Peraza Sánchez. AGRADECIMIENTOS Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por el apoyo financiero a través del proyecto de Ciencia Básica 105346 con título “Aislamiento y evaluación in vitro de metabolitos de plantas nativas de Yucatán con actividad antiprotozoaria” y por la beca mensual otorgada con número 338183. Al Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), por las facilidades para la realización de este proyecto, en especial a la Unidad de Biotecnología; así como el laboratorio de Inmunobiología del Centro de Investigaciones Regionales (CIR) “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). A mis directores de tesis el Dr. Sergio R. Peraza Sánchez y la Dra. Rosario García Miss, por la confianza brindada al permitirme una vez más ser parte de su equipo de trabajo y por sus valiosos aportes de carácter científico para la realización y culminación exitosa de este trabajo. A la técnica Q.F.B. Mirza Mut Martín, por todas sus atenciones, compartirme su tiempo y conocimiento sobre el cultivo celular de leishmania. -

Ethnopharmacology of Fruit Plants
molecules Review Ethnopharmacology of Fruit Plants: A Literature Review on the Toxicological, Phytochemical, Cultural Aspects, and a Mechanistic Approach to the Pharmacological Effects of Four Widely Used Species Aline T. de Carvalho 1, Marina M. Paes 1 , Mila S. Cunha 1, Gustavo C. Brandão 2, Ana M. Mapeli 3 , Vanessa C. Rescia 1 , Silvia A. Oesterreich 4 and Gustavo R. Villas-Boas 1,* 1 Research Group on Development of Pharmaceutical Products (P&DProFar), Center for Biological and Health Sciences, Federal University of Western Bahia, Rua Bertioga, 892, Morada Nobre II, Barreiras-BA CEP 47810-059, Brazil; [email protected] (A.T.d.C.); [email protected] (M.M.P.); [email protected] (M.S.C.); [email protected] (V.C.R.) 2 Physical Education Course, Center for Health Studies and Research (NEPSAU), Univel University Center, Cascavel-PR, Av. Tito Muffato, 2317, Santa Cruz, Cascavel-PR CEP 85806-080, Brazil; [email protected] 3 Research Group on Biomolecules and Catalyze, Center for Biological and Health Sciences, Federal University of Western Bahia, Rua Bertioga, 892, Morada Nobre II, Barreiras-BA CEP 47810-059, Brazil; [email protected] 4 Faculty of Health Sciences, Federal University of Grande Dourados, Dourados, Rodovia Dourados, Itahum Km 12, Cidade Universitaria, Caixa. postal 364, Dourados-MS CEP 79804-970, Brazil; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +55-(77)-3614-3152 Academic Editors: Raffaele Pezzani and Sara Vitalini Received: 22 July 2020; Accepted: 31 July 2020; Published: 26 August 2020 Abstract: Fruit plants have been widely used by the population as a source of food, income and in the treatment of various diseases due to their nutritional and pharmacological properties. -

Evolution of Angiosperm Pollen. 7. Nitrogen-Fixing Clade1
Evolution of Angiosperm Pollen. 7. Nitrogen-Fixing Clade1 Authors: Jiang, Wei, He, Hua-Jie, Lu, Lu, Burgess, Kevin S., Wang, Hong, et. al. Source: Annals of the Missouri Botanical Garden, 104(2) : 171-229 Published By: Missouri Botanical Garden Press URL: https://doi.org/10.3417/2019337 BioOne Complete (complete.BioOne.org) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses. Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne’s Terms of Use, available at www.bioone.org/terms-of-use. Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder. BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research. Downloaded From: https://bioone.org/journals/Annals-of-the-Missouri-Botanical-Garden on 01 Apr 2020 Terms of Use: https://bioone.org/terms-of-use Access provided by Kunming Institute of Botany, CAS Volume 104 Annals Number 2 of the R 2019 Missouri Botanical Garden EVOLUTION OF ANGIOSPERM Wei Jiang,2,3,7 Hua-Jie He,4,7 Lu Lu,2,5 POLLEN. 7. NITROGEN-FIXING Kevin S. Burgess,6 Hong Wang,2* and 2,4 CLADE1 De-Zhu Li * ABSTRACT Nitrogen-fixing symbiosis in root nodules is known in only 10 families, which are distributed among a clade of four orders and delimited as the nitrogen-fixing clade. -

Exudates Used As Medicine by the “Caboclos River-Dwellers” of the Unini River, AM, Brazil – Classification Based in Their
Revista Brasileira de Farmacognosia 26 (2016) 379–384 ww w.elsevier.com/locate/bjp Original Article Exudates used as medicine by the “caboclos river-dwellers” of the Unini River, AM, Brazil – classification based in their chemical composition a,b a a a João Henrique G. Lago , Jaqueline Tezoto , Priscila B. Yazbek , Fernando Cassas , c a,∗ Juliana de F.L. Santos , Eliana Rodrigues a Department of Biological Sciences, Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos, Universidade Federal de São Paulo, Diadema, SP, Brazil b Department of Exact Sciences and Earth, Universidade Federal de São Paulo, Diadema, SP, Brazil c Coordenac¸ ão em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, Brazil a b s t r a c t a r t i c l e i n f o Article history: Although the use of exudates in traditional medicine has been commonly observed during ethnophar- Received 30 June 2015 macological surveys, few records have been made concerning the scientific merits of these products. The Accepted 14 March 2016 aim of this study was to document ethnopharmacological data and to classify exudates used as medicine Available online 28 March 2016 by the “caboclos” river-dwellers from the Unini River of Amazonas, Brazil, on chemical analyses basis. Using an ethnographic approach, indicated plants and their respective exudates were collected, identi- Keywords: fied and incorporated into herbarium of the National Institute of Amazonian Research. To classify these Amazon forest exudates, plant material was extracted using methanol, and obtained extracts were analyzed by Nuclear Ethnobotany Magnetic Resonance and mass spectrometry aiming identification of main compounds. -

The One Hundred Tree Species Prioritized for Planting in the Tropics and Subtropics As Indicated by Database Mining
The one hundred tree species prioritized for planting in the tropics and subtropics as indicated by database mining Roeland Kindt, Ian K Dawson, Jens-Peter B Lillesø, Alice Muchugi, Fabio Pedercini, James M Roshetko, Meine van Noordwijk, Lars Graudal, Ramni Jamnadass The one hundred tree species prioritized for planting in the tropics and subtropics as indicated by database mining Roeland Kindt, Ian K Dawson, Jens-Peter B Lillesø, Alice Muchugi, Fabio Pedercini, James M Roshetko, Meine van Noordwijk, Lars Graudal, Ramni Jamnadass LIMITED CIRCULATION Correct citation: Kindt R, Dawson IK, Lillesø J-PB, Muchugi A, Pedercini F, Roshetko JM, van Noordwijk M, Graudal L, Jamnadass R. 2021. The one hundred tree species prioritized for planting in the tropics and subtropics as indicated by database mining. Working Paper No. 312. World Agroforestry, Nairobi, Kenya. DOI http://dx.doi.org/10.5716/WP21001.PDF The titles of the Working Paper Series are intended to disseminate provisional results of agroforestry research and practices and to stimulate feedback from the scientific community. Other World Agroforestry publication series include Technical Manuals, Occasional Papers and the Trees for Change Series. Published by World Agroforestry (ICRAF) PO Box 30677, GPO 00100 Nairobi, Kenya Tel: +254(0)20 7224000, via USA +1 650 833 6645 Fax: +254(0)20 7224001, via USA +1 650 833 6646 Email: [email protected] Website: www.worldagroforestry.org © World Agroforestry 2021 Working Paper No. 312 The views expressed in this publication are those of the authors and not necessarily those of World Agroforestry. Articles appearing in this publication series may be quoted or reproduced without charge, provided the source is acknowledged. -

Phylogenetic Relationships in the Order Cucurbitales and a New Classification of the Gourd Family (Cucurbitaceae)
Schaefer & Renner • Phylogenetic relationships in Cucurbitales TAXON 60 (1) • February 2011: 122–138 TAXONOMY Phylogenetic relationships in the order Cucurbitales and a new classification of the gourd family (Cucurbitaceae) Hanno Schaefer1 & Susanne S. Renner2 1 Harvard University, Department of Organismic and Evolutionary Biology, 22 Divinity Avenue, Cambridge, Massachusetts 02138, U.S.A. 2 University of Munich (LMU), Systematic Botany and Mycology, Menzinger Str. 67, 80638 Munich, Germany Author for correspondence: Hanno Schaefer, [email protected] Abstract We analysed phylogenetic relationships in the order Cucurbitales using 14 DNA regions from the three plant genomes: the mitochondrial nad1 b/c intron and matR gene, the nuclear ribosomal 18S, ITS1-5.8S-ITS2, and 28S genes, and the plastid rbcL, matK, ndhF, atpB, trnL, trnL-trnF, rpl20-rps12, trnS-trnG and trnH-psbA genes, spacers, and introns. The dataset includes 664 ingroup species, representating all but two genera and over 25% of the ca. 2600 species in the order. Maximum likelihood analyses yielded mostly congruent topologies for the datasets from the three genomes. Relationships among the eight families of Cucurbitales were: (Apodanthaceae, Anisophylleaceae, (Cucurbitaceae, ((Coriariaceae, Corynocarpaceae), (Tetramelaceae, (Datiscaceae, Begoniaceae))))). Based on these molecular data and morphological data from the literature, we recircumscribe tribes and genera within Cucurbitaceae and present a more natural classification for this family. Our new system comprises 95 genera in 15 tribes, five of them new: Actinostemmateae, Indofevilleeae, Thladiantheae, Momordiceae, and Siraitieae. Formal naming requires 44 new combinations and two new names in Cucurbitaceae. Keywords Cucurbitoideae; Fevilleoideae; nomenclature; nuclear ribosomal ITS; systematics; tribal classification Supplementary Material Figures S1–S5 are available in the free Electronic Supplement to the online version of this article (http://www.ingentaconnect.com/content/iapt/tax). -
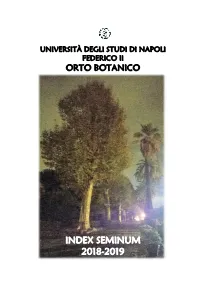
Index Seminum 2018-2019
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ORTO BOTANICO INDEX SEMINUM 2018-2019 In copertina / Cover “La Terrazza Carolina del Real Orto Botanico” Dedicata alla Regina Maria Carolina Bonaparte da Gioacchino Murat, Re di Napoli dal 1808 al 1815 (Photo S. Gaudino, 2018) 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ORTO BOTANICO INDEX SEMINUM 2018 - 2019 SPORAE ET SEMINA QUAE HORTUS BOTANICUS NEAPOLITANUS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT 3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ORTO BOTANICO ebgconsortiumindexseminum2018-2019 IPEN member ➢ CarpoSpermaTeca / Index-Seminum E- mail: [email protected] - Tel. +39/81/2533922 Via Foria, 223 - 80139 NAPOLI - ITALY http://www.ortobotanico.unina.it/OBN4/6_index/index.htm 4 Sommario / Contents Prefazione / Foreword 7 Dati geografici e climatici / Geographical and climatic data 9 Note / Notices 11 Mappa dell’Orto Botanico di Napoli / Botanical Garden map 13 Legenda dei codici e delle abbreviazioni / Key to signs and abbreviations 14 Index Seminum / Seed list: Felci / Ferns 15 Gimnosperme / Gymnosperms 18 Angiosperme / Angiosperms 21 Desiderata e condizioni di spedizione / Agreement and desiderata 55 Bibliografia e Ringraziamenti / Bibliography and Acknowledgements 57 5 INDEX SEMINUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ORTO BOTANICO Prof. PAOLO CAPUTO Horti Praefectus Dr. MANUELA DE MATTEIS TORTORA Seminum curator STEFANO GAUDINO Seminum collector 6 Prefazione / Foreword L'ORTO BOTANICO dell'Università ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere e proteggere, -

“Desenvolvimento Da Flor E Da Inflorescência Em Espécies De
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FFCLRP - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA COMPARADA “Desenvolvimento da flor e da inflorescência em espécies de Moraceae”. VIVIANE GONÇALVES LEITE Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, como parte das exigências para a obtenção do título de Doutor em Ciências, Área: Biologia Comparada RIBEIRÃO PRETO - SP 2016 VIVIANE GONÇALVES LEITE “Desenvolvimento da flor e da inflorescência em espécies de Moraceae”. Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, como parte das exigências para a obtenção do título de Doutor em Ciências, Área: Biologia Comparada Orientadora: Profa. Dra. Simone de Pádua Teixeira RIBEIRÃO PRETO - SP 2016 Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Catalogação na Publicação Serviço de Documentação Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto Leite, Viviane Gonçalves Desenvolvimento da flor e da inflorescência em espécies de Moraceae. Ribeirão Preto, 2016. 135p. Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Área de concentração: Biologia Comparada. Orientadora: Simone de Pádua Teixeira. 1. análise de superfície, 2. arquitetura do receptáculo, 3. morfologia, 4. ontogenia floral, 5. pseudomonomeria. Leite, V. G. Desenvolvimento da flor e da inflorescência em espécies de Moraceae. Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, para obtenção do título de Doutor em Ciências – Área de Concentração: Biologia Comparada Aprovado em: Ribeirão Preto,____________________________________________de 2016. -

Flora and Annual Distribution of Flowers and Fruits in the Ubajara National Park, Ceará, Brazil
Floresta e Ambiente 2020; 27(2): e20190058 https://doi.org/10.1590/2179-8087.005819 ISSN 2179-8087 (online) ORIGINAL ARTICLE - Conservation of Nature Flora and Annual Distribution of Flowers and Fruits in the Ubajara National Park, Ceará, Brazil Andréa Pereira Silveira1 0000-0001-6785-5319 Bruno Sousa de Menezes2 0000-0003-1134-8996 Maria Iracema Bezerra Loiola2 0000-0003-3389-5560 Luiz Wilson Lima-Verde2 0000-0002-6908-1692 Dalva Neta e Zanina2 0000-0002-4653-445X Ellen Cristina Dantas de Carvalho2 0000-0002-6887-3970 Bruno Cruz de Souza2 0000-0002-4746-2638 Rafael Carvalho da Costa2 0000-0002-0942-3128 Waldir Mantovani2 0000-0002-9394-6860 Marcelo Oliveira Teles de Menezes3 0000-0003-2129-6843 Lilian Maria Araújo Flores2 0000-0001-8037-6021 Francisco Carlos Barboza Nogueira4 Ligia Queiroz Matias2 0000-0002-1889-5354 Lívia Silvia Barbosa5 Fernanda Melo Gomes2 0000-0002-4213-6577 Luciana Silva Cordeiro2 0000-0001-5624-2285 Valéria da Silva Sampaio2 0000-0002-6551-8877 Maria Edenilce Peixoto Batista2 0000-0002-1239-0902 Raimundo Luciano Soares Neto6 0000-0002-5643-9464 Maria Arlene Pessoa da Silva7 0000-0001-8148-5350 Natália Barbosa Campos7 Arycelle Alves de Oliveira7 Francisca Soares de Araujo2 0000-0003-4661-6137 Abstract Although the conservation of tropical biodiversity depends on protected areas, there is still a very large ‘gap’ of knowledge on the flora of Brazilian reserves, especially in the Northeast region of Brazil. Field and herbarium surveys of the phanerogamic flora of the Ubajara National Park, located on the Brazilian Northeast, were made and analyses on phenology and dispersal syndromes were performed. -

Dissertação Welma Sousa Silva.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA PROGRAMA INTEGRADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA TROPICAL E RECURSOS NATURAIS COORDENAÇÃO DE PESQUISAS EM BOTÂNICA SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA DOS GÊNEROS NEOTROPICAIS DA TRIBO DORSTENIEAE Dumort. Brosimum Sw, Helianthostylis Baillon e Trymatococcus Poepp. & Endl. (MORACEAE) WELMA SOUSA SILVA Manaus – AM Junho, 2007 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA PROGRAMA INTEGRADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA TROPICAL E RECURSOS NATURAIS COORDENAÇÃO DE PESQUISAS EM BOTÂNICA SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA DOS GÊNEROS NEOTROPICAIS DA TRIBO DORSTENIEAE Dumort. Brosimum Sw, Helianthostylis Baillon e Trymatococcus Poepp. & Endl. (MORACEAE) WELMA SOUSA SILVA Orientadora: Dra Aparecida Donisete de Faria Projeto de Pesquisa apresentado ao Programa Integrado de Pós-Graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais do convênio INPA/UFAM, como parte dos requisitos para obtenção do Título de Mestre em Ciências Biológicas, área de concentração em Botânica. Manaus – AM Junho, 2007 i Silva, Welma Sousa Sistemática Filogenética dos gêneros neotropicais da Tribo Dorstenieae: Brosimum Sw, Helianthostylis Baillon e Trymatococcus Poepp. & Endl. (MORACEAE): / Welma Sousa S. Araújo – Manaus: UFAM/INPA, 2007. 100 p. ilust. Dissertação de Mestrado - Área de concentração Botânica. 1. Sistemática 2. Filogenia 3. Moraceae CDD 19º ed. 595.735 Sinopse: Foi estudada a sistemática filogenética dos gêneros neotropicais Brosimum, Helianthostylis e Trymatococcus (Moraceae), com utilização de caracteres morfológicos, anatômico e moleculares. Os resultados apresentaram evidências sobre as relações entre os táxons analisados. Palavras-chave: Moraceae, Sistemática filogenética, Taxonomia, Neotrópicos ii À mulher mais importante da minha vida, Meu suporte, meu refúgio, Minha mãe Maria Lúcia, Dedico, iii iv AGRADECIMENTOS Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. -

Lowland Vegetation of Tropical South America -- an Overview
Lowland Vegetation of Tropical South America -- An Overview Douglas C. Daly John D. Mitchell The New York Botanical Garden [modified from this reference:] Daly, D. C. & J. D. Mitchell 2000. Lowland vegetation of tropical South America -- an overview. Pages 391-454. In: D. Lentz, ed. Imperfect Balance: Landscape Transformations in the pre-Columbian Americas. Columbia University Press, New York. 1 Contents Introduction Observations on vegetation classification Folk classifications Humid forests Introduction Structure Conditions that suppport moist forests Formations and how to define them Inclusions and archipelagos Trends and patterns of diversity in humid forests Transitions Floodplain forests River types Other inundated forests Phytochoria: Chocó Magdalena/NW Caribbean Coast (mosaic type) Venezuelan Guayana/Guayana Highland Guianas-Eastern Amazonia Amazonia (remainder) Southern Amazonia Transitions Atlantic Forest Complex Tropical Dry Forests Introduction Phytochoria: Coastal Cordillera of Venezuela Caatinga Chaco Chaquenian vegetation Non-Chaquenian vegetation Transitional vegetation Southern Brazilian Region Savannas Introduction Phytochoria: Cerrado Llanos of Venezuela and Colombia Roraima-Rupununi savanna region Llanos de Moxos (mosaic type) Pantanal (mosaic type) 2 Campo rupestre Conclusions Acknowledgments Literature Cited 3 Introduction Tropical lowland South America boasts a diversity of vegetation cover as impressive -- and often as bewildering -- as its diversity of plant species. In this chapter, we attempt to describe the major types of vegetation cover in this vast region as they occurred in pre- Columbian times and outline the conditions that support them. Examining the large-scale phytogeographic regions characterized by each major cover type (see Fig. I), we provide basic information on geology, geological history, topography, and climate; describe variants of physiognomy (vegetation structure) and geography; discuss transitions; and examine some floristic patterns and affinities within and among these regions. -

Jackfruit Trees As Seed Attractors and Nurses of Early Recruitment of Native Plant Species in a Secondary Forest in Brazil
Jackfruit trees as seed attractors and nurses of early recruitment of native plant species in a secondary forest in Brazil. Milena Gomes Universidade Estadual de Santa Cruz Eliana Cazetta Universidade Estadual de Santa Cruz Ricardo Bovendorp Universidade Estadual de Santa Cruz Deborah Faria ( [email protected] ) Universidade Estadual de Santa Cruz https://orcid.org/0000-0002-0375-2887 Research Article Keywords: Invasive alien species, native species, seed rain, recruitment, Atlantic Forest Posted Date: June 23rd, 2021 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-188831/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License Version of Record: A version of this preprint was published at Plant Ecology on August 7th, 2021. See the published version at https://doi.org/10.1007/s11258-021-01167-9. Page 1/21 Abstract The Atlantic Forest is one of the most threatened tropical forests in the world, being drastically reduced, fragmented and disturbed. The drastic process of anthropic occupation and exploitation of this biome has, in many cases, led to the introduction of exotic species, such as the jackfruits (Artocarpus heterophyllus). However, studies on the inuence of jackfruits on the native biota are still scarce. Here we investigated the inuence of fruit trees on the seed rain and early recruitment of seedlings in native remnants, comparing these patterns with those observed for a native species tapirira (Tapirira guianensis), which similarly to jackfruits, produces many fruits thruought the year, attracting a variety of frugivore species. Seed rain and seedlings observed under the jackfruits were both more abundant and equally rich to the assemblages reported under the native tapirira trees.