Universidade Federal De Uberlândia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stenoma Catenifer Walsingham
Avocado Seed Moth Screening Aid Stenoma catenifer Walsingham Hanna R. Royals1, Todd M. Gilligan1 and Steven C. Passoa2 1) Identification Technology Program (ITP) / Colorado State University, USDA-APHIS-PPQ-Science & Technology (S&T), 2301 Research Boulevard, Suite 108, Fort Collins, Colorado 80526 U.S.A. (Emails: [email protected]; [email protected]) 2) USDA-APHIS-PPQ, USDA-FS Northern Forest Research Station and Ohio State University, 1315 Kinnear Road, Columbus, Ohio 43212 U.S.A. (Email: [email protected]) This CAPS (Cooperative Agricultural Pest Survey) screening aid produced for and distributed by: Version 2 20 January 2016 USDA-APHIS-PPQ National Identification Services (NIS) This and other identification resources are available at: http://caps.ceris.purdue.edu/taxonomic_services The avocado seed moth, Stenoma catenifer is one of the most important moth pests in avocado-growing regions of the world. Larvae feed on fruit flesh and burrow into the seed, producing large amounts of frass and causing the fruits to drop from the tree prematurely. Larval damage renders the fruits unfit for commercial sale, leading to significant economic losses. The avocado seed moth has only been recorded as feeding on members of the Lauraceae family, with Persea americana (avocado) as the major host and other secondary hosts: P. schiedeana (coyo), wild Persea spp., and Beilschmedia spp. California accounts for the majority of avocado production in the U.S., followed by Florida and Hawaii. Stenoma catenifer is a small moth with few distinguishing features Fig. 1. Dorsal (top) and ventral (bottom) as an adult. -
![24 Janeiro 2012 REVISADO GERAL[1]](https://docslib.b-cdn.net/cover/9046/24-janeiro-2012-revisado-geral-1-639046.webp)
24 Janeiro 2012 REVISADO GERAL[1]
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS TELDES CORRÊA ALBUQUERQUE ANÁLISE EMERGÉTICA DE UM SISTEMA AGROFLORESTAL: SÍTIO CATAVENTO, INDAITUBA, SP TESE DE DOUTORADO APRESENTADA À FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS UNICAMP PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTOR EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS ENRIQUE ORTEGA RODRÍGUEZ ORIENTADOR Este exemplar corresponde à versão final da tese Análise Emergética de um Sistema Agroflorestal: Sítio Catavento, Indaiatuba, SP, defendida por Teldes Corrêa Albuquerque, aprovada pela comissão julgadora em 27/02/2012 e orientada pelo Prof. Dr. Enrique Ortega Rodríguez. _____________________ Assinatura do Orientador CAMPINAS, 2012 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA POR LUCIANA P. MILLA – CRB8/8129- BIBLIOTECA DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS – UNICAMP Albuquerque, Teldes Corrêa AL15a Análise emergética de um sistema agroflorestal: Sítio Catavento, Indaiatuba, SP. / Teldes Corrêa Albuquerque. - Campinas, SP: [s.n], 2012. Orientador: Enrique Ortega Rodríguez Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia de Alimentos. 1. Agrofloresta. 2. Sustentabilidade. 3. Emergia. 4. Recuperação florestal. I. Rodríguez, Enrique Ortega. II. Universidade Estadual de Campinas.Faculdade de Engenharia de Alimentos. III. Título. Informações para Biblioteca Digital Título em inglês: Emergy analysis of na agroforestry system Palavras-chave em inglês (Keywords): Agroforestry Sustainability Emergy Foresty recovery Área de concentração: Engenharia de Alimentos Titulação: Doutor em Engenharia -

Fabiana Luiza Ranzato Filardi Espécies Lenhosas De Leguminosae Na Estação Ambiental De Volta Grande, Minas Gerais, Brasil
FABIANA LUIZA RANZATO FILARDI ESPÉCIES LENHOSAS DE LEGUMINOSAE NA ESTAÇÃO AMBIENTAL DE VOLTA GRANDE, MINAS GERAIS, BRASIL Tese apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Botânica, para obtenção do título de “Magister Scientiae” VIÇOSA MINAS GERAIS - BRASIL 2005 FA FABIANA LUIZA RANZATO FILARDI ESPÉCIES LENHOSAS DE LEGUMINOSAE NA ESTAÇÃO AMBIENTAL DE VOLTA GRANDE, MINAS GERAIS, BRASIL Tese apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Botânica, para obtenção do título de “Magister Scientiae” APROVADA: 25 de fevereiro de 2005 _______________________________ ____________________________ Drª. Rita Maria de Carvalho-Okano Dra. Milene Faria Vieira (Conselheira) ______________________________ ____________________________ Dr. Haroldo Cavalcante de Lima Dr. Luciano Paganucci de Queiroz ______________________________________ Drª. Flávia Cristina Pinto Garcia (Orientadora) FA “Acredito que o “ócio criativo” se tornará cada vez mais difundido e cito um pensamento Zen que expressa com perfeição essa forma de vida, tanto no seu aspecto prático como no seu estado de espírito: Aquele que é mestre na arte de viver faz pouca distinção entre o seu trabalho e o seu tempo livre, entre a sua mente e seu corpo, entre a sua educação e a sua recreação, entre o seu amor e a sua religião.” Domenico De Masi ii AGRADECIMENTOS Agradeço à minha mãe, que não se dava conta da força das palavras e me desejava um futuro cheio de flores nos discos da Rita Lee, e ao papai, que aprendeu a fazer trilhas e a querer saber das flores. Agradeço à minha família por tudo que sou e por tudo que acreditam que ainda serei. -

Checklist of Texas Lepidoptera Knudson & Bordelon, Jan 2018 Texas Lepidoptera Survey
1 Checklist of Texas Lepidoptera Knudson & Bordelon, Jan 2018 Texas Lepidoptera Survey ERIOCRANIOIDEA TISCHERIOIDEA ERIOCRANIIDAE TISCHERIIDAE Dyseriocrania griseocapitella (Wlsm.) Eriocraniella mediabulla Davis Coptotriche citripennella (Clem.) Eriocraniella platyptera Davis Coptotriche concolor (Zell.) Coptotriche purinosella (Cham.) Coptotriche clemensella (Cham). Coptotriche sulphurea (F&B) NEPTICULOIDEA Coptotriche zelleriella (Clem.) Tischeria quercitella Clem. NEPTICULIDAE Coptotriche malifoliella (Clem.) Coptotriche crataegifoliae (Braun) Ectoedemia platanella (Clem.) Coptotriche roseticola (F&B) Ectoedemia rubifoliella (Clem.) Coptotriche aenea (F&B) Ectoedemia ulmella (Braun) Asterotriche solidaginifoliella (Clem.) Ectoedemia obrutella (Zell.) Asterotriche heliopsisella (Cham.) Ectoedemia grandisella (Cham.) Asterotriche ambrosiaeella (Cham.) Nepticula macrocarpae Free. Asterotriche helianthi (F&B) Stigmella scintillans (Braun) Asterotriche heteroterae (F&B) Stigmella rhoifoliella (Braun) Asterotriche longeciliata (F&B) Stigmella rhamnicola (Braun) Asterotriche omissa (Braun) Stigmella villosella (Clem.) Asterotriche pulvella (Cham.) Stigmella apicialbella (Cham.) Stigmella populetorum (F&B) Stigmella saginella (Clem.) INCURVARIOIDEA Stigmella nigriverticella (Cham.) Stigmella flavipedella (Braun) PRODOXIDAE Stigmella ostryaefoliella (Clem.) Stigmella myricafoliella (Busck) Tegeticula yuccasella (Riley) Stigmella juglandifoliella (Clem.) Tegeticula baccatella Pellmyr Stigmella unifasciella (Cham.) Tegeticula carnerosanella Pellmyr -

Plant Structure in the Brazilian Neotropical Savannah Species
Chapter 16 Plant Structure in the Brazilian Neotropical Savannah Species Suzane Margaret Fank-de-Carvalho, Nádia Sílvia Somavilla, Maria Salete Marchioretto and Sônia Nair Báo Additional information is available at the end of the chapter http://dx.doi.org/10.5772/59066 1. Introduction This chapter presents a review of some important literature linking plant structure with function and/or as response to the environment in Brazilian neotropical savannah species, exemplifying mostly with Amaranthaceae and Melastomataceae and emphasizing the environment potential role in the development of such a structure. Brazil is recognized as the 17th country in megadiversity of plants, with 17,630 endemic species among a total of 31,162 Angiosperms [1]. The focus in the Brazilian Cerrado Biome (Brazilian Neotropical Savannah) species is justified because this Biome is recognized as a World Priority Hotspot for Conservation, with more than 7,000 plant species and around 4,400 endemic plants [2-3]. The Brazilian Cerrado Biome is a tropical savannah-like ecosystem that occupies about 2 millions of km² (from 3-24° Latitude S and from 41-43° Longitude W), with a hot, semi-humid seasonal climate formed by a dry winter (from May to September) and a rainy summer (from October to April) [4-8]. Cerrado has a large variety of landscapes, from tall savannah woodland to low open grassland with no woody plants and wetlands, as palm swamps, supporting the richest flora among the world’s savannahs-more than 7,000 native species of vascular plants- with high degree of endemism [3, 6]. The “cerrado” word is used to the typical vegetation, with grasses, herbs and 30-40% of woody plants [9-10] where trees and bushes display contorted trunk and branches with thick and fire-resistant bark, shiny coriaceous leaves and are usually recovered with dense indumentum [10]. -

Evolution of Seed Dispersal in the Cerrado Biome: Ecological and Phylogenetic Considerations
Acta Botanica Brasilica - 30(2): 271-282. April-June 2016. ©2016 doi: 10.1590/0102-33062015abb0331 Evolution of seed dispersal in the Cerrado biome: ecological and phylogenetic considerations Marcelo Kuhlmann1* and José Felipe Ribeiro2 Received: December 17, 2015 Accepted: March 31, 2016 . ABSTRACT Th e investigation of the phylogeny of a group of organisms has the potential to identify ecological and evolutionary processes that have been occurring within a community. Seed dispersal is a key process in the life cycle of vegetation and refl ects diff erent reproductive strategies of plants to a set of ecological and evolutionary factors. Knowing the dispersal syndromes and fruits types of a plant community may help elucidate plant-animal interactions and colonization strategies of plants. We investigated dispersal syndromes and fruit types in Cerrado formations as a parameter for understanding the evolution of angiosperm reproductive strategies in this mega-diverse tropical biome. To do this we identifi ed and mapped the distribution of diff erent parameters associated with seed dispersal on a phylogeny of Cerrado angiosperms genera and tested the presence of phylogenetic signal. Th e results showed that there were strong relationships between fruit types, seed dispersal strategies and vegetation life forms and that these traits were closely related to angiosperms phylogeny and, together, contribute to the evolution of plants in the forest, savanna and grassland formations of the Cerrado biome. Keywords: dispersal strategies, forest, fruit types, grassland, life forms, phylogeny, savanna & Smallwood 1982; Fleming 1991; Jordano et al. 2006). Introduction Plant-animal interactions have had central role on the evolution and diversifi cation of fruit morphology and The evolution of angiosperms started about 130 seed dispersal in the life of angiosperms (Jordano 1995; million years ago (Crane et al. -

Martinez Andrenunes M.Pdf
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE BIOLOGIA ANDRÉ NUNES MARTINEZ Padrão filogenético de comunidades arbustivo-arbóreas de Cerrado em diferentes escalas espaciais e filogenéticas Phylogenetic pattern of Cerrado shrub-tree communities on different spatial and phylogenetic scales Campinas 2018 ANDRÉ NUNES MARTINEZ Padrão filogenético de comunidades arbustivo-arbóreas de Cerrado em diferentes escalas espaciais e filogenéticas Phylogenetic pattern of Cerrado shrub-tree communities on different spatial and phylogenetic scales Dissertação apresentada ao Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Ecologia Dissertation presented to the Institute of Biology of the University of Campinas in partial fullfilment of the requirements for the degree of Master in Ecology Este arquivo digital corresponde a versão final da dissertação pelo aluno André Nunes Martinez e orientado pelo Professor Doutor Fernando Roberto Martins Orientador: Dr. Fernando Roberto Martins Campinas 2018 COMISSÃO EXAMINADORA Prof. Dr. Fernando Roberto Martins Dra. Lilian Patricia Sales Macedo Dr. Leandro Cardoso Pederneiras Os membros da Comissão Examinadora acima assinaram a Ata de Defesa, que se encontra no processo de vida acadêmica do aluno. À minha mãe, Vania, minha maior inspiração À todos meus irmãos de quatro patas, por todo seu amor. “Down Bend the trees quietly witnessing Man’s journey into himself” Lorenna McKennitt, Ages Past, Ages Hence AGRADECIMENTOS Primeiramente gostaria de agradecer a minha família por todos suporte e apoio que me deram ao longo dos anos em que esta tese foi desenvolvida. Agradeço em especial meus pais, Vania e Celso pela confiança, pelos ínumeros incentivos nós momentos difíceis e por todo suporte que me deram nos estudos. -
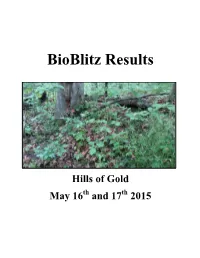
Bioblitz Results
BioBlitz Results Hills of Gold May 16th and 17th 2015 RESULTS FROM THE 2015 HILLS OF GOLD BIODIVERSITY SURVEY JOHNSON COUNTY, INDIANA Compiled from the Science Team Reports Assembled by Don Ruch (Indiana Academy of Science) Table of Contents Title Page………………………………………………………………………….………… 1 Table of Contents…………………………………………………………………………… 2 General Introduction ……..………………………………………………………..……….. 3-4 Maps…………………………………………………………………………………….…... 5-6 History of the Hills of Gold Conservation Area ……………………….……………….….. 7-10 Geology Report – Hills of Gold Conservation Area …………………….……………….… 10-30 Results Title Page …………………………………………………………………………... 31 Bat Team Results ..………………………………….….………………………..…………. 32-34 Beetle Team Results ………………………………………………...……………………… 35-37 Bird Team Results ……………………………………..…………………………………… 38-43 Fish Team Results ……………………………………………………….…………………. 44-45 Freshwater Mussel Team Results …………………………………………………………... 46 Herpetofauna Team Results ……………………………………………............................... 47-52 Mammal Team Results ……………………………………………………………………… 53-54 Moth, Singing Insect, and Non-target Arthropod Species Team Results ………………….. 55-57 Mushroom, Fungi, and Slime Mold Team Results …………………………………………. 58-62 Non-vascular Plants (Bryophyta) Team Results ……………………………………………. 63-66 Snail-killing Flies (Sciomyzidae) Team Results ……………………………………………. 67-68 Spider Team Results ………………………………………………………………………… 69-73 Vascular Plant Team Results …………………………..……………………………………. 74-97 Biodiversity Survey Participants ……………………………………………………………. 98-100 Biodiversity Survey Sponsors -

Flora Da Serra Do Cipó, Minas Gerais: Leguminosae – Mimosoideae1
41 FLORA DA SERRA DO CIPÓ, MINAS GERAIS: LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE1 LEONARDO MAURICI BORGES & JOSÉ RUBENS PIRANI Departamento de Botânica, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, Rua do Matão, 277, Cidade Universitária, 05508-090 - São Paulo, SP, Brasil. Abstract- (Flora of the Serra do Cipó, Minas Gerais: Leguminosae - Mimosoideae). The study of Leguminosae - Mimosoideae is part of the project “Flora of Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil”. This subfamily is represented in the area by 62 species belonging to 14 genera: Abarema (2 spp.), Albizia (1 sp.), Anadenanthera (1 sp.), Calliandra (6 spp.), Enterolobium (1 sp.), Inga (7 spp.), Leucochloron (1 sp.), Mimosa (27 spp.), Piptadenia (4 spp.), Plathymenia (1 sp.), Pseudopiptadenia (3 spp.), Senegalia (4 spp.), Stryphnodendron (3 spp.) and Zygia (1 sp.). Identification keys to taxa, illustrations, comments on geographic distribution and phenology are provided. Key words: campo rupestre, cerrado, endemism, Espinhaço Range, floristics, semideciduous seasonal forest. Resumo- (Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Leguminosae-Mimosoideae). O estudo de Leguminosae - Mimosoideae é parte do projeto “Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil”. Essa subfamília é representada na área por 62 espécies pertencentes a 14 gêneros: Abarema (2 spp.), Albizia (1 sp.), Anadenanthera (1 sp.), Calliandra (6 spp.), Enterolobium (1 sp.), Inga (7 spp.), Leucochloron (1 sp.), Mimosa (27 spp.), Piptadenia (4 spp.), Plathymenia (1 sp.), Pseudopiptadenia (3 spp.), Senegalia (4 spp.), Stryphnodendron (3 spp.) and Zygia (1 sp.). São apresentadas chaves de identificação para os táxons, ilustrações, comentários sobre distribuição geográfica e fenologia. Palavras-chave: Cadeia do Espinhaço, campo rupestre, cerrado, endemismo, floresta estacional semidecidual, florística. -

Grupos Funcionais Em Plantas Do Cerrado Sensu Stricto
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA Grupos funcionais em plantas do cerrado sensu stricto : utilização de recursos hídricos, variabilidade e efeito filogenético em parâmetros estruturais e funcionais foliares Davi Rodrigo Rossatto Brasília, 02 de Dezembro de 2011 ii UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA Grupos funcionais em plantas do cerrado sensu stricto : utilização de recursos hídricos, variabilidade e efeito filogenético em parâmetros estruturais e funcionais foliares Tese de doutorado apresentada ao Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Ecologia Davi Rodrigo Rossatto Orientador: Prof. Augusto César Franco, PhD. Brasília, 02 de Dezembro de 2011 iii Trabalho realizado junto ao Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília com suporte financeiro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq). Aprovado por: iv Dedico A todos os principais naturalistas que estudaram o cerrado: do passado e do presente. Aqui um admirador vos deixa uma pequena contribuição. v “Beyond the horizon of the place we lived when we were young In a world of magnets and miracles Our thoughts strayed constantly and without boundary The ringing of the division bell had begun Along the Long Road and on down the Causeway Do they still meet there by the Cut? There was a ragged band that followed in our footsteps -

Biodiversidade Do Complexo Aporé-Sucuriú
BIODIVERSIDADE DO COMPLEXO APORÉ-SUCURIÚ Subsídios à conservação e ao manejo do Cerrado Área Prioritária 316-Jauru UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Reitor: Manoel Catarino Paes - Peró Vice-Reitor: Amaury de Souza Obra aprovada pelo Conselho Editorial da UFMS – Resolução 10/06 CONSELHO EDITORIAL Célia Maria da Silva Oliveira (Presidente), Antônio Lino Rodrigues de Sá, Cícero Antonio de Oliveira Tredezini, Élcia Esnarriaga de Arruda, Giancarlo Lastoria, Jackeline Maria Zani Pinto da Silva Oliveira, Jéferson Meneguin Ortega, José Francisco (Zito) Ferrari, José Luiz Fornasieri, Jorge Eremites de Oliveira, Jussara Peixoto Ennes, Lucia Regina Vianna Oliveira, Maria Adélia Menegazzo, Marize Terezinha Lopes Pereira Peres, Mônica Carvalho Magalhães Kassar, Silvana de Abreu, Tito Carlos Machado de Oliveira UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Portão 14 - Estádio Morenão - Campus da UFMS Fone: (67) 3345-7200 - Campo Grande - MS e-mail: [email protected] Dados Internacionais de Catalogação na publicação (CIP) (Coordenadoria de Biblioteca Central – UFMS, Campo Grande, MS, Brasil) B615 Biodiversidade do Complexo Aporé-Sucuriú : subsídios à conservação e ao manejo do Cerrado : área prioritária 316-Jauru / organizadores, Teresa Cristina Stocco Pagotto, Paulo Robson de Souza. – Campo Grande, MS : Ed. UFMS, 2006. 308 p., : il. col. ; 30 cm. ISBN 85-7613-095-5 1. Cerrados – Mato Grosso do Sul. 2. Diversidade biológica – Conservação – Mato Grosso do Sul. I. Pagotto, Teresa Cristina Stocco. II. Souza, Paulo Robson de. CDD (22) – 577.48098171 -

Volume 40 Number 1
Wisconsin Entomological Society Newsletter Volume 40, Number 1 March 2013 There's something about the Neuroptera that just fasci- Dustywings: Ting, Cuto, nates me. Maybe it has to do with their graceful flight and Obscuro! or delicate wings. Perhaps, it could be something to do By P.J. Liesch, UW-Madison Dept. Entomology with their location on the phylogenetic tree next to tribe of this and that. For croscope had me scratching two of my other favorite me, I can easily say that the my head. The wings and groups (the Coleoptera and Dustywings (Neuroptera: body somewhat resemble a Megaloptera). It could just Coniopterygidae) are some barklouse, while other as- be the fact that they look of my favorites. They seem pects reminded me of Tri- cool. Ask any entomologist to have all the qualities an choptera, Neuroptera, and what their favorite insects entomologist would love--: even Hymenoptera. It was are, and they'll probably they're tiny, cute, and ob- one of those times when I name an obscure family or scure! had to haul out an ordinal key just to figure out where Ironically, I knew close to to start. In This issuo... nothing about dustywings until two years ago while I eventually figured out that Dustywingst conducting an experiment the population consisted of Page 1 on some white cedar nurse- both adults and larvae of Occurrence of ry stock shipped in from the Coniopterygid: Con- Anthidium oblongatum Sturgeon Bay, WI. It turns wentzia pineticola Ender- Page 3 out that the nursery stock lein. There were plenty had a small but noticeable around, so I saved a few for Books & Websites population of dustywings.