A Rqueologia E Etnologia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Early Mycenaean Arkadia: Space and Place(S) of an Inland and Mountainous Region
Early Mycenaean Arkadia: Space and Place(s) of an Inland and Mountainous Region Eleni Salavoura1 Abstract: The concept of space is an abstract and sometimes a conventional term, but places – where people dwell, (inter)act and gain experiences – contribute decisively to the formation of the main characteristics and the identity of its residents. Arkadia, in the heart of the Peloponnese, is a landlocked country with small valleys and basins surrounded by high mountains, which, according to the ancient literature, offered to its inhabitants a hard and laborious life. Its rough terrain made Arkadia always a less attractive area for archaeological investigation. However, due to its position in the centre of the Peloponnese, Arkadia is an inevitable passage for anyone moving along or across the peninsula. The long life of small and medium-sized agrarian communities undoubtedly owes more to their foundation at crossroads connecting the inland with the Peloponnesian coast, than to their potential for economic growth based on the resources of the land. However, sites such as Analipsis, on its east-southeastern borders, the cemetery at Palaiokastro and the ash altar on Mount Lykaion, both in the southwest part of Arkadia, indicate that the area had a Bronze Age past, and raise many new questions. In this paper, I discuss the role of Arkadia in early Mycenaean times based on settlement patterns and excavation data, and I investigate the relation of these inland communities with high-ranking central places. In other words, this is an attempt to set place(s) into space, supporting the idea that the central region of the Peloponnese was a separated, but not isolated part of it, comprising regions that are also diversified among themselves. -

Pronunciation Booklet
PRONUNCIATION BOOKLET Word Phonetic pronunciation (mine) What Meaning (if known) Actual sacred space or enclosure attached to a temple of ab-are-ton Abaton Asclepius where those wanting to be cured slept Acayo a-key-owe Fictional character - a Spartan soldier Greek name meaning out of step/ill-timed Acropolis ac-rop-o-liss Actual fortified part of a city, normally built on a hill Actual ancient Greek King of Athens, father of the hero Aegeus ee-gee-us Greek name meaning protection Theseus Actual Ancient Greek name given to the public open space Agora ag-or-are Greek name meaning gathering place or assembly used for markets Agrias ag-ree-us Fictional character - Alexis' father, and King of Trachis Greek name of unknown meaning Aigai ay-gay Greek name meaning place of goats Actual ancient first capital of Macedonia, now called Vergina Fictional character - Princess of Thermopylae, daughter of Greek name meaning helper and defender (can be male Alexis al-ex-us Agrias & Melina or female name) Amazonomachiai am-a-zon-e-mack-ee Plural of the battle of the Amazonomachy Portrayal of a mythical battle between the Amazons and Amazonomachy am-a-zon-e-mack-ee Amazon battle Ancient Greeks Amphissa am-f-iss-are Actual ancient city in Phocis, now known as Amfissa Greek name meaning surround Actual Ancient Greek jar or jug with two handles and a Amphora am-for-a From Greek word amphoreus meaning to bear narrow neck (singular) Amphorae am-for-i Actual plural of the Ancient Greek jars or jugs called amphora Amyntas arm-in-t-us Actual King of Macedonia Amyntas -

Memory, Tradition, and Christianization of the Peloponnese,” by Rebecca J
AJA IMAGE GALLERY www.ajaonline.org Supplemental images for “Memory, Tradition, and Christianization of the Peloponnese,” by Rebecca J. Sweetman (AJA 119 [2015] 501–31). * Unless otherwise noted in the figure caption, images are by the author. Image Gallery figures are not edited by AJA to the same level as the published article’s figures. Fig. 1. Map of the Peloponnese, showing the location of the Late Antique churches (© 2014 Google Imagery Terrametrics). Key to Map: 13. Kato Roitika Other Basilicas in Arcadia 14. Leontion 27. Ay. Ioannis Achaea 15. Olena 28. Astros 29. Astros Villa Loukou Patras 16. Patras Vlachou 30. Chotousa 1. Patras Botsi Street 17. Platanovrysi 31. Gortys 2. Patras Harado 18. Skioessa 32. Kato Doliana 3. Patras Kanakari Street 124-6 19. Tritaia 33. Kato Meligous Kastraki 4. Patras Kanakari Street 46-52 34. Kato Meligous, Ay. Georgios 5. Patras Korinthos Street Arcadia 35. Lykosoura 6. Patras Midilogli Tegea 36. Mantinea City and Theater 7. Patras Rofou 20. Pallantion 1 Christoforo 37. Megalopolis, East of Theater 8. Patras Terpsithea 21. Pallantion, Ay. Giorgou 38. Orchomenos 9. Patras Zarouchleika 22. Tegea Agora 39. Phalaisai (Lianou) 10. Patras, Ay. Andreas 23. Tegea Agora Thyrsos 40. Thelpoussa Other Basilicas in Achaia 24. Tegea Provantinou 11. Aighion 25. Tegea Temple Alea Continued on next page. 12. Kato Achaia 26. Tegea Theater Published online October 2015 American Journal of Archaeology 119.4 1 DOI: 10.3764/ajaonline1194.Sweetman.suppl AJA IMAGE GALLERY www.ajaonline.org Key to Map (continued). Argolid Nemea Kainepolis-Kyparissos 86. Nemea 126. Kainepolis-Kyparissos Monastiri Ano Epidauros 127. -
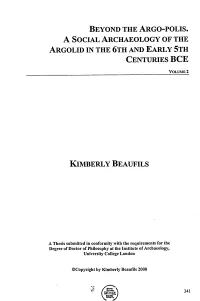
A Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at the Institute of Archaeology, University College London
BEYOND THE ARGO-POLIS* A SOCIAL ARCHAEOLOGY OF THE ARGOLID IN THE 6TH AND EARLY 5TH CENTURIEs BCE VOLUME2 ]KIMBERLY BEAUFILS A Thesis submitted in conformity with the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at the Institute of Archaeology, University College London @Copyright by Kimberly Beaufils 2000 341 Table of Contents VOLUME2 Transliteration Greek Names 345 of ....................................................................................... Appendix A 346 ..................................................................................................................... Site Catalogue 346 SITEINDEX .................................................................................................................. 347 ......................................................................................................................................... SITEINDEX ALPHABETICALORDER 349 IN ............................................................................................... SITEINDEX GREEK 351 IN ......................................................................................................................... SITEINDEX ARGOS 353 FOR ...................................................................................................................... SITEINDEX ARGOS GREEK 355 FOR IN ...................................................................................................... A. THE ARGEIA 357 A. I. THE ARGIVE............................................................................................................ -

Destination Guide NAFPLION
Destination guide NAFPLION “ The 5,500-year-old city of Nafplion ” Nafplion, set in a magnificent natural landscape in the shadow of a rocky peninsula and a high steep on the innermost east side of the Argolic Gulf, seems to rise out of the surrounding sea. This magnificent place lies just 125 km from Sparta and 145 km from Athens, this magic city whose every spot overwhelms its visitors with memories – unaltered memories that come from the depths of the centuries and slide into the present, whispering their old song. This area has been OLD TOWN OF NAFPLION famous ever since antiquity for the glorious civilisation its inhabitants developed so many centuries ago. The impressive remains they left behind are evidence of their existence and cannot fail to stir the imagination of anyone who sees them. A pilgrimage to Mycenae, to Lerna, to Tiryns and, a bit further away, to Epidaurus will fill our souls with memories. The dream knows no barriers when our soul remains open to emotion. No matter how many times we do the journey, each time is like the first. HISTORY By Eftychia Vlachou Batsi ythology has it that Poseidon saw Amymone, Danaus’ daughter, with her hair hanging loose M over her shoulders and was dazzled by her beauty. The child of this union was Nauplius, who was born somewhere on the coast of Euboea. When he became a man, though, he sailed his boat to the Gulf of Argolis which, according to philosopher Apollodorus of Rhodes, he ‘built and inhabited’. Archaeological research has proved that Nafplio has been inhabited ever since the first-Mycenaean period. -

Table of Contents
UNIVERSITY OF CINCINNATI Date:___________________ I, _________________________________________________________, hereby submit this work as part of the requirements for the degree of: in: It is entitled: This work and its defense approved by: Chair: _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF THE LATE HELLADIC I POTTERY IN THE NORTHEASTERN PELOPONNESE OF GREECE A dissertation submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTORATE OF PHILOSOPHY (Ph.D.) in the Department of Classics of the College of Arts and Sciences 2004 by Jeffrey Lee Kramer B.A., Purdue University, 1994 M.A, The University of Arizona, 1997 Committee: Dr. Gisela Walberg (Chair), University of Cincinnati Dr. Jack Davis, University of Cincinnati Dr. Kathleen Lynch, University of Cincinnati ABSTRACT The purpose of this study is both to propose a new classification system for the pottery of the Late Helladic I period (c. 1700-1600 B.C.) in the northeastern Peloponnese of Greece and to examine the impact such a system has on the chronology of the period commonly known as the “Shaft Grave Period.” The majority of ceramic studies concerning LH I pottery focuses almost exclusively on Mycenaean Decorated despite the fact that the vessels of this ware comprise a tiny fraction of pottery assemblages. The existence of the remaining wares, often simply labeled “the other wares,” has been known for over a century, yet many excavation reports either exclude them entirely or include them in chapters concerning Middle Helladic pottery without discussing their LH I date. -

The Construction of Early Helladic Ii Ceramic Roofing Tiles from Mitrou, Greece: Influence and Interaction
Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 18, No 2, (2018), pp. 153-173 Copyright © 2018 MAA Open Access. Printed in Greece. All rights reserved. DOI: 10.5281/zenodo.1297155 THE CONSTRUCTION OF EARLY HELLADIC II CERAMIC ROOFING TILES FROM MITROU, GREECE: INFLUENCE AND INTERACTION Kyle A. Jazwa Duke University, Department of Classical Studies, 233 Allen Building, PO Box 90103, Durham, NC USA 27708-0103 ([email protected]) Received: 26/04/2018 Accepted: 11/07/2018 ABSTRACT Ceramic roofing tiles were first invented during the Early Bronze Age (or Early Helladic [EH] period, ca. 3100-2000 BCE) and have been identified at 22 sites in mainland Greece. In this paper, I present a newly discovered assemblage of EH tiles from the site of Mitrou (East Lokris) and offer the first detailed, comparative analysis of EH tile production. I demonstrate that there was a shared tradition for the appropriate form and dimensions of tiles in mainland Greece. This uniformity, however, belies heterogeneity in production among sites and through time. The reconstructed chaîne opératoire of Mitrou‟s tiles, for instance, has affinities with the tiles of Zygouries (Corinthia) and Kolonna (Aegina), but not of the later House of the Tiles at Lerna and most tiles from Tiryns in the Argolid. With these results, I reveal a distinct network of interaction in mainland Greece in which construction knowledge was disseminated and maintained. KEYWORDS: Roofing Tiles, Early Bronze Age, Greece, Corridor House Culture, Chaîne Opératoire, Early Helladic Ceramics, Architecture 154 K.A. JAZWA 1. INTRODUCTION EH II ceramic roofing tiles have interested Aegean prehistorians for some time because of the tiles‟ fre- Recent excavations at the site of Mitrou in East quent association with the monumental, corridor Lokris, Greece recovered 180 fragments of Early Hel- house structures of that period (e.g. -

Church, Society, and the Sacred in Early Christian Greece
CHURCH, SOCIETY, AND THE SACRED IN EARLY CHRISTIAN GREECE DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By William R. Caraher, M.A. * * * * * The Ohio State University 2003 Dissertation Committee: Approved By Professor Timothy E. Gregory, Adviser Professor James Morganstern Professor Barbara Hanawalt _____________________ Adviser Professor Nathan Rosenstein Department of History ABSTRACT This dissertation proposes a social analysis of the Early Christian basilicas (4th-6th century) of Southern and Central Greece, predominantly those in the Late Roman province of Achaia. After an introduction which places the dissertation in the broader context of the study of Late Antique Greece, the second chapter argues that church construction played an important role in the process of religions change in Late Antiquity. The third chapter examines Christian ritual, architecture, and cosmology to show that churches in Greece depended upon and reacted to existing phenomena that served to promote hierarchy and shape power structures in Late Roman society. Chapter four emphasizes social messages communicated through the motifs present in the numerous mosaic pavements which commonly adorned Early Christian buildings in Greece. The final chapter demonstrates that the epigraphy likewise presented massages that communicated social expectations drawn from both an elite and Christian discourse. Moreover they provide valuable information for the individuals who participated in the processes of church construction. After a brief conclusion, two catalogues present bibliographic citations for the inscriptions and architecture referred to in the text. The primary goal of this dissertation is to integrate the study of ritual, architecture, and social history and to demonstrate how Early Christian architecture played an important role in affecting social change during Late Antiquity. -

EARLY HELLADIC DECORATED CERAMIC HEARTHS Erin E
EARLY HELLADIC DECORATED CERAMIC HEARTHS Erin E. Galligan A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Classics (Classical Archaeology). Chapel Hill 2013 Approved by: Donald C. Haggis G. Kenneth Sams Monika Trümper Carla Antonaccio Joanne Murphy © 2013 Erin E. Galligan ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT ERIN E. GALLIGAN: Early Helladic Decorated Ceramic Hearths (Under the direction of Dr. Donald C. Haggis) Early Helladic (EH) II ceramic hearths are often one criterion for identifying central place sites in the EH II landscape, which are otherwise characterized by some combination of monumental architecture, fortification walls, and evidence of incipient administrative systems. Often decorated with incised, impressed, or roller-impressed geometric designs, these hearths are a component of an elite assemblage, despite the fact that the ceramic type has not yet been studied comprehensively as an artifact. This dissertation presents the results of a project that examines the decorated ceramic hearth with special emphasis on the Greek mainland. It compiles a catalog of published examples of complete and fragmentary ceramic hearths, examining patterns of form, typology, and depositional context. It finds that the circular shape is most common in mainland Greece, and that they were often but not always used and displayed in elite architectural contexts that served as the backdrop for formal feasting and/or drinking activities. The dissertation also examines the iconography of the decorated hearth rims in comparison to other glyptic evidence of the period, namely sealings and roller-impressed pithoi, and finds that the hearths have their own unique iconography, similar to but with significant differences from the pithoi, with which they are often compared. -

Obsidian from the Final Neolithic Site of Pangali in Western Greece Development of Exchange Patterns in the Aegean
Obsidian from the Final Neolithic site of Pangali in Western Greece Development of exchange patterns in the Aegean Lasse Sørensen Abstract Obsidian is found on many prehistoric settlements in the Aegean area; and most of it has been procured from Melos. Few assessments have been made in order to evaluate the amount of obsidian exchanged in different peri- ods, but it is a general assumption that the exchange of obsidian reached its peak during the Final Neolithic and the Early Helladic. During this particular transition, the settlement pattern changes in the Aegean area and many sites move closer to the sea. Furthermore, the different islands are colonized. Pangali is one of these settlements where it is possible to observe and test different theories and hypotheses concerning the role of lithic specializa- tion, exchange mechanisms and trading routes. The exchange of obsidian could have stimulated the development of some established transportation routes which grew important when copper and other exotic good were traded during the following Early Bronze Age. These facts could be one of the main reasons why some of these Final Neolithic sites developed into important Bronze Age settlements. The aim of this paper is to present the chipped gender and size of settlements. Accordingly, the stone material from Pangali in Aetolia, one of the analysis of the chipped stone material from Pan- excavated Final Neolithic sites in Western Greece gali and other Final Neolithic sites includes some (figures 1 & ).2 A special emphasis will be put on new perspectives and some re-evaluation of the the obsidian assemblage and the technological technological specialization, exchange patterns and typological analysis of this material to com- and development of transportation routes during pare this assemblage with other contemporary the Final Neolithic in the Aegean region. -

Thinking the Bronze Age: Life and Death in Early Helladic Greece
ACTA UNIVERITATIS UPSALIENSIS BOREAS. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 29 Erika Weiberg Thinking the Bronze Age Life and Death in Early Helladic Greece Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Geijerssalen, Engel- ska parken. Humanistiskt centrum, Hus 6, Thunbergsvägen 3H, Uppsala, Saturday, February 17, 2007 at 10:00 for the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in English. Abstract Weiberg, E. 2007. Thinking the Bronze Age. Life and Death in Early Helladic Greece. Acta Universitatis Upsaliensis. Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near East- ern Civilizations 29. 404 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-6782-1. This is a study about life and death in prehistory, based on the material remains from the Early Bronze Age on the Greek mainland (c. 3100-2000 BC). It deals with the settings of daily life in the Early Helladic period, and the lives and experiences of people within it. The analyses are based on practices of Early Helladic individuals or groups of people and are context specific, focussing on the interaction between people and their surroundings. I present a picture of the Early Helladic people living their lives, moving through and experi- encing their settlements and their surroundings, actively engaged in the appearance and work- ings of these surroundings. Thus, this is also a book about relationships: how the Early Hella- dic people related to their surroundings, how results of human activity were related to the natural topography, how parts of settlements and spheres of life were related to each other, how material culture was related to its users, to certain activities and events, and how every- thing is related to the archaeological remains on which we base our interpretations. -

The Greek Myths 1955, Revised 1960
Robert Graves – The Greek Myths 1955, revised 1960 Robert Graves was born in 1895 at Wimbledon, son of Alfred Perceval Graves, the Irish writer, and Amalia von Ranke. He went from school to the First World War, where he became a captain in the Royal Welch Fusiliers. His principal calling is poetry, and his Selected Poems have been published in the Penguin Poets. Apart from a year as Professor of English Literature at Cairo University in 1926 he has since earned his living by writing, mostly historical novels which include: I, Claudius; Claudius the God; Sergeant Lamb of the Ninth; Count Belisarius; Wife to Mr Milton (all published as Penguins); Proceed, Sergeant Lamb; The Golden Fleece; They Hanged My Saintly Billy; and The Isles of Unwisdom. He wrote his autobiography, Goodbye to All That (a Penguin Modem Classic), in 1929. His two most discussed non-fiction books are The White Goddess, which presents a new view of the poetic impulse, and The Nazarene Gospel Restored (with Joshua Podro), a re-examination of primitive Christianity. He has translated Apuleius, Lucan, and Svetonius for the Penguin Classics. He was elected Professor of Poetry at Oxford in 1962. Contents Foreword Introduction I. The Pelasgian Creation Myth 2. The Homeric And Orphic Creation Myths 3. The Olympian Creation Myth 4. Two Philosophical Creation Myths 5. The Five Ages Of Man 6. The Castration Of Uranus 7. The Dethronement Of Cronus 8. The Birth Of Athene 9. Zeus And Metis 10. The Fates 11. The Birth Of Aphrodite 12. Hera And Her Children 13. Zeus And Hera 14.