Introdução I Portugal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Report of the Special Committee on Territories Under Portuguese Administration
Report of the Special Committee on Territories under Portuguese Administration http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.bmun001 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org Report of the Special Committee on Territories under Portuguese Administration Alternative title A/5160 and Add. 1 and 2 Author/Creator United Nations General Assembly; Special Committee on Territories under Portuguese Administration Publisher United Nations Date 1962-00-00 Resource type Reports Language English Subject Coverage (spatial) Portugal, Lusophone Africa -

USAID Report Template (A4)
NOVE PRAVOSUDDYA JUSTICE SECTOR REFORM PROGRAM (NEW JUSTICE) Quarterly Performance Report October – December 2016 (FY17 Q1) January 30, 2017 January 30, 2017 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International Inc. for the USAID Nove Pravosuddya Justice Sector Reform Program. NOVE PRAVOSUDDYA JUSTICE SECTOR REFORM PROGRAM (NEW JUSTICE) QUARTERLY PERFORMANCE REPORT OCTOBER TO DECEMBER 2016 Contract No. AID-OAA-I-13-00032, Task Order No. AID-121-TO-16-00003 Contacting Officer’s Representative: Oleksandr Piskun, Democracy Project Management Specialist, Office of Democracy and Governance Submitted to: US Agency for International Development Address: 4 Igor Sikorsky Street, Kyiv, Ukraine Tel: 380-44-521-5000 Fax: 380-44-521-5245 Submitted by: Chemonics International Inc. DISCLAIMER This publication was produced by Chemonics International for review by the United States Agency for International Development. The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. CONTENTS Contents .............................................................................................................. i Acronyms .......................................................................................................... iii Executive Summary .......................................................................................... 5 Program Activities -

Whelden, Schuyler
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles The Political Voice: Opinião and the Musical Counterpublic in Authoritarian Brazil A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Musicology by Schuyler Dunlap Whelden 2019 © Copyright by Schuyler Dunlap Whelden 2019 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Political Voice: Opinião and the Musical Counterpublic in Authoritarian Brazil by Schuyler Dunlap Whelden Doctor of Philosophy in Musicology University of California, Los Angeles, 2019 Professor Tamara Judith-Marie Levitz, Co-Chair Professor Timothy D. Taylor, Co-Chair This dissertation investigates how music making shapes political participation during periods of democratic crisis and authoritarianism. It examines the musical theater production Opinião, which was staged nightly in Rio de Janeiro from December 1964 to April 1965 at the onset of the Brazilian military dictatorship. Rather than examining Opinião as the reflection of its director’s or authors’ politics, I take an intersectional approach that focuses on the performers and audience members, who came from different gender, racial, geographic, and class backgrounds. Through an analysis of the show’s performances, I demonstrate how people from diverse populations enacted political protest. I put their diverse strategies for intervening in the Rio de Janeiro public sphere into dialogue with one another to demonstrate how authoritarian regimes impact different ii sectors of society. My inquiry combines both ethnographic and archival research methods. I draw on hundreds of archival documents and recordings—including newspaper and magazine clippings, theater programs, advertisements, and other ephemera—to reconstruct details of the show and investigate in depth the discourse that the show engendered. -

Revista Jurídica the ADVANCES of the BRAZILIAN JUDICIAL SYSTEM and the USE OF
Revista Jurídica vol. 04, n°. 57, Curitiba, 2019. pp. 249 - 283 _________________________________________ THE ADVANCES OF THE BRAZILIAN JUDICIAL SYSTEM AND THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: OPPOSITE OR PARALLEL WAYS TOWARDS THE EFFECTIVENESS OF JUSTICE? OS AVANÇOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO E O USO DE TECNOLOGIAS: CAMINHOS OPOSTOS OU PARALELOS RUMO À EFETIVAÇÃO DA JUSTIÇA? VALTER MOURA DO CARMO Professor of the Law Graduate Program at the University of Marília (UNIMAR), where he has also completed a Postdoctoral Fellowship sponsored by the Brazilian National Postdoctoral Program/Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (PNPD/CAPES). He holds a Doctorate in Law from the Federal University of Santa Catarina State (UFSC), which includes research stays at the University of Zaragoza (Spain) with a scholarship from the Brazilian Sandwich Doctorate Program Abroad (PDSE/CAPES); and at the Federal University of Paraíba State (UFPB) with a scholarship from the Brazilian Academic Cooperative Project (PROCAD/CAPES). He also has a Master's degree in Constitutional Law from the University of Fortaleza (UNIFOR), including a research stay at the UFSC. He is the Director of Institutional Relations of the Brazilian National Council for Research and Post-Graduation in Law (CONPEDI) and Member of the Identification and Description Study Committee of the Brazilian National Standards Organization (ABNT).. ORCID: http://orcid.org/0000- 0002-4871-0154. Email: [email protected] JEFFERSON PATRIK GERMINARI Master student in Law at the University of Marília (UNIMAR). Clerk of the Court of Justice of the State of São Paulo. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3741-5651. Email: [email protected]. -
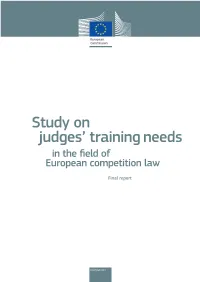
Study on Judges' Trainingneeds
Study on judges’ training needs in the field of European competition law Final report Competition EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Competition E-mail: [email protected] European Commission B-1049 Brussels Study on judges’ training needs in the field of European competition law Final report by ERA – Academy of European Law EJTN – European Judicial Training Network Ecorys January 2016 [Catalogue number] Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). LEGAL NOTICE The information and views set out in this study are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the Commission. The Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this study. Neither the Commission nor any person acting on the Commission’s behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein. More information on the European Union is available on the Internet (http://www.europa.eu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016 Catalogue number: KD-04-16-407-EN-N ISBN 978-92-79-58508-1 doi: 10.2763/4743 © European Union, 2016 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. Trier/Brussels, 2016 Authors: John Coughlan Wolfgang Heusel Erika Szyszczak Valentina Patrini Andreas Pauer Final report Table of Contents List of annexes ............................................................................................... 2 Acknowledgements ........................................................................................ 2 1. Executive Summary .................................................................................... 3 1.1. -

The Post-Dictatorship Memory Politics in Portugal Which Erased Political Violence from the Collective Memory Da Silva, Raquel; Ferreira, Ana Sofia
University of Birmingham The Post-Dictatorship Memory Politics in Portugal Which Erased Political Violence from the Collective Memory da Silva, Raquel; Ferreira, Ana Sofia DOI: 10.1007/s12124-018-9452-8 License: Creative Commons: Attribution (CC BY) Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Citation for published version (Harvard): da Silva, R & Ferreira, AS 2018, 'The Post-Dictatorship Memory Politics in Portugal Which Erased Political Violence from the Collective Memory', Integrative Psychological and Behavioral Science. https://doi.org/10.1007/s12124-018-9452-8 Link to publication on Research at Birmingham portal General rights Unless a licence is specified above, all rights (including copyright and moral rights) in this document are retained by the authors and/or the copyright holders. The express permission of the copyright holder must be obtained for any use of this material other than for purposes permitted by law. •Users may freely distribute the URL that is used to identify this publication. •Users may download and/or print one copy of the publication from the University of Birmingham research portal for the purpose of private study or non-commercial research. •User may use extracts from the document in line with the concept of ‘fair dealing’ under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (?) •Users may not further distribute the material nor use it for the purposes of commercial gain. Where a licence is displayed above, please note the terms and conditions of the licence govern your use of this document. When citing, please reference the published version. Take down policy While the University of Birmingham exercises care and attention in making items available there are rare occasions when an item has been uploaded in error or has been deemed to be commercially or otherwise sensitive. -

Nove Pravosuddya Justice Sector Reform Program
Nove Pravosuddya Justice Sector Reform Program Lessons Learned and Recommendations from the USAID New Justice Program Study Visit to the High Council for the Judiciary of Portugal on Judicial Self-Governance Operations May 16 to 20, 2017 Background: Pursuant to Objective 1: Judicial Independence and Self-Governance strengthened, Sub-Objective 1.2: Judicial Self-Governance Strengthened, Expected Results 1.2.1: Authorities of Judicial self- governance bodies clearly defined and understood by judicial leadership, judges and judicial personnel, and 1.2.2: The Judiciary exerts leadership in developing strategies, objectives, and initiatives to effectively promote and protect its independence, while ensuring accountability, integrity, transparency and high ethical standards, and Objective 3: Administration of Justice Enhanced, Sub-Objective 3.1: Judicial Administration Institutions, Policies, and Procedures Strengthened, Expected Results 3.1.1: Judicial administration bodies function in more coherent and coordinated fashion and 3.1.2: Strategies, policies, and procedures for managing court operations, and providing quality services to the public implemented, the New Justice supported the High Council of Justice (HCJ) with implementing its new functions envisaged in the Constitution and the Law on the High Council of Justice in conformity with the international and European standards of judicial independence and accountability. Purpose of Study Visit: The study visit took place from May 16 through May 20, 2017 and aimed at familiarizing the -
USAID Report Template (A4)
NOVE PRAVOSUDDYA JUSTICE SECTOR REFORM PROGRAM (NEW JUSTICE) ANNUAL PERFORMANCE REPORT OCTOBER 2016 – SEPTEMBER 2017 October 31, 2017 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International Inc. NOVE PRAVOSUDDYA JUSTICE SECTOR REFORM PROGRAM (NEW JUSTICE) ANNUAL PERFORMANCE REPORT OCTOBER 2016 – SEPTEMBER 2017 Contract No. AID-OAA-1-13-00032, Task Order No. AID-121-TO-16-00003 Cover photo: 613 new Supreme Court judicial candidates taking anonymous testing conducted by the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine with support from the USAID New Justice Program on February 16, 2017 in Kyiv. (Credit: USAID New Justice Program) DISCLAIMER The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. CONTENTS Acronyms ........................................................................................................... ii Executive Summary .......................................................................................... 1 Program Overview ............................................................................................ 3 Objective 1: Judicial Independence and Self Governance Strengthened ...................... 3 Objective 2: Accountability and Transparency of the Judiciary to Citizens and the Rule of Law Increased ......................................................................................................... -
Annual Report on Competition Policy Developments in Portugal
Organisation for Economic Co-operation and Development DAF/COMP/AR(2020)28 Unclassified English - Or. English 11 June 2020 Directorate for Financial and Enterprise Affairs COMPETITION COMMITTEE Annual Report on Competition Policy Developments in Portugal -- 2019 -- 10-12 June 2020 This report is submitted by Portugal to the Competition Committee FOR INFORMATION at its forthcoming meeting to be held on 10-12 June 2020. JT03462899 OFDE This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. 2 DAF/COMP/AR(2020)28 Table of contents Portugal 3 Executive Summary 3 1. Enforcement of competition law and policies 4 1.1. Action against anticompetitive practices, including agreements and abuses of dominant positions 4 1.1.1. Summary of activities 4 1.1.2. Sanctioning decisions 5 1.1.3. Commitment decisions 8 1.2. Judicial review of AdC decisions 9 1.3. Mergers and acquisitions 9 1.3.1. Statistics on number, size and type of mergers notified and/or controlled under competition laws 9 1.3.2. Summary of significant cases 11 2. The role of competition authorities in the formulation and implementation of other policies 11 2.1. Promoting a pro-competitive legislative and regulatory environment 11 2.1.1. AdC opinions, studies and recommendations across various sectors 12 2.2. Reaching out to stakeholders on the benefits and rules of competition 13 3. International Cooperation 14 3.1. -

Crise Política E Política Do Direito. O Caso Da Ditadura Militar
Luís Bigotte Chorão Crise Política e Política do Direito O Caso da Ditadura Militar Dissertação de doutoramento em Letras na área de História, especialidade de História Contemporânea, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sob a orientação do Prof. Doutor Luís Reis Torgal Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra Coimbra, 2007 ÍNDICE GERAL Introdução . 7 PARTE PRIMEIRA: CRISE E DITADURA . 21 Capítulo I – Reflexões para uma compreensão da crise . 23 Capítulo II – Dos prólogos de Maio à Revolução integral contra a desordem nacional . 55 1. Os prólogos de Maio ou sobre o tempo do direito à impunidade . 55 2. As arrancadas e os programas de Maio: crónica da unidade inviável . 81 2. 1. As proclamações de Maio . 81 2. 2. Realismo político d’abord . 100 2. 3. Da abalada moral do corpo militar . 113 2. 4. Em torno do programa do 28 de Maio . 125 3. De golpe em golpe até à Revolução . 147 3. 1. Em busca de um critério distintivo: o golpe de Estado e a Revolução . 147 3. 2. Os golpes de Estado perante a legalidade vigente . 161 3. 3. Golpes de Estado: a questão da legitimidade . 187 Capítulo III – O problema político: contributo para uma definição . 197 1. Considerações preliminares . 197 2. A Nova República Velha: a herança de Sidónio . 202 3. Na origem do problema político: a Constituinte de 1911 . 259 4. Dissolução ou Revolução: o dilema político da Repúlica . 268 Capítulo IV – Apelo autoritário e Ditadura . 287 1. Uma democracia de homens letrados: deslegitimação e crise da República . 287 2. Sobre o fenómeno da Ditadura na História Contemporânea de Portugal . -

DOCUMENT RESUME Issues in Portuguese Bilingual
DOCUMENT RESUME ED 206 193 FL 012 497 AUTHOR Raced°,24aldoP., Ed. TITLE Issues in Portuguese Bilingual Education. INSTITUTION National Assessment and Dissemination Center for Bilingual Education, Cambridge, Mass.: National Materials Development Center for French and Portuguese, Bedford, N.H. SPONS AGENCY Office of Bilingual Education and Minority Languages Affairs (ED, Washington, D.C. REPORT NO ISBN-0-99857-163-4 PUB DATE Feb 90 NOTE 266p. AVAILABLE FROM Evaluation, Dissemination and Assessment Canter, Lesley College, Cambridge, MA 02140 ($4.00). 'EDRS PRICE MF01/PC11 Plus Postage. 'DESCRIPTORS *Bilingual Education: *Culture Conflict: Elementary Secondary Education: English (Second Language): Folk Culture: Higher Education: *Po-rtuguese Americans: Proverbs: Reading Instruction: Testing IDENTIFIERS Azoreans: Cape Verdeans: Elementary Secondary Education Act Title VII: Wechsler Intelligence Scale for Children (Revised) ABSTRACT The following articles are included: (1) "Bilingual-Bicultural Education. for Portuguese-Americans: An Cverview" (Nelson H. Vieiral: (21 "Minority Status for the Portuguese: Its Implication in Higher Education" (Gilbert R. Cavaco): (3) "The Luso-American Limbo: Closer to Heaven or Hell?" (Ana M. Fonseca):(4) "Bicognition: A Treatise On Conflict Resolution in the Portuguese-American CoWmunity- -Some Insights for Educators and Public Professionals" (Antonio Simoes. Jr.):(5) "Oiercoming Culture Shock: A Frame of Reference" (Pedro da Cunha):(6) "Testing Portuguese Immigrant Children--Cultural Patterns and Group Differences in Response to the WISC-R" (Jose Luis Ribeiro$: (7) "A Profile of the Azorean" (Onesimo T. Almeida): (9 "The Role of Capeverdean Culture in Educatior" (Arthur Lombal: (9) "Let Them Eat Crab: Translated Proverbs in Context" (George Mnnteirol: (101: "A Lingua Caboverdiana na ?ducacao Bilingue" (Donaldc.: P. -

Sociolinguistic (Re)Constructions of Diaspora Portugueseness: Portuguese-Canadian Youth in Toronto
Sociolinguistic (re)constructions of diaspora portugueseness: Portuguese-Canadian youth in Toronto by Emanuel A. da Silva A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of French University of Toronto © Copyright by Emanuel A. da Silva (2011) Sociolinguistic (re)constructions of diaspora portugueseness: Portuguese-Canadian youth in Toronto Emanuel A. da Silva Doctor of Philosophy Graduate Department of French University of Toronto 2011 Abstract This dissertation demonstrates that notions of language and identity are not entirely about personal characteristics (what a person is born with, what is ―in his blood‖), nor are they entirely about agency (how a person chooses to present herself). Instead, they are largely about markets and about the multiple positionings of social actors within markets that are structured by ideologies of the nation state, immigration and the globalized new economy. This critical perspective challenges the normalized view that immigrant (diasporic) communities are simply natural social groupings or depoliticized transplantations of distinct ethnolinguistic units from their ―homeland‖. They are, like language and identity, carefully constructed and managed social projects that are shaped by forces from within and from without. In Canada, the conditions for the institutionalization and (re)production of ethnolinguistic differences, which also make and mark class relations, are strengthened by the state‘s multiculturalist policy. The Portuguese-Canadian community is one such ethnolinguistic market and the goal of this research is to examine which forms of portugueseness dominate the market, why and with what consequences for whom. Building from an ethnographic and critical sociolinguistic approach (Bourdieu 1977, Heller 2002), the qualitative data behind this research ii was produced through a two-year ethnography, participant observations and semi-structured interviews drawing primarily from six second-generation Portuguese-Canadians and members of their social networks.