As Qualidades Dos Programas De Televisao
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Narrativa Televisiva Dos Reality Game Shows: Realidade E Ficção No Programa Secret Story – a Casa Dos Segredos
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA A NARRATIVA TELEVISIVA DOS REALITY GAME SHOWS: REALIDADE E FICÇÃO NO PROGRAMA SECRET STORY – A CASA DOS SEGREDOS Dissertação apresentada à Universidade Católica Portuguesa para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação Por Joana Borges Almeida Faculdade de Ciências Humanas setembro 2012 1 UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA A NARRATIVA TELEVISIVA DOS REALITY GAME SHOWS: REALIDADE E FICÇÃO NO PROGRAMA SECRET STORY – A CASA DOS SEGREDOS Dissertação apresentada à Universidade Católica Portuguesa para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação Por Joana Borges de Almeida Faculdade de Ciências Humanas Sob orientação de Prof. Doutor Eduardo Cintra Torres setembro 2012 2 Resumo O género reality game show tem marcado o panorama televisivo português sendo um sucesso de audiências. Em 2011, dez anos depois de o programa Big Brother ter surgido na televisão portuguesa, o mesmo canal televisivo apresenta, em horário nobre, outro programa dentro do mesmo género: a Casa dos Segredos (CS). No âmbito dos estudos de televisão, analisando nomeadamente como se processa a construção da narrativa, a presente dissertação pretende compreender de que forma se processa a construção deste género de programas televisivos, a forma como se inter- relacionam os conceitos de realidade, fição e jogo e, como se constroem as suas narrativas, através do estudo de caso desse programa. Para isso, desenvolvemos uma análise textual e de conteúdo às emissões do programa, registando os diversos elementos narrativos e a forma como constroem o espetáculo televisivo, estabelecendo o protagonismo dos concorrentes, com o objetivo de compreender de que modo a narrativa televisiva influencia a construção dos concorrentes como personagens e a sua performance e autenticidade. -

Regular Meeting Tuesday, July11, 2017 7:00 P.M
BOARD OF TRUSTEES MEETING SAMUEL E. DEAN BOARD ROOM BUTLER GOVERNMENT CENTER 1200 OAK BROOK ROAD OAK BROOK, ILLINOIS 630-368-5000 REGULAR MEETING TUESDAY, JULY11, 2017 7:00 P.M. 1. CALL TO ORDER 2. ROLL CALL 3. PRESIDENT’S OPENING COMMENTS A. Senior Lifestyle Presentation B. Williams Architects - Renovation – Oak Brook Golf Club House Presentation C. Mercury Presentation 4. RESIDENT/VISITOR COMMENT 5. APPROVAL OF MINUTES A. Regular Board of Trustees Meeting of June 13, 2017 6. CONSENT AGENDA: All items on the Consent Agenda are considered to be routine in nature and will be enacted in one motion. There will be no separate discussion of these items unless a Board member so requests, in which event, the item will be removed from the Consent Agenda and considered as the first item after approval of the Consent Agenda. A. Accounts Payable for: Manzo/ Yusuf Period Ending June 22, 2017 - $739,073.12 Period Ending July 6, 2017 - $638,826.32 Significant Items included in Above: 1) Ancel, Glink, Diamond, Bush, DiCianni & Krafthefer, P.C., - Legal Services – May 2017 - $17,484.08 (FY17 – YTD - $100,794.59 2) Rathje Woodward, LLC - Legal Services - May 2017 - $3,333.33 (FY17 – YTD - $16,666.65) TOTAL LEGAL BUDGET FOR 2017 IS $293,100 - TOTAL LEGAL BILLS PAID FOR 2017- YTD - $136,500.99 3) TransChicago Truck Group – New Freightliner MT55 – Special Team Utility Vehicle – Fire Department - $98,497.00 BOT AGENDA Page 1 RG 4) Ravenswood Event Services – Taste of Oak Brook 2017 – 2nd Scheduled Deposit - $42,039.00 5) Health Care Services – HMO Illinois – July 1, 2017 through August 1, 2017 - $30,323.73 6) DuPage Water Commission – May 2017 - $385,593.20 7) Burns McDonnell – Professional Services for General Engineering Support - $24,742.50 B. -

El Documento Audiovisual En La Práctica Pedagógica
Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat (logo UAB, si lo tienes) Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació El documento audiovisual en la práctica pedagógica Estrategias para mejorar el rendimiento escolar Alexandre Claro Loff Dirigida por Maria Gutiérrez Octubre de 2002 Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació El documento audiovisual en la práctica pedagógica Estrategias para mejorar el rendimiento escolar Alexandre Claro Loff Dirigida por Maria Gutiérrez Octubre de 2002 ÈNDICE l documento audiovisual en la práctica pedagógica Estrategias para mejorar el rendimiento escolar Agradecimientos .......................................................................... 9 Introducción ............................................................................ 13 ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¥ ¨ ¢ Capítulo I 1 - Ser profesor ....................................................................... 29 1.1 - Pedagogía activa versus tradicional ....................................... 37 1.2 œ La Escuela Pública Portuguesa .............................................. 42 1.3 œ La massificación en la enseñanza: la individualización y la socialización ......................................................................... 49 1.4 œ La formación profesional en el dominio audiovisual ................. 60 1.5œ La interacción Profesor œ Documento audiovisual œ Alumno ..... 67 2 œ La eficacia escolar © mejoría de la escuela ............... -

Vânia Filipa Vieira Da Cruz.Cdr
Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Vânia Filipa Vieira da Cruz SIC Notícias: o Lugar da Política Estudo da programação semanal da SIC Notícias no período das 21 às 24 horas Setembro de 2008 Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Vânia Filipa Vieira da Cruz SIC Notícias: o Lugar da Política Estudo da programação semanal da SIC Notícias no período das 21 às 24 horas Dissertação de Mestrado em Ciências da Comunicação Área de Especialização em Informação e Jornalismo Trabalho efectuado sob a orientação da Professora Doutora Felisbela Lopes Setembro de 2008 DECLARAÇÃO Nome: Vânia Filipa Vieira da Cruz Endereço electrónico: [email protected] Número do Bilhete de Identidade: 12834768 Título: SIC Notícias: o Lugar da Política Estudo da programação semanal da SIC Notícias no período das 21 às 24 horas Orientadora: Professora Doutora Felisbela Lopes Mestrado: Mestrado em Ciências da Comunicação – Área de Especialização em Informação e Jornalismo É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA TESE APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE. Universidade do Minho, 26 de Setembro de 2008 Vânia Filipa Vieira da Cruz Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais AGRADECIMENTOS Defini objectivos e tracei metas em busca de sonhos. Ultrapassei barreiras, saltei dificuldades, sempre com o apoio incondicional daqueles que me querem bem. É a todos eles que agradeço todos os momentos em que se mantiveram do meu lado. Este é o fim de mais um ciclo na minha vida e como tal não posso deixar de ressaltar alguns nomes que me ajudaram na concretização deste projecto. -

As Telenovelas Brasileiras Em Portugal
As telenovelas brasileiras em Portugal Isabel Ferin Cunha Universidade de Coimbra Índice dos dos primeiros estudos de recepção re- alizados desde 1999, na região de Lisboa. 1 Introdução ............. 1 Chega-se à conclusão de que existem indi- 2 No Princípio era a Gabriela .... 4 cadores claros sobre os factores de aceita- 2.1 O Ano de 1977 ......... 5 ção das telenovelas brasileiras, bem como 2.2 A década de 80 ......... 8 elementos que apontam para mudanças de 3 As Guerras de Audiência, Parte I comportamento das audiências frente a este (1993-1998) ............ 10 produto. Numa perspectiva interpretativa 4 As Guerra de Audiência, Parte II exploratória, considera-se que na base des- (1999-2002) ............ 13 tas mudanças se encontram factores sócio- 5 Conclusão ............. 17 económicos recentes, nomeadamente o cres- 6 Bibliografia ............ 20 cimento sustentado das classes médias e mé- dias baixas, desde o início da década de 90, bem como factores inerentes à economia dos Resumo: Neste artigo, procura-se contri- Media, tais como a expansão da TV a Cabo buir para a compreensão dos processos que e a “guerra das audiências”, entre os 4 ca- levam a telenovela novela brasileira a consti- nais generalistas, que levaram à diversifica- tuir, desde 1977, um produto de sucesso in- ção de estratégias de programação e ao in- discutível em Portugal. Com base em da- vestimento em novos produtos televisivos. dos estatísticos, compilados por organismos oficias portugueses, faz-se uma breve apre- sentação do actual panorama mediático por- 1 Introdução tuguês no que toca aos canais generalistas. Na nossa perspectiva, não é possível com- Apresenta-se, em seguida, algumas questões preender os Media sem ter em conta os con- teóricas referentes à segmentação do mer- textos políticos, económicos, sociais e cultu- cado português quanto a consumos de produ- rais em que se inserem. -
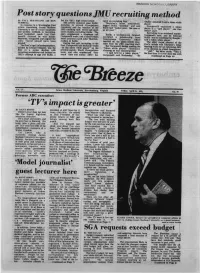
Post Story Questions JMU Recruiting Method 'TV's Impact Is Greater9
MADISON MEMORIAL LIBRARY Post story questions JMU recruiting method By PAIL McFARLANE and KEN Bel Air < Md.) high school senior. spent on recruiting him." (Bullis) assumed I said a token white TERRELL The article centered upon Bullis' Thurston's letter, meanwhile, player. In response to a Washington Post decision to attend Georgetown tagged Bullis "deceitful" and said Campanelli explained a token article concerning James Madison University and the reaction of the Bullis had "looked down hits nose at University's use of racial innuendos JMU coaching staff, which had spent us all year." player is a "spot player," one that and tactless methods in recruiting, seven months recruiting Bullis. The doesn t start. Recruiting is an emotional matter head basketball coach Lou Cam- story emphasized a telephone call Bullis. a six-foot-seven forward, panelli claimed he was misin- Campanelli made, and a hand-written Campanelli said, and he believed accepted a scholarship from Bullis "was so emotional he thought I terpreted, misquoted and argued the letter assistant coach John Thurston Georgetown University which story "never should have been mailed, to Bullis. said a token white player." touched off the questionable reac- The other major element of the printed." During that call, according to the tions from the JMU coaching staff. The Post's April 18 leadsportsstory. Post. Campanelli told Bullis he would Post's article was Thurston's letter But Campanelli denies making the blasting Bullis for not informing JMU written by Leonard Shapiro, was the "be the token white player" on the "token white player" statement, first in a series dealing with predominately black Georgetown of his decision to attend Georgetown claiming he was misinterpreted. -

Brochura VII Congresso(Small)
PREÇO DA INSCRIÇÃO 9:00 ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO INDIVIDUAL: 20 Euros 9:30 Conferência ESTUDANTES E SÓCIOS DO ESPAÇO T: 10 Euros “A Felicidade que não Encontramos” 9:30 SESSÃO DE ABERTURA 1 DIA: 15 Euros David Prado Sampaio Pimentel (Diretor Segurança Social) NO PROPRIO DIA: 30 Euros Jorge Oliveira (Presidente do Espaço t) (inclui Congresso, Certicado e algumas surpresas) Miguel e Luis Ferraz | João Calisto fotograa 11:00 Café com açúcar ou adoçante 11:15 MESA REDONDA: LÍNGUA OFICIAL "A Felicidade é para Todos/as" 10:00 CONFERÊNCIA: 2012 - Luís Miguel Neto A língua ocial é o Português, tendo tradução em simultâneo de Inglês e Língua Gestual. 13.14DEZ.2012 "Onde Fica a Felicidade?" - Beatriz Quintella Mirian Akhtar JANTAR SOCIAL - Carlos Manuel Lopes Preço: 30 Euros - David Almeida 11:00 O prazer de um café MODERADOR/A: Fátima Lambert 11:15 MESA REDONDA: Hotel Infante Sagres "A Felicidade no Limite do Sonho" 13:00 Coma os gramas que lhe apetecer Praça D. Filipa De Lencastre, Nº 62, Porto março - David Munir - Ângela Evers ENVIAR PARA: 14:30 MESA REDONDA: - Miguel Gonçalves Espaço t "A Felicidade que Criamos" - João Teixeira Lopes Rua do Vilar, n.º 54/54A, 4050-625 Porto internacional - Carlos Coelho - José Manuel Anes SEMINÁRIO DE VILAR_PORTO - Liliana Ribeiro A: Tel.: 22 608 19 19| 20 | 21 14 R - Maria Flávia de Monsaraz A Fax: 22 543 10 41 - Rui Paula P MODERADOR/A: Margarida Pinto Correia Email: [email protected] - Luís Ismael AR SOCIAL T www.espacot.pt MODERADOR/A: Paulo Arbiol reço – 30 Euros – 30 Euros reço “A Felicidade” el.: 22 608 19 19| 20 | 21 el.: 13:00 Gargalhada à Mesa JAN P ENVIAR t Espaço n.º 54 Vilar, Rua do 54A, 4050-625 Porto T 22 543 10 41 Fax: Email: [email protected] www.espacot.pt 14:30 MESA REDONDA: Nota: As inscrições efectuadas via mail e / ou fax não serão válidas enquanto o respectivo 16:00 Troque contactos de Felicidade "Felicidade: do Fado à Liberdade" pagamento não for efectuado. -

Portland Daily Press: September 28, 1900
DAg PORTLAND DAILY PRESS. GSS ESTABLISHED JUNE 23, 1862— ■ VO I J‘ 3Q * ------ land, FRIDAY MAINE, MORNING, SEPTEMBER 28, 1900. {SZSi PRICE THREE GENTS bhor relations with the Chinese envoys. So it CONFERENCE PROPOSED. members of the fire GKLA TEST STC RE appears that much more depends department of this MAINE'S TO CO village by the lire department of Lisbon | upon what Tuan does than what he has Of Pekin Ministers to Draw Up Terms Falls, Me., some weeks ago, the members done. of Peace. of the East Weymouth department ten- dered the members of Gen. Bates Engine REPLIES TO GERMANE. Paris, September 27.—The practical company of Lisbon Falls a banquet last deadlock in the^ efforts to commence night at Masonic hall Favor Punlihiumt of lllng Leaders peace negotiations with China, has giv- but ENCOURAGING REPORT. dill Soon Bo Ordered To Not Neceessarlly He fore Negotiu- en an impetus to the suggestion that the tlous Are Ueguu. ministers at Pekin be Instructed to hold Austin, Tex., September 27.—Gov, Sayers returned from Galveston today meetings for the purpose of drawing up Berlli^, September 27. —The German and reported conditions in that city aa (Jo Ahead. the terms of a treaty of peace. The faot press and foreign ollioe oohtlnue to greatly improved. deny that the the The relief committee is excellent that Great powers, through exchange of doing Britain has rejected Ger- work and the views between their respective' foreign people, generally, talk many's proposal. They also continue to Negotiations Pending Which Are hoijefully. There were about 1700 men at are unable to reach an Likely offices, agreement, work the blame the United Sifcates for the recently clearing away debris on Wed- has, it is claimed, dearly emphasized the nesday. -

Cronologia Dos Media 2000-2004 2000
Cronologia dos media 2000-2004 2000 Janeiro 01 Liberaliza,ao das telecomunica,oes de rede fixa:entrada em cena dos ope radores privados, apenas para as chamadas de longa distancia. 04 0 Presidente do Conselho de Administra,iio da RTP, Brandiio de Brito, tra,a, em audi,ao na Assembleia da Republica, um quadro negro da situa ,ao da televisao publica, com um nivel de endividamento perto do limite das possibilidades. 06 E anunciada inten,ao da SIC de criar no men.u da TVCabo um canal para jovens (Radical), para mulheres (Mulher) e terceira idade (Gold) e o con trolo, com 60% do capital, do CNL (informa,ao). 07 A RTP-Africa completa dois anos de emissiies regulares, com uma produ ,ao pr6pria que e rara e sem incluir programa,ao das TV privadas. 12 0 telefilme 'Amo-re, Teresa', emitido pela SIC, transforma-se no filme mais visto de sempre da televisiio portuguesa, com quase dois milhiies e meio de espectadores. 17 E apresentada Ananova, a primeira apresentadora virtual de noticias, um sistema super-rapido capaz de fornecer noticias de todo o tipo, criado pela PA News Media, empresa britanica do grupo da Associated Press (www. ananova.com). 21 Segundo o Publico, 0 Independente e condenado pelo Supremo Tribunal de Justi,a a pagar uma multa de cinco mil contos a Sousa Franco por abuso de liberdade de imprensa 26 Desencadeia-se uma viva polemica a prop6sito do artificio encontrado pela SIC para transmitir o jogo Benfica-Sporting para a Ta,a de Portugal e pelo facto de o Benfica ter impedido outras esta,oes (alem da SIC) de colocar meios tfcnicos para gravar o jogo, levando o Governo a apresentar queixa ao Instituto da Comunica,iioSocial e ao Ministerio Publico contra a SIC e o Benfica. -

Television Fiction in Europe
Television Fiction in Europe Eurofiction 2002 Sixth edition Please note: The following report is a comprehensive analysis of fiction programmes scheduled in European TVs in 2001. The European Audiovisual Observatory could not publish anymore such a report for the following years. However, in the framework of its Yearbook, Film, Television and Video in Europe, Chapter “Programming”, the Observatory published for all the following years a statistical analysis of fiction programming in most of the European television markets. Milly Buonanno (editor) October 2002 Edited by Milly BUONANNO, EUROFICTION, Television Fiction in Europe, Report 2002 Sixth edition, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, October 2002 ISBN 92-871-5028-1 The Eurofiction project team is coordinated by the Hypercampo Foundation, partner organisation of the European Audiovisual Observatory and comprises of: Italy University of Firenze Fondazione Hypercampo Osservatorio sulla Fiction Italiana (OFI) France Institut National de l’Audiovisuel (INA) Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) Germany Universität Siegen Spain Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) Corporación Multimedia y TVC United Kingdom British Film Institute (BFI) Director of Publication Wolfgang Closs, Executive Director of the European Audiovisual Observatory [email protected] Liaison Officer with Partner Organisation André Lange, Expert – Information on Markets and Funding andré[email protected] Marketing Markus Booms, Marketing Officer [email protected] Translators/Revisers France Courrèges, Paul Green, Erwin Rohwer, Ann Stedman and Colin Swift Print Production C.A.R. - Centre Alsacien de Reprographie Publisher European Audiovisual Observatory 76 allée de la Robertsau 67000 Strasbourg France Tel.: 0033 (0)388 14 44 00 Fax: 0033 (0)388 14 44 19 Email: [email protected] URL: www.obs.coe.int The analyses expressed in these articles are the authors’ own opinions and cannot in any way be considered as representing the point of view of the European Audiovisual Observatory, its members and the Council of Europe. -

Rockland Gazette : March 4, 1875
PUBLISHED EVERY THURSDAY AFTERNOON BY ESTABLISHMENT 7O SE & PORTER Having every facility in Pressefl, 1 ype and Material 244 Main Street. to which we are constantly making additions,w e are prepared to execute with promptness and good style, t i: 11 31 H : every variety of Job Printing, including Town Reports, Catalogues, By - Laws, Posr- If paid strictly in advance—per annum, $2.00 4 it payment is delayed G months 2,25 ora. Shop Bills, Hand Bills, Programmes, jt not paid till tne close oi the year, 2,50 Circulars, Bill Heads, BotteT Heads, «*' New subscubers are expected to make the Law and Corporation Blanks, Receipts, Bills ol Lading, Business. Addross and I Wedding Cards. Ushers. T ags. B ab els, JT S‘ncle copies Dvi :s—lor sale at the office & o.,& o., and at the bookstores. VOL. 30. ROCKLAND, MAINE, THURSDAY AFTERNOON, MARCH 4, 1875, NO 13. PRINTING IN COLORS AND BRONZING Z. 1‘OI’E VOSE. J. II. PORTER. will receive careful attention. live you, mark my words. And if the “ My name is Wolf Ileatherclough, TH REE 1) A YS UNDERQ li OLS our feet: and, following it almost instantly, use of their signal of “attention.” The darling wish. She had seen in town just I ’ iictrn. law had its just titles this day, you'd be up miss,” he said. r _ ------ . was seen at a little distance to faniilar tap—tap—tap tap—tap was re- the sewing machine she coveted. With EFJohn B. Gough has a lecture con yonder, with a striped suit on and a hall to Then the two pairs of eyes, one black, , The sun on Friday, April 2, had risenisen j sway jind then to fall,, making a,draft of | turned, and I saw at once that my instrue- this wonderful little helper in the house, cerning “ peculiar people,” and if he had your leg.*’ the other blue, looked at each other, and brightly on (he mining village of Caobon- air wilieh immediately extinuished tor must he among those outside.* she had no doubt but that she would in time had occasion to revise it during the past once glance was just as firm, fearless, and °fr» aU(I the dull and dismal March day. -
Osrealityshows Nãonosespelham. Nãoandamosde Camaemcama
entrevista TEXTO ANA MARIA RIBEIRO FOTOS VÍTOR MOTA RTP 1 I ‘A PRAÇA’ Jorge Gabriel Os reality shows não nos espelham. Nãoandamosde cama em cama... OAPRESENTADOR DIZ-SE SATISFEITO COM‘APRAÇA’,MAS ACHAQUE É SEMPRE POSSÍVELFAZER MELHOR.MUITO CRÍTICO RELATIVAMENTEAOS REALITYSHOWS, DIZQUE FALTACORAGEM PARAARRISCAR EM CONTEÚDOS DIFERENTES EM 2018, JORGE GABRIEL repentina. De início eu fazia re- APRENDE-SE tou a atirar uma pedra que COMPLETARÁ 50 ANOS DE portagens e na SIC havia um pode causar muitas circunfe- VIDAE25DETELEVISÃO. critério muito rigoroso para COM TODA A rências no lago, como outra Em entrevista, fala aberta- que um jornalista pudesse apa- GENTE. AQUILO que provoca circunferências mentesobreoquemudouno recer.Nãodavaacaraquem QUESEDEVE pequenas. panorama televisivo nestes queria. O que sucede é que o Tem ambições hierárquicas? anos e sobre as suas expec- Nuno Santos, que apresentava FAZER E AQUILO Presto-me à vida. O que a vida tativas para um melhor ser- ‘Os Donos da Bola’, passou QUE NÃO SE me proporcionar, logo direi se viço público. para a redação geral e alguém DEVE FAZER. me sinto preparado, se estou Sempre quis ser jornalista? teve de o substituir. para aí virado, se terei compe- Sempre quis comunicar.Ainda Foi substituí-lo? SOU ATENTO tência. Isso será estudado caso miúdo, na escola primária, a O Jorge Schnitzer, meu editor, AOS OUTROS acaso. minha vontade era contar his- disse-me, com uma hora de Nestes 25 anos de televisão, tórias aos colegas. E isso foi-se antecedência, que eu ia fazer o o que mudou? estabelecendo de plataforma programa. Aíé que tive um ba- A velocidade.