Transferir Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Country Profile Highlights Strategy
Country Profile Highlights Strategy Legal Framework inside Actors Infrastructure Services for Citizens Services for Businesses What’s eGovernment in Portugal ISA² Visit the e-Government factsheets online on Joinup.eu Joinup is a collaborative platform set up by the European Commission as part of the ISA² programme. ISA² supports the modernisation of the Public Administrations in Europe. Joinup is freely accessible. It provides an observatory on interoperability and e-Government and associated domains like semantic, open source and much more. Moreover, the platform facilitates discussions between public administrations and experts. It also works as a catalogue, where users can easily find and download already developed solutions. The main services are: Have all information you need at your finger tips; Share information and learn; Find, choose and re-use; Enter in discussion. This document is meant to present an overview of the eGoverment status in this country and not to be exhaustive in its references and analysis. Even though every possible care has been taken by the authors to refer to and use valid data from authentic sources, the European Commission does not guarantee the accuracy of the included information, nor does it accept any responsibility for any use thereof. Cover picture © AdobeStock Content © European Commission © European Union, 2018 Reuse is authorised, provided the source is acknowledged. eGovernment in Portugal May 2018 Country Profile ......................................................................................................... -

Brochura HCP V10.3
PORTUGAL A PRIVILEGED DESTINATION FOR MEDICAL TOURISM Contents - Manuel Caldeira Cabral – Minister of Economy - Adalberto Campos Fernandes – Minister of Health - Salvador de Mello - President of Health Cluster Portugal - Portugal - A Privileged Destination - Healthcare in Portugal - Areas of excellence in Portuguese Healthcare - Cardiology & Cardiac Surgery - Orthopedics - Rehabilitation - Oncology - Plastic Surgery - Obesity - Ophthalmology - OB/GYN - Assisted Reproductive Technology - Check-ups - Portugal facts and figures - How to get in touch or find out more MEDICAL TOURISM IN PORTUGAL Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões Manuel Caldeira Cabral Minister of Economy In the past few years, Portugal has established itself as one of the best touristic destinations all across the world. The growth of this sector in our country has been a major Key for the wealth creation in Portugal, and one of the main drivers for our economy. Last year, 2017, we broke new records again – revenue increased 20%, something we had not seen in the last two decades. So strong is the performance of tourism in Portugal that it accounts for more than half the services exports and 18% of the exports of goods and services. Last year, overall, Portuguese exports Kept growing and represented 42,5% of our GDP, a new record, which clearly shows how sustainable and resilient the Portuguese economy is. We are also aware that the demand for high quality health treatments is growing, namely because of demographics, and we have identified that as a priority in our National Strategy for Tourism 2027. We have some of the best qualified doctors and nurses and modern and functional medical infrastructures that are able to serve both locals and tourists. -

COVID-19: What Is Next for Portugal?
PERSPECTIVE published: 21 August 2020 doi: 10.3389/fpubh.2020.00392 COVID-19: What Is Next for Portugal? Ahmed Nabil Shaaban 1,2*, Barbara Peleteiro 2,3 and Maria Rosario O. Martins 1 1 Global Health and Tropical Medicine (GHTM), Institute of Hygiene and Tropical Medicine (IHMT), NOVA University of Lisbon, Lisbon, Portugal, 2 EPIUnit - Instituto de Saúde Pública, Universidade Do Porto, Porto, Portugal, 3 Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica, Faculdade de Medicina da Universidade Do Porto, Porto, Portugal Highly infectious with the possibility of causing severe respiratory complications, the novel COVID-19 began stretching health systems beyond their capacity all over the world and pushing them to breaking points. Giving the devastating effects caused by this infection, unprecedented measures have to be adopted in order to mitigate its impacts on the health system. This perspective aims to review the epidemic of COVID-19 in Portugal, possible areas of improvement, and potential interventions that can help to mitigate the effect of COVID-19 on the Portuguese health system. Keywords: COVID-19, health inequalites, health system, quality indicators—healthcare, mental health, economic crisis By June 3, 2020, the Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) has infected 33,261 individuals with 1,447 mortalities in Portugal (1). Unfortunately, this crisis came shortly after the recent recovery from the financial crisis that heavily affected the country Edited by: in 2011, during which Portugal was obligated to sign-up for a bailout program from several Tarun Stephen Weeramanthri, funding entities, including the European Central Bank and the International Monetary Fund University of Western (2, 3). -

Activities 2008
Activities 2008 Centro de Estudos Sociais Universidade de Coimbra Centre for Social Studies University of Coimbra Laboratório Associado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Associate Laboratory of the Ministry for Science, Technology and Higher Education O CES é financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. CES is funded by the Ministry for Science, Technology and Higher Educationthrough the Foundation for Science and Technology 2008 Activities Report Index 2 Executive Summary 4 1. Expanding and consolidating research activities 7 1.1. Scientific Organisation 7 1.2. Strengthening the research team 42 1.3.Research Projects 44 1.4.Interaction with other national and international research units 48 2. Advanced Research Training 53 2.1.Annual Cycle of Young Social Scientists 53 2.2.Doctoral Programs 54 2.3.Post-doctoral students 61 2.4.Grants and Scholarships 62 2.5.Participation of young researchers and students in research projects 63 3. Disseminating knowledge 64 3.1.Conferences, seminars and similar events 64 3.2.Advanced training courses 73 3.3.CES Periodical publications 74 3.4. CES Non-periodical publications 75 3.5.Communication Strategies 76 3.6.Website 77 3.7.Outreach activities 79 4. North-South Library 83 4.1.Human resources 83 4.2. Collections’ Development 83 4.3.Outside Users 86 4.4.Circulation 87 4.5.Selective Dissemination of Information (DSI) 87 4.6. SIB-UC (Integrated System of Coimbra University Libraries) 88 4.6.Other Activities 88 5. Expanding and requalifying human resources and infrastructures 89 5.1.Human resources 89 5.2.Spaces 89 5.3.Technical Infrastructure 90 6. -
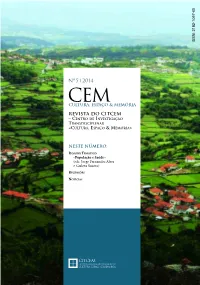
C U L T U R a , E S P a Ç O & M E M Ó R Ia
5 0 - 7 9 5 0 1 - 2 8 1 2 : N S S I a N.º 5 | 2014 i r ó m CEM e cultura, espaço & memória m Revista do CITCEM & – CENTRO DE INVESTIGAÇÃO TRANSDISCIPLINAR o CULTURA, ESPAÇO & MEMÓRIA ç « » a p s e Neste Número: , a DOSSIER TEMÁTICO r «População e Saúde» u (eds. Jorge Fernandes Alves t e Carlota Santos) l u RECENSÕES c NOTÍCIAS M E C CITCEM centro de investigação transdisciplinar CITCEM cultura, espaço e memória CEM N.º 5 cultura, espaço & memória CEM N.º 5 CULTURA, ESPAÇO & MEMÓRIA Edição: CITCEM – Centro de Investigação Transdisci- plinar «Cultura, Espaço & Memória» (Faculdade de Letras da Universidade do Porto/Universidade do Minho)/Edições Afrontamento Directora: Maria Cristina Almeida e Cunha Editores do dossier temático: Jorge Fernandes Alves | Carlota Santos Foto da capa: Paisagem minhota, 2013. Foto de Arlindo Alves. Colecção particular.. Design gráfico: www.hldesign.pt Composição, impressão e acabamento: Rainho & Neves, Lda. Distribuição: Companhia das Artes N.º de edição: 1604 Tiragem: 500 exemplares Depósito Legal: 321463/11 ISSN: 2182-1097-05 Periodicidade: Anual Esta revista tem edição online que respeita os critérios do OA (open access). Outubro de 2014 Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do projecto PEst-OE/HIS/UI4059/2014 EDITORIAL pág. 5 «EM PROL DO BEM COMUM»: O VARIA CONTRIBUTO DA LIGA PORTUGUESA DE SOB O OLHAR DA CONSTRUÇÃO DA APRESENTAÇÃO PROFILAXIA SOCIAL PARA A EDUCAÇÃO MEMÓRIA:RICARDO JORGE NA TRIBUNA HIGIÉNICA NO PORTO (1924-1960) DA HISTÓRIA POPULAÇÃO E SAÚDE I Ismael Cerqueira Vieira pág. -

Of Welfare State
University of Utrecht Faculty of Humanities Master Program Politics and Society in Historical Perspective Carlos Miguel Jorge Martins (student number 5574714) Master Thesis: Welfare Growth in Times of Retrenchment – The Case of Portugal Welfare Growth in Times of Retrenchment – The Case of Portugal 2015 Contents Contents ............................................................................................................................................ 3 Abstract ............................................................................................................................................ 4 Introduction ...................................................................................................................................... 5 Chapter I - An Era of Welfare Retrenchment? ............................................................................... 13 Welfare State .............................................................................................................................. 13 Welfare Retrenchment ................................................................................................................ 14 A Trajectory of Retrenchment .................................................................................................... 16 What Can Explain Welfare Retrenchment? ................................................................................ 22 Neoliberalism ........................................................................................................................ -

A Case Study in a Portuguese Healthcare Organization
Are the Healthcare Institutions Ready to Comply with Data Traceability Required by GDPR? A Case Study in a Portuguese Healthcare Organization Catia´ Santos-Pereira1;2 a, Alexandre B. Augusto1, Jose´ Castanheira3, Tiago Morais3 and Ricardo Correia1;4 b 1HealthySystems, Porto, Portugal 2Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal 3Unidade Local de Saude´ de Matosinhos, Porto, Portugal 4CINTESIS – Centro de Investigac¸ao˜ em Tecnologias e Servic¸os de Saude,´ Porto, Portugal fcatiapereira, aaugusto, [email protected], fjose.castanheira, [email protected] Keywords: Audit-trail, Audit-log, GDPR, Security, Data Privacy, Traceability, Healthcare. Abstract: GDPR introduces a new concept: ”Data protection by design and per default” for new software development however legacy systems will also have to adapt in order to comply. This creates great pressure on health care institutions, namely hospitals, and software producers to provide data protections and traceability mechanisms for their current and legacy systems. The aim of this work is to understand the maturity level of a Portuguese Healthcare Organization in their audit records to comply with GDPR article 30 and 32 since healthcare orga- nization operate in a daily-basis with personal data. This study was performed with the partnership of a public Portuguese healthcare organization and were organized into three main phases: (1) data collection of all in- formation systems that operate with personal data; (2) interviews with IT professionals in order to retrieve the necessary knowledge for each information system and (3) analysis of the collected data and its conclusions. This study helped to identify a need inside this organization and to determine a follow-up plan to overpass this challenge. -

Programme Book
10th European Public Health Conference OVERVIEW PROGRAMME Sustaining resilient WEDNESDAY 1 NOVEMBER THURSDAY 2 NOVEMBER FRIDAY 3 NOVEMBER SATURDAY 4 NOVEMBER 09:00 – 12:30 09:00 – 10:30 08:30 - 09:30 08:30 - 10:00 Pre-conferences Parallel sessions 1 Parallel sessions 4 Parallel session 8 09:40 - 10:40 10:10 - 11:10 and healthy communities Plenary 3 Parallel session 9 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:40 – 11:10 11:10 – 11:40 Coffee/tea Coffee/tea Coffee/tea Coffee/tea 11th European Public Health Conference 2018 12th European Public Health Conference 2019 11:00 – 12:00 11:10 - 12:10 11:40 - 13:10 Ljubljana, Slovenia Marseille, France PROGRAMME Plenary 1 Parallel sessions 5 Parallel session 10 12:30 – 13:30 12:00 – 13:15 12:10 – 13:40 13:10 – 14:10 Lunch for pre-conference Lunch – Lunch symposiums and Lunch – Lunch symposiums Lunch – Join the Networks delegates only Join the Networks and Join the Networks 13:30 – 17:00 13:15 - 14:15 13:40 - 14:40 14:10 - 15:10 Pre-conferences Plenary 2 Plenary 4 Plenary 5 14:25 – 15:25 14:50-15:50 15:10 – 16:00 Parallel sessions 2 Parallel sessions 6 Closing Ceremony Winds of Change: towards new ways Building bridges for solidarity 15:00 – 15:30 15:25 – 15:55 15:50 – 16:20 of improving public health in Europe and public health Coffee/tea Coffee/tea Coffee/tea 17:00 16:05 – 17:05 16:20 - 17:50 28 November - 1 December 2018 20 - 23 November 2019 End of Programme Parallel sessions 3 Parallel sessions 7 Cankarjev Dom, Ljubljana Marseille Chanot, Marseille 17:15 - 18:00 Opening Ceremony @EPHConference #EPH2018 -

001 224 ING Final LM.Indd 1 15/01/15 09:18 Editor Published by Lord Nigel Crisp Calouste Gulbenkian Foundation Av
The Future for Health everyone has a role to play 001_224 ING Final_LM.indd 1 15/01/15 09:18 Editor PublishEd by Lord Nigel Crisp Calouste Gulbenkian Foundation Av. de Berna 45 A Editing Coordinator 1067-001 Lisbon Cristina Monteiro Portugal Tel. (+351 21 782 3000) Design TVM Designers Email: [email protected] http://www.gulbenkian.pt Printing Gráfica Maiadouro, S.A. ©Calouste Gulbenkian Foundation 2014 For further information on the Print run Future for Health Gulbenkian Platform, 300 copies or to download the original report, please visit: www.gulbenkian.pt Or contact: ISBN 978-989-8380-17-3 Gulbenkian Programme for Innovation in Health LegaL DepoSIt 379 935/14 [email protected] 001_224 ING Final_LM.indd 2 15/01/15 09:18 The Future for Health everyone has a role to play Lord Nigel Crisp (Chair) Donald Berwick Ilona Kickbusch Wouter Bos João Lobo Antunes Pedro Pita Barros Jorge Soares COLLABORATION: 001_224 ING Final_LM.indd 3 15/01/15 09:18 Foreword from the President of the Calouste Gulbenkian Foundation the heaLth of the portugueSe popuLatIoN has made a remarkable progress in the last few decades, a fact that was recognized internationally and is the most positive achievement of our forty-year democratic regime. However we cannot ignore the limitations of our resources and how it affects our options. We are well aware of the need to prioritize our problems and the allocation of our resources. We must decide wisely, with boldness and courage. The progress achieved in the health system is due to enlightened policies but also to scientific advances and technological innovation. -

O Arqueólogo Português Série V
© DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO. © DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO. revista_OAP_10.indd 1 31/03/2017 00:40 Revista fundada em 1895 por José Leite de Vasconcelos © DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO. revista_OAP_10.indd 2 31/03/2017 00:40 Revista fundada em 1895 por José Leite de Vasconcelos © DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO. revista_OAP_10.indd 3 31/03/2017 00:40 SÉRIE V . VOLUME 4/5 MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA IMPRENSA NACIONAL LISBOA, 2014-2015 © DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO. revista_OAP_10.indd 4 31/03/2017 00:40 SÉRIE V . VOLUME 4/5 MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA IMPRENSA NACIONAL LISBOA, 2014-2015 © DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. NÃO É PERMITIDA A COMERCIALIZAÇÃO. revista_OAP_10.indd 5 31/03/2017 00:40 DIRETOR António Carvalho COORDENAÇÃO Ana Ávila de Melo Lívia Cristina Coito CONSELHO EDITORIAL Prof. Doutor Armando Coelho F. da Silva – Universidade do Porto Prof. Doutor João Luís Cardoso – Universidade Aberta Prof. Doutor José d’Encarnação – Universidade de Coimbra Dr. Luís Raposo – Museu Nacional de Arqueologia Prof. Doutor Nuno Bicho – Universidade do Algarve Prof.ª Doutora Rosa Varela Gomes – Universidade Nova de Lisboa Prof. Doutor Victor S. Gonçalves – Universidade de Lisboa DESIGN GRÁFICO Artlandia PAGINAÇÃO Undo PRÉ -IMPRESSÃO E IMPRESSÃO Imprensa Nacional -Casa da Moeda TIRAGEM 1000 exemplares Impresso em abril de 2017 Periodicidade anual ISSN 0870 -094X Depósito legal n.º 3161/83 Solicita-se permuta – On prie l’échange – Exchange wanted – Tauschverkehr erwunscht – Sollicitiamo scambio As opiniões expressas em texto e imagens são da exclusiva responsabilidade dos seus respetivos autores, salvo quando devidamente assinalado. -

Gender Transformations
Edited by: JULIA KATHARINA KOCH, WIEBKE KIRLEIS GENDER TRANSFORMATIONS in Prehistoric and Archaic Societies This is a free offprint – as with all our publications the entire book is freely accessible on our website, and is available in print or as PDF e-book. www.sidestone.com Edited by: JULIA KATHARINA KOCH, WIEBKE KIRLEIS GENDER TRANSFORMATIONS in Prehistoric and Archaic Societies Scales of Transformation I 06 © 2019 Individual authors Published by Sidestone Press, Leiden www.sidestone.com Imprint: Sidestone Press Academics All articles in this publication have peen peer-reviewed. For more information see www.sidestone.nl Layout & cover design: CRC 1266/Carsten Reckweg and Sidestone Press Cover images: Carsten Reckweg. – In the background a photo of the CRC1266-excavation of a Bronze Age burial mound near Bornhöved (LA117), Kr. Segeberg, Germany, in summer/autumn 2018. The leadership was taken over by 2 women, the team also included 10 women and 11 men, of whom the female staff were present for a total of 372 days and the male for 274 days. Text editors: Julia Katharina Koch and Suzanne Needs-Howarth ISSN 2590-1222 ISBN 978-90-8890-821-7 (softcover) ISBN 978-90-8890-822-4 (hardcover) ISBN 978-90-8890-823-1 (PDF e-book) The STPAS publications originate from or are involved with the Collaborative Research Centre 1266, which is funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation; Projektnummer 2901391021 – SFB 1266). Preface of the series editors With this book series, the Collaborative Research Centre Scales of Transformation: Human-Environmental Interaction in Prehistoric and Archaic Societies (CRC 1266) at Kiel University enables the bundled presentation of current research outcomes of the multiple aspects of socio-environmental transformations in ancient societies. -

2010-Portugueses-Em-Dic3a1spora
POPULAÇÃO E SOCIEDADE Dinâmicas e Perspectivas Demográficas do Portugal Contemporâneo CEPESE Título Adriano Moreira – Academia das Ciências de Lisboa POPULAÇÃO E SOCIEDADE – n.º 18 / 2010 Amadeu Carvalho Homem – Universidade de Coimbra Ramon Villares – Universidade de Santiago de Compostela Edição Ismênia Martins – Universidade Federal Fluminense CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade / Lorenzo Lopez Trigal – Universidade de Leon Edições Afrontamento Lená Medeiros de Menezes – Universidade do Estado do Rio de Janeiro Rua do Campo Alegre, 1055 – 4169-004 PORTO Gladys Ribeiro – Universidade Federal Fluminense Telef.: 22 609 53 47 Haluk Gunugur – Universidade Bilkent Fax: 22 543 23 68 Maria del Mar Lousano Bartolozzi – Universidade de Extremadura E-mail: [email protected] David Reher – Universidade Complutense de Madrid http://cepese.pt Philippe Poirrier – Universidade de Borgonha Hipolito de la Tórre Gomez – UNED – Universidade Nacional Edições Afrontamento de Educação à Distância Rua de Costa Cabral, 859 – 4200-225 PORTO Patrícia Alejandra Fogelman – Instituto Ravingani, UBA Telef.: 22 507 42 20 Angelo Trento – Universidade de Napoli Fax: 22 507 42 29 Matteo Sanfilippo – Universidade de Tuscia – Viterbo E-mail: [email protected] Jan Sundin – Universidade de Linköping www.edicoesafrontamento.pt Jonathan Riley-Smith – Universidade de Cambridge Manuel Gonzalez Jimenez – Universidade de Sevilha Fundadores Jean-Philippe Genet – Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris 3 Universidade do Porto Neil Gilbert – Universidade de Berkeley, California Fundação Eng. António de Almeida James Newell – Universidade de Salford Fernando de Sousa – Universidade do Porto, Universidade Lusíada Renato Flores – Fundação Getúlio Vargas do Porto J. Manuel Nazareth – Universidade Nova de Lisboa Coordenadora do Dossier Temático Jorge Arroteia – Universidade de Aveiro Maria João Guardado Directora Design Maria da Conceição Meireles Pereira João Machado Comissão Editorial Execução Gráfica Rainho & Neves, Lda.