1 O Chefe De Torcida, Entre Vícios E Virtudes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Violência No Futebol Brasileiro a Influência Dos Problemas Sócio-Culturais E Econômicos Da Sociedade Brasileira Na Violência Do Futebol Local
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repositório Institucional do UniCEUB CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UniCEUB FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – FASA CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL HABILITAÇÃO EM JORNALSIMO DISCIPLINA: MONOGRAFIA PROFESSOR ORIENTADOR : SEVERINO FRANCISCO ÁREA: ESPORTE E CULTURA DE MASSA Violência no futebol brasileiro A influência dos problemas sócio-culturais e econômicos da sociedade brasileira na violência do futebol local. Luís Roberto do Carmo Lourenço Júnior RA: 2041283/2 Brasília, Outubro de 2007 Luís Roberto do Carmo Lourenço Júnior Violência no futebol brasileiro Trabalho apresentado à Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, como requisito parcial para a obtenção ao grau de Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Prof.Severino Francisco Brasília, Outubro de 2007 Luís Roberto do Carmo Lourenço Júnior Violência no futebol brasileiro Trabalho apresentado à Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, como requisito parcial para a obtenção ao grau de Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Banca Examinadora _____________________________________ Prof. Severino Francisco Orientador __________________________________ Prof. Renato Ferraz Examinador __________________________________ Prof.Luiz Cláudio Ferreira Examinador Brasília, Outubro de 2007 “Que humanidade, senão a do esporte, seria capaz de construir, sobre a abstração de um gol, a cerimônia a que assisto, neste instante, querendo chorar, querendo gritar? Os campeões mundiais em volta olímpica, a beijar a tacinha, filha adotiva de todos nós, brasileiros? Ternamente, o capitão Carlos Alberto cola o corpinho dela no seu rosto fatigado: conquistou-a para sempre, conquistou-a por ti, adorável peladeiro do Aterro do Flamengo. -

Livroobservatorio.Pdf
TORCEDORES, MÍDIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER 1 ALDO ANTONIO DE AZEVEDO (org.) 2 TORCEDORES, MÍDIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL 3 4 Aldo Antonio de Azevedo (Organizador) TORCEDORES, MÍDIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER NO DISTRITO FEDERAL AUTORES Aldo Antonio de Azevedo Alfredo Feres Neto Daniel Santos Danilo Mota Vieira Dori Alves Júnior Rafael Rangel Soffredi 5 © by Aldo Azevedo - 2008 FICHA TÉCNICA Arte da capa: Beto Paixão e Aldo Azevedo Editoração eletrônica: Beto Paixão, Raul Evaristo Revisão: Jarbas Junior Supervisão: Victor Tagore Conselho Editorial: Aldo Antonio de Azevedo Alfredo Feres Neto André Luiz Teixeira Reis Brasilmar Ferreira Nunes Dulce Maria de A. F. Suassuna Ingrid Dittrich Wiggers Manuela Alegria Sadi Dal Rosso ISBN: 978-85-7062-786-5 A994t Azevedo, Aldo Antonio de Torcedores, Mídia e Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Distrito Federal / Aldo Antonio de Azevedo, organizador — Brasília: Thesaurus, 2008. 168 p. 1. Esporte 2. Lazer 3. Política de esporte e lazer 4. Brasíli (DF), Esporte e lazer. I. Título CDU 796.07 (817.4) CDD 796 Todos os direitos em língua portuguesa, no Brasil, reservados de acordo com a lei. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo fotocópia, gravação ou informação computadorizada, sem permissão por escrito do Autor. THESAU- RUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA. SIG Quadra 8, lote 2356 - CEP 70610-400 - Brasília, DF. Fone: (61) 3344-3738 - Fax: (61) 3344-2353 * End. Eletrônico: -

Dinâmica Territorial Das Escolas De Samba Em São Paulo
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas VANIR DE LIMA BELO O ENREDO DO CARNAVAL NOS ENREDOS DA CIDADE. DINÂMICA TERRITORIAL DAS ESCOLAS DE SAMBA EM SÃO PAULO. SÃO PAULO 2008 II Vanir de Lima Belo O ENREDO DO CARNAVAL NOS ENREDOS DA CIDADE. DINÂMICA TERRITORIAL DAS ESCOLAS DE SAMBA EM SÃO PAULO. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Geografia. Orientadora: Profa Dra Mónica Arroyo. São Paulo 2008 III Para meu pai Petrúcio, Para meu amor, Gil. É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar... (Davi Moreira e Nelson Custódio, 1972). IV A biografia do samba é linda Não vou narrar Porque o tempo não me favorece Simplesmente por alto eu digo Ele veio do lamento Dos escravos ao fazerem suas preces Ô ô ô ô São súplicas que o Brasil jamais esquece (Talismã, 1969) V RESUMO O carnaval das escolas de samba na cidade de São Paulo vem adquirindo um importante conteúdo social, político e econômico. Ao longo de seu desenvolvimento, passou por diversas transformações acompanhando o crescimento da cidade e adaptando-se aos novos conteúdos urbanos e a imposições políticas e técnicas. Todavia, ainda guarda um caráter genuíno atrelado à festa, característica de sua gênese. Diante disso, essa pesquisa se desenvolve a partir de uma periodização composta por três períodos definidos pelos eventos mais significativos observados ao longo da história dessa manifestação cultural. -

Escolas De Samba E Torcidas Organizadas De Futebol
Escolas de samba e torcidas organizadas de futebol: Análise de um caso de sincretismo no carnaval paulistano Samba schools and Bernardo Borges Soccer supporter Buarque de Hollanda1, Jimmy Medeiros2 groups: Analysis of a case of syncretism in the 1Doutor em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor carnival of São adjunto da Escola de Ciências Sociais da FGV. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. E-mail: [email protected] Paulo 2Doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela UFRJ. Pesquisador do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea http://dx.doi.org/10.12660/rm.v9n14.2018.73873 do Brasil da Fundação Getúlio Vargas. E-mail: [email protected] 24 Escolas de samba e torcidas organizadas: Análise de um caso de sincretismo no carnaval paulistano Resumo: O presente artigo examina o processo de apropriação dos desfiles de carnaval pelas torcidas uniformizadas de futebol profissional. Trata-se de analisar o caso particular das associações de torcedores paulistanos e sua participação institucionalizada no calendário festivo da cidade de São Paulo, nas três últimas décadas. A questão central do texto interroga o fato de o carnaval ter sido apropriado pelas torcidas organizadas de São Paulo, dentro de uma estratégia jurídica e institucional de sobrevivência associativa, ante as tentativas de proibição desses subgrupos no universo do futebol pelo Ministério Público desde 1995, em razão de seu comportamento violento e socialmente antidesportivo nos estádios. Por meio de uma enquete quantitativa, procura-se compreender a simbiose dessas organizações juvenis e populares em São Paulo, com a conversão dos agrupamentos de torcedores em agremiações voltadas para a prática do carnaval. -
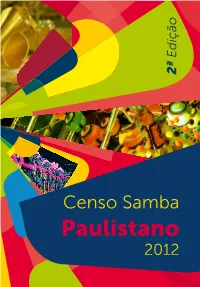
Censo Samba Paulistano 2012 Paulistano Censo Samba 2012
Edição 2ª Censo Samba Paulistano 2012 Censo Samba Paulistano 2012 O tempo vai passando e, quando nos damos conta, ao fazer um rápido balanço, notamos o quanto foi possível realizar e o quanto ainda está por vir. Tenho certeza que uma relação tão franca e positiva, como a estabelecida entre esta administração e as escolas de samba e blocos, trará ainda ótimos frutos e pavimentará o desenvolvimento deste importante segmento da nossa cultura. Aproveito, assim, para fazer um agradecimento sincero aos presidentes de escolas de samba, blocos e afoxés, aos líderes das bandas carnavalescas e em especial aos integrantes mais antigos das agremiações, aqueles que têm por missão manter viva a memória e a chama do samba paulistano. Muito obrigado a todos, não apenas como prefeito que aprendeu a respeitá-los e contou sempre com a compreensão de vocês, mas também como o cidadão Gilberto Kassab que passou a admirá- los. Tanta dedicação nos faz acreditar no futuro do Carnaval de São Paulo. Bons carnavais a todos. Gilberto Kassab Prefeito da cidade de São Paulo É com prazer que fazemos chegar a todos a edição 2012 do Censo Samba Paulistano. Um estudo rico em informações que nos ajudam a entender o universo desta que é uma das manifestações mais autênticas de nossa cidade e País. O sucesso e a boa acolhida à primeira edição nos fez acreditar que seria possível melhorar ainda mais a qualidade das informações, além de abordar temas como a evolução do carnaval paulistano desde sua oficialização, em 1968. Quem tiver acesso a estes dados e análises compreenderá um pouco melhor a nossa cidade e sua relação com as agremiações carnavalescas. -

Torcida Jovem E Fúria Jovem: Algumas Reflexões Sobre Os Simbolismos Das Torcidas Organizadas Do Botafogo De Futebol E Regatas
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS ANNY CAROLINY FRANCO FARAH TORCIDA JOVEM E FÚRIA JOVEM: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE OS SIMBOLISMOS DAS TORCIDAS ORGANIZADAS DO BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS Niterói 2015 ANNY CAROLINY FRANCO FARAH Torcida Jovem e Fúria Jovem: algumas reflexões sobre os simbolismos das Torcidas Organizadas do Botafogo de Futebol e Regatas. Monografia apresentada ao Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção do Grau de Bacharel em Ciências Sociais. Orientadora: Profa. Dra. Alessandra Siqueira Barreto Coorientadora: Profa. Dra. Rosana da Câmara Teixeira Niterói 2015 2 ANNY CAROLINY FRANCO FARAH Torcida Jovem e Fúria Jovem: algumas reflexões sobre os simbolismos das Torcidas Organizadas do Botafogo de Futebol e Regatas. Monografia apresentada ao Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção do Grau de Bacharel em Ciências Sociais. BANCA EXAMINADORA Profa. Dra. Alessandra Siqueira Barreto (UFF) Profa. Dra. Rosana da Câmara Teixeira (UFF) Profa. Dra. Mariana Paladino (UFF) Niterói 2015 3 AGRADECIMENTOS Gostaria de agradecer primeiramente a minha mãe Tânia Franco, pois sem ela, entrar em uma Universidade seria impossível, obrigada por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava e ao meu pai Fuede Farah por todo apoio e carinho que me dá, pelo orgulho que sente de mim e por me ajudar a “caçar” livros difíceis: amo vocês. A minha orientadora Rosana da Câmara que me ajudou a enfrentar minha vergonha ao escrever, agora posso dizer que escrevo sem medos. E a minha tia Leila Franco pelo grande apoio desde o início de minha graduação. -
![Ponto Urbe, 8 | 2011, « Ponto Urbe 8 » [Online], Posto Online No Dia 01 Julho 2011, Consultado O 23 Setembro 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/5140/ponto-urbe-8-2011-%C2%AB-ponto-urbe-8-%C2%BB-online-posto-online-no-dia-01-julho-2011-consultado-o-23-setembro-2020-1055140.webp)
Ponto Urbe, 8 | 2011, « Ponto Urbe 8 » [Online], Posto Online No Dia 01 Julho 2011, Consultado O 23 Setembro 2020
Ponto Urbe Revista do núcleo de antropologia urbana da USP 8 | 2011 Ponto Urbe 8 Edição electrónica URL: http://journals.openedition.org/pontourbe/81 DOI: 10.4000/pontourbe.81 ISSN: 1981-3341 Editora Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade de São Paulo Refêrencia eletrónica Ponto Urbe, 8 | 2011, « Ponto Urbe 8 » [Online], posto online no dia 01 julho 2011, consultado o 23 setembro 2020. URL : http://journals.openedition.org/pontourbe/81 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ pontourbe.81 Este documento foi criado de forma automática no dia 23 setembro 2020. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 1 SUMÁRIO Editorial Artigos A “Maioral”: uma etnografia da Torcida Jovem do Botafogo Futebol Clube da Paraíba Hércules Vicente do Nascimento e Maria Patrícia Lopes Goldfarb Campininha das Flores: narrativas de um drama social Arthur Pires Amaral O Médico Legista e o Etnógrafo: Uma análise comparativa de duas obras de Nina Rodrigues Rachel Rua Baptista Bakke O Terena na cidade Um estudo sobre liminaridade entre Antropologia Urbana e Etnologia Indígena Michely Aline Jorge Espíndola Reflexões a partir da mobilidade: O consumo de alimentos e a formação de mercados brasileiros em Boston Viviane Kraieski de Assunção “Pra ele se sentir bem...”: notas etnográficas sobre os jovens e o prazer Ane Talita da Silva Rocha Cir-Kula Decrecimiento del pueblo corporativo Atenquique y su declinación económica y ambiental José G. Vargas Hernández Criminalidade Organizada: antigos padrões, novos agentes e tecnologias Danilo Fontenele Sampaio Cunha Narrativas, conversações e alguns ritornelos em meio à feira livre Maicon Barbosa El antes y el después de la ciudad neoliberal La problematización de las políticas sociales y la reconfiguración de la periferia montevideana desde la experiencia de sus habitantes Eduardo Álvarez Pedrosian Entrevista Entrevista com Guita Grin Debert Lilian de Lucca Torres e Guita Grin Debert Ponto Urbe, 8 | 2011 2 Tradução A pessoa fractal WAGNER, Roy. -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Escola De Educação Física
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA FRANCINE MORIM MENEGOTTO QUE ROSA NADA, ELAS USAM É AZUL! UM ESTUDO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA TORCIDA JOVEM DO GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE Porto Alegre - RS 2011 FRANCINE MORIM MENEGOTTO QUE ROSA NADA, ELAS USAM É AZUL! UM ESTUDO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA TORCIDA JOVEM DO GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito final para obter o título de licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Orientadora: Prof. Drª. Janice Zarpellon Mazo Porto Alegre - RS 2011 RESUMO Os estudos realizados sobre a temática das torcidas de futebol abordam em sua maioria as relações dos homens com o esporte. Porém, com o passar do tempo houve uma crescente incorporação da mulher na esfera torcedora. No Rio Grande do Sul, a participação das mulheres nas torcidas dos dois maiores clubes de futebol do Estado – o Sport Club Internacional e o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense – é cada vez maior. Destaca-se a significativa participação das mulheres na Torcida Jovem do Grêmio (TJG), fundada em 1977, considerada a mais antiga torcida organizada em atividade do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. O objetivo do estudo é compreender como se instituiu a participação das mulheres na Torcida Jovem do Grêmio. Os processos metodológicos adotados foram a pesquisa em documentos, em sites, em fontes imagéticas, a observação livre e a entrevista semi-estruturada. Depois de realizada a coleta de informações, esta foi submetida à análise. Os resultados alcançados mostram que a torcida passou por momentos difíceis em sua história; porém, manteve-se na ativa, com uma estrutura hierárquica organizada. -

Arquivototal.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO – CCAE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA – PPGA EDILZA MARIA MEDEIROS DETMERING “LEÕES” DA SPORTMANIA: Um estudo sobre a formação e a sociabilidade de uma torcida organizada do Sport Club do Recife JOÃO PESSOA/PB 2018 1 EDILZA MARIA MEDEIROS DETMERING “LEÕES” DA SPORTMANIA: Um estudo sobre a formação e a sociabilidade de uma torcida organizada do Sport Club do Recife Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade Federal da Paraíba, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Antropologia. LINHA DE PESQUISA 4 – Etnografias e Sociabilidades Urbanas Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Paz Tella JOÃO PESSOA/PB 2018 2 3 4 AGRADECIMENTOS À Lei Suprema que a tudo e a todos rege, pela conclusão de mais uma etapa na minha existência. Aos meus pais, José Luna de Medeiros e Luíza Erina Borges de Medeiros (in memorian), pelo amor, pelo exemplo, pela vida e pela dedicação, sem os quais, eu não conseguiria chegar aonde cheguei até agora. Aos meus filhos, por seu amor e por entender minhas ausências nos últimos dois anos. Aos colegas e às colegas do curso, por toda a força, cumplicidade e união em todos os momentos da nossa jornada acadêmica. À minha amiga Uliana Gomes, por compartilhar meus momentos de angústia e por toda a força dada nesses dois anos de curso; ao meu amigo Ítalo Rômany, pela presença, pelo companheirismo, pelo constante incentivo durante o Mestrado e pelo seu exemplo de profissionalismo ao longo desses dez anos de amizade; ao meu querido amigo José Carlos de Almeida Leite (in memorian), pela força, parceria, cumplicidade e dedicação ao longo de todos aqueles anos de convívio. -

TESE Eduardo Araripe Pacheco De Souza.Pdf
EDUARDO ARARIPE PACHECO DE SOUZA FAZER ALIANÇAS Uma escolha determinante entre o protagonismo e a invisibilidade dos grupos organizados de torcedores de futebol no Brasil Tese apresentada para obtenção do título de doutor junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Prof. Dr. Edwin Boudewijn Reesink Coorientadora: Profª. Drª Carmen Silvia Rial Recife 2016 EDUARDO ARARIPE PACHECO DE SOUZA FAZER ALIANÇAS: Uma escolha determinante entre o protagonismo e a invisibilidade dos grupos organizados de torcedores de futebol no Brasil Banca Examinadora ________________________________________________________________ Profº. Drº. Edwin Boudewinj Reesink (Orientador) Programa de Pós-Graduação em Antropologia - UFPE ________________________________________________________________ Profº. Drº. Russel Perry Scott (Examinador titular interno) Programa de Pós-Graduação em Antropologia - UFPE ________________________________________________________________ Profª. Drª. Mísia Lins Reesink (Examinadora titular interna) Programa de Pós-Graduação em Antropologia - UFPE ________________________________________________________________ Profº. Drº. Edson Hely Silva (Examinador titular externo) Colégio de Aplicação/CE - UFPE ________________________________________________________________ Profª. Drª. Dayse Amâncio dos Santos (Examinadora titular externa) Departamento de Antropologia - UFRPE DEDICATÓRIA A José Heráclito (in memorian), Nadja, Eduardo e Sarah, Rafaela e Laura. AGRADECIMENTOS Esta tese é compartilhada -

Violência No Futebol Brasileiro: Os Discursos De Torcedores Organizados
MARCELO FADORI SOARES PALHARES VIOLÊNCIA NO FUTEBOL BRASILEIRO: OS DISCURSOS DE TORCEDORES ORGANIZADOS VIOLENCE IN BRAZILIAN FOOTBALL: THE DISCOURSES OF TORCEDORES ORGANIZADOS Dissertação apresentada ao Instituto de Biociências do Câmpus de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências da Motricidade, área Pedagogia da Motricidade Humana. Orientadora: Profa. Dra. Gisele Maria Schwartz Co-orientadora: Profa. Dra. Giselle Helena Tavares Rio Claro 2015 Dedico esta dissertação aos meus pais. Muito obrigado por todos estes anos de investimento em minha formação, por sempre me apoiarem e serem meus melhores amigos. Graças a vocês eu pude chegar até aqui. AGRADECIMENTOS Em meu caso, não sei exatamente se essa sessão é de agradecimentos ou de desculpas por todas as minhas ausências ao longo desta trajetória do mestrado acadêmico. Agradecer às pessoas que foram importantes nesta etapa é uma tarefa difícil, árdua. No entanto, me ensinaram que não devemos fugir deste tipo de tarefa, então aqui estou. Inicialmente, agradeço a Deus, sua proteção e luz. Eu sei que ELE guia meus passos. Agradeço aos meus pais, obrigado por todos os investimentos, esforços e renúncias feitas por mim. Agradeço ao meu melhor amigo, meu maior exemplo nesta vida, Afonso José Palhares Filho. Muito obrigado por ser o meu maior incentivador, sobretudo, nos estudos. Obrigado por me proporcionar todas as condições para que eu possa somente me preocupar em estudar e me desenvolver. Eu te amo muito e minha meta na vida é ser semelhante a você, ser ao menos, 1% do grande homem que você é. -

Apuntes Para Un Estudio Comparativo Entre Torcidas Organizadas E Hinchadas
EDICIÓN ESPECIAL APUNTES PARA UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE TORCIDAS ORGANIZADAS E HINCHADAS NOTES FOR A COMPARATIVE STUDY BETWEEN SUPPORTER GROUPS FROM BRAZIL (TORCIDAS ORGANIZADAS) AND ARGENTINA (HINCHADAS) APONTAMENTOS PARA UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE TORCIDAS ORGANIZADAS E HINCHADAS Marcelo Fadori Soares Palhares*, Nicolas Cabrera**, Gisele Maria Schwartz*** Palabras clave Resumen: En el presente estudio se propone una primera aproximación comparativa entre torcidas organizadas e hinchadas. El texto presenta una descripción densa que Fútbol. señala similitudes y diferencias, en términos sincrónicos y diacrónicos, entre ambos Sociología. colectivos de espectadores futbolísticos. Se focalizará en los contextos de surgimien- Actividades to, los encuadramientos organizacionales, las lógicas de pertenencia y las prácticas y recreativas. representaciones más significativas de cada uno de los objetos empíricos analizados. Finalmente, explicitaremos algunos aportes para la construcción de una sociología pú- blica del deporte regional. Keywords Abstract: The present study proposes an initial approach to a comparative study be- * Programa de pós-graduação em tween supporter groups from Brazil (torcidas organizadas) and Argentina (hinchadas). Ciências da Motricidade.Universida- Football. The text presents a thick description that points to similarities and differences, in syn- de Estadual de São Paulo (UNESP). Sociology. chronic and diachronic terms, between both groups of football spectators. The paper Campus Rio Claro. Rio Claro, SP. Bra- Recreational focuses on each group’s emergence, organizational framings, logics of belonging, and sil. E-mail: [email protected] activities. most significant practices and representations. Finally, it illustrates the contributions of this research to the construction of a public sociology of regional sport. ** Pós-grado en Universidad Nacional de Córdoba (UNC).