Referências Bibliográficas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
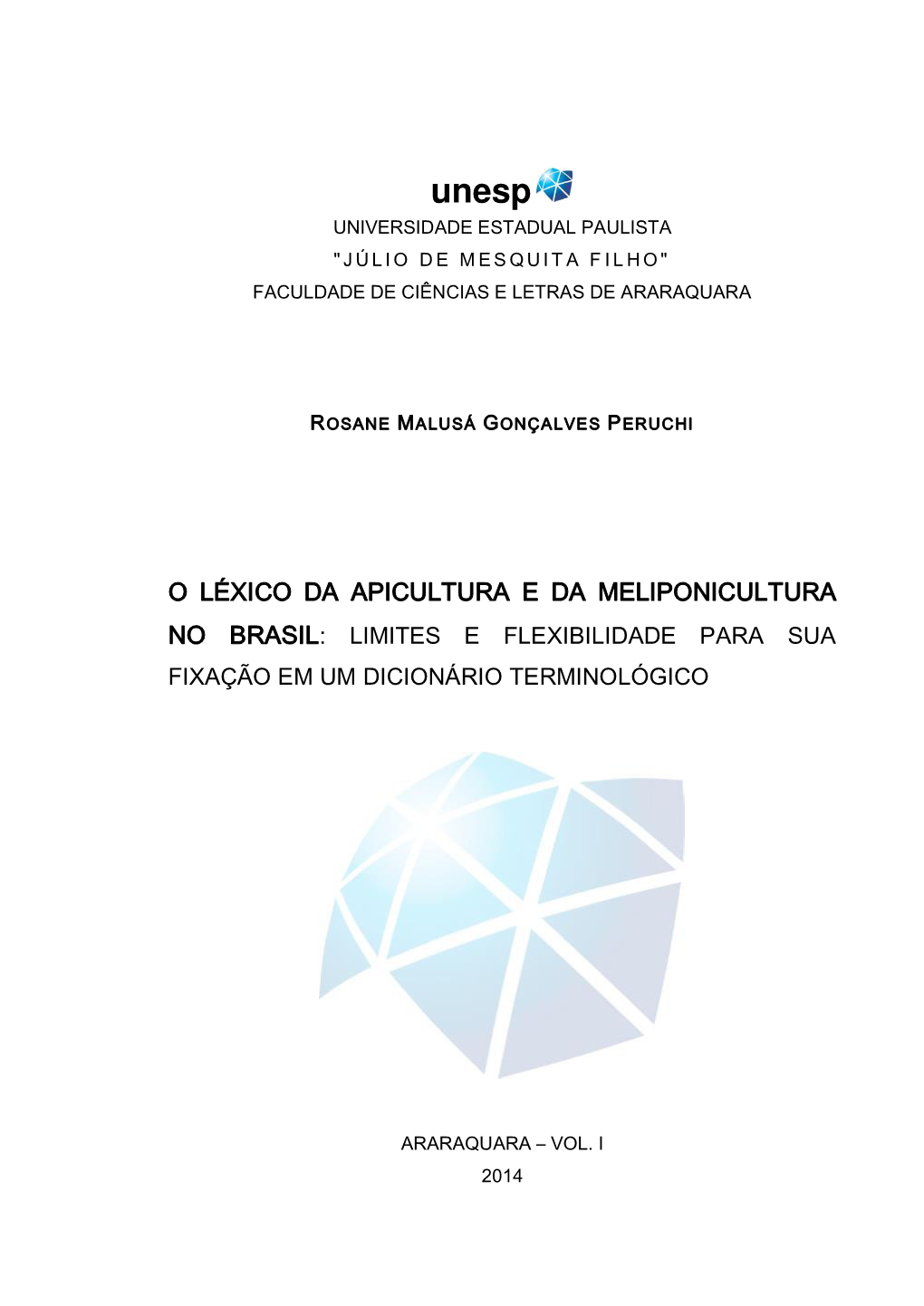
Load more
Recommended publications
-

Revista Biologia Tropical
VOLUMEN 21 1973 SUPLEMENTO 1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA REVISTA BIOLOGIA TROPICAL THE NEST ARCHITECTURE OF STINGlESS BEES WITH SPECIAl REFERENCE TO THOSE OF COSTA RICA (Hymenoptera, Apidae) A. WILLE and c. D. MICHENER THE NEST ARCHITECTURE OF STINGLESS BEES WITH SPECIAL REFERENCE TO THOSE OF COSTA RICA (Hymenoptera, Apidae) 2 by Alvaro Wille 1 and Charles D. Michener CONTENTS Introduetion ...................................................................... .................................. 9 Classifieation and Nomenclature .......................................................................... 17 Nest Loeations ........................................ ...... ............ ............ ...................... ......... 17 A. General Aecount ..... .............. ............ ................ .................. .......... .... 17 B. Sites of Costa Riean Nests Studied ..................................... ............... 38 Nest Struetures ... ................. ........................ ....... ........... ..................................... 38 A. Terminology and Nest Organization .................................................. 38 l. Materials ... ......................................... ...................................... 38 2. Organization and terminology...... ............................................ 38 B. Tabular Summary of Meliponine Nest Strueture ............................... 41 1. Content and methods ............................................................... 41 2. Symbols used in the tables .... ...... ............................................ -

Acta Botanica Brasilica
Are native bees and Apis mellifera equally efficient pollinators of the rupestrian grassland daisy Aspilia jolyana (Asteraceae)? Maruyama, Pietro K.; Nunes, Carlos E. P.; Vizentin-bugoni, Jeferson; Gustafsson, Simone; Morellato, Leonor Patricia Cerdeira Published in: Acta Botanica Brasilica DOI: 10.1590/0102-33062018abb0143 Publication date: 2018 Document license: CC BY Citation for published version (APA): Maruyama, P. K., Nunes, C. E. P., Vizentin-bugoni, J., Gustafsson, S., & Morellato, L. P. C. (2018). Are native bees and Apis mellifera equally efficient pollinators of the rupestrian grassland daisy Aspilia jolyana (Asteraceae)? Acta Botanica Brasilica, 32(3), 386-391. https://doi.org/10.1590/0102-33062018abb0143 Download date: 25. Sep. 2021 Acta Botanica Brasilica - 32(3): 386-391. July-September 2018. doi: 10.1590/0102-33062018abb0143 Are native bees and Apis mellifera equally efficient pollinators of the rupestrian grassland daisy Aspilia jolyana (Asteraceae)? Pietro K. Maruyama1,2* , Carlos E. P. Nunes1 , Jeferson Vizentin-Bugoni3 , Simone Gustafsson4 and Leonor Patricia Cerdeira Morellato5 Received: April 12, 2018 Accepted: May 9, 2018 ABSTRACT Most angiosperms rely on animals for pollination, and insects, especially bees, are the most frequent pollinators. Many native Neotropical plants are frequently visited by the invasive honeybee (Apis mellifera), but its role in the pollination of these plants has been little investigated. We assessed the contribution of various floral visitors, including native bees and the honeybee, on the pollination of a generalist rupestrian grassland daisy, Aspilia jolyana (Asteraceae), in Serra do Cipó, Espinhaço Mountain Range, Brazil. We recorded floral visitors and measured the seed set resulting from one single visitation. We observed a total of 442 visits, mostly by bees, with Bombus pauloensis and Apis mellifera being the most common floral visitors. -

How to Cite Complete Issue More Information About This Article
Revista Ciência Agronômica ISSN: 0045-6888 ISSN: 1806-6690 Universidade Federal do Ceará Mascena, Valdenio Mendes; Silva, Celso Moreira; Almeida, Cicero Lima de; Alves, Társio Thiago Lopes; Freitas, Breno Magalhães External activity of colonies of Melipona quinquefasciata managed in different types of beehive1 Revista Ciência Agronômica, vol. 49, no. 4, October-December, 2018, pp. 683-691 Universidade Federal do Ceará DOI: 10.5935/1806-6690.20180077 Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195358224017 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Project academic non-profit, developed under the open access initiative Revista Ciência Agronômica, v. 49, n. 4, p. 683-691, out-dez, 2018 Centro de Ciências Agrárias - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE Scientific Article www.ccarevista.ufc.br ISSN 1806-6690 External activity of colonies of Melipona quinquefasciata managed in different types of beehive1 Atividade externa de colônias de Melipona quinquefasciata manejada em diferentes tipos de colmeias Valdenio Mendes Mascena2*, Celso Moreira Silva3, Cicero Lima de Almeida4, Társio Thiago Lopes Alves5 and Breno Magalhães Freitas6 ABSTRACT - This study evaluated the influence of the environment and of two models of beehive (wooden box and ceramic pot) on the flight activity of the ground-nesting bee, Melipona quinquefasciata. The experiment took place in the Chapada do Araripe, in the State of Ceará, Brazil, between July 2014 and June 2015. The study followed colonies in three ceramic pots and four wooden boxes. Observations of the flight activity of the bees and of the climate were made on five days every month, each colony being monitored for 5 min, at intervals of one hour, from 0500 to 1700. -

Karyotypic Description and Repetitive DNA Chromosome Mapping of Melipona Interrupta Citation: N.M
Firenze University Press Caryologia www.fupress.com/caryologia International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics Karyotypic description and repetitive DNA chromosome mapping of Melipona interrupta Citation: N.M. Travenzoli, I.C. de Oliveira Barbosa, G.A. Carvalho-Zilse, Latreille, 1811 (Hymenoptera: Meliponini) T.M.F. Salomão, D.M. Lopes (2019) Karyotypic description and repetitive DNA chromosome mapping of Melipo- na interrupta Latreille, 1811 (Hyme- Natália Martins Travenzoli1, Ingrid Cândido de Oliveira Barbosa2, noptera: Meliponini). Caryologia 72(2): Gislene Almeida Carvalho-Zilse2, Tânia Maria Fernandes Salomão3, 91-95. doi: 10.13128/cayologia-239 Denilce Meneses Lopes1,* Published: December 5, 2019 1 Laboratório de Citogenética de Insetos, Departamento de Biologia Geral, Universidade Copyright: © 2019 N.M. Travenzoli, Federal de Viçosa, CEP 36570-900, Viçosa, Minas Gerais, Brazil 2 I.C. de Oliveira Barbosa, G.A. Carval- Grupo de Pesquisas em Abelhas, Coordenação de Biodiversidade, Instituto Nacional de ho-Zilse, T.M.F. Salomão, D.M. Lopes. Pesquisas da Amazônia (INPA), CEP 69067-375, Manaus, Amazonas, Brazil This is an open access, peer-reviewed 3 Laboratório de Biologia Molecular de Insetos, Departamento de Biologia Geral, Univer- article published by Firenze University sidade Federal de Viçosa, CEP 36570-900, Viçosa, Minas Gerais, Brazil Press (http://www.fupress.com/caryo- *Corresponding author: [email protected] logia) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted Abstract. Heterochromatic patterns in the genus Melipona vary among subgenera spe- use, distribution, and reproduction cies. Melikerria is the only subgenus that presents species with different content of in any medium, provided the original heterochromatin. -

Print This Article
Sociobiology 64(3): 359-362 (September, 2017) DOI: 10.13102/sociobiology.v64i3.1262 Sociobiology An international journal on social insects SHORT NOTE First Record of the Stingless Bee Lestrimelitta rufa (Friese) (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) in NE Brazil and its Cleptobiotic Behavior VM Mascena1, DS Nogueira2, CM Silva3, BM Freitas1 1 - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, Brazil 2 - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus-AM, Brazil 3 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Crato-CE, Brazil Article History Abstract The aim of this study was to expand occurrence records of Edited by Lestrimelitta rufa (Friese, 1903) to the Brazilian Northeast and Evandro N. Silva, UEFS, Brazil Received 01 December 2016 to document the cleptobiotic behavior of this robber species in Initial acceptance 27 February 2017 colonies of Melipona quinquefasciata Lepeletier, 1836. Two attacks Final acceptance 01 May 2017 were carried out in a meliponary in the county of Barbalha (Ceará, Publication date 17 October 2017 Brazil), where pot and larval food were sacked. Even with direct confrontation between invading and inquiline bees, there was a Keywords Robber bee, Melipona, quinquefasciata, total loss of one of the attacked nests because robber workers ethology, inquiline bee. remained insistently in search of resources of these nests during the attacks. Corresponding author Valdenio Mendes Mascena Universidade Federal do Ceará Av. da Universidade, 2853 - Benfica CEP 60020-181 - Fortaleza-CE, Brasil. E-Mail: [email protected] The geographic distribution of the genus Lestrimelitta morphological characteristics, the bee cannot collect pollen Friese, 1903, includes the Neotropical region, with 21 species from flowers, assuming obligatory cleptobiotic behavior and and part of the Neartic region, with two species (Camargo & robbing other bees’ nests to keep its own (Roubik, 1989; Pedro, 2013). -

Hymenoptera, Apidae)
Melipona quinquefasciata IN NE BRAZIL 479 OCCURRENCE AND BIOGEOGRAPHIC ASPECTS OF Melipona quinquefasciata IN NE BRAZIL (HYMENOPTERA, APIDAE) LIMA-VERDE, L. W.1 and FREITAS, B. M.2 1Laboratório de Fitogeografia, Departamento de Biologia, Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, CEP 60451-970, Fortaleza, CE, Brazil 2Setor de Apicultura, Departamento de Zootecnia – CCA, Universidade Federal do Ceará, C.P. 12168, Campus do Pici, CEP 60021-970, Fortaleza, CE, Brazil Correspondence to: Breno Magalhães Freitas, Setor de Apicultura, Departamento de Zootecnia – CCA, Universidade Federal do Ceará, C.P. 12168, Campus do Pici, CEP 60021-970, Fortaleza, CE, Brazil, e-mail: [email protected] Received May 16, 2001 – Accepted July 30, 2001 – Distributed August 31, 2002 (With 3 figures) ABSTRACT The stingless bee Melipona quinquefasciata is not included among the nine bee species of Melipona described in literature of NE Brazil. However, reports of some farmers raised suspicion on the oc- currence of M. quinquefasciata in the state of Ceará, in NE Brazil. Investigations were carried out from July 1997 to September 2000, by means of trips to the areas of probable occurrence of this bee species. Results confirmed the presence of M. quinquefasciata in Ceará and determined its habitat along the chapada do Araripe (Araripe plateau) and all extension of planalto da Ibiapaba (Ibiapaba plateau), in altitudes between 600 and 900 m. Melipona quinquefasciata lives in the phytocoenosis of cerrado (Brazilian savanna), cerradão (savanna forest) and carrasco (montane deciduous shrub vegetation) on the top of Araripe plateau, and only carrasco in the Ibiapaba plateau. Due to pressures caused by reduction of the area covered with native vegetation, large use of agrochemicals in anthropic areas and generalised predatory hunting of honey and beeswax, M. -

Plant-Arthropod Interactions: a Behavioral Approach
Psyche Plant-Arthropod Interactions: A Behavioral Approach Guest Editors: Kleber Del-Claro, Monique Johnson, and Helena Maura Torezan-Silingardi Plant-Arthropod Interactions: A Behavioral Approach Psyche Plant-Arthropod Interactions: A Behavioral Approach Guest Editors: Kleber Del-Claro, Monique Johnson, and Helena Maura Torezan-Silingardi Copyright © 2012 Hindawi Publishing Corporation. All rights reserved. This is a special issue published in “Psyche.” All articles are open access articles distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Editorial Board Toshiharu Akino, Japan Lawrence G. Harshman, USA Lynn M. Riddiford, USA Sandra Allan, USA Abraham Hefetz, Israel S. K. A. Robson, Australia Arthur G. Appel, USA John Heraty, USA C. Rodriguez-Saona, USA Michel Baguette, France Richard James Hopkins, Sweden Gregg Roman, USA Donald Barnard, USA Fuminori Ito, Japan David Roubik, USA Rosa Barrio, Spain DavidG.James,USA Leopoldo M. Rueda, USA David T. Bilton, UK Bjarte H. Jordal, Norway Bertrand Schatz, France Guy Bloch, Israel Russell Jurenka, USA Sonja J. Scheffer, USA Anna-karin Borg-karlson, Sweden Debapratim Kar Chowdhuri, India Rudolf H. Scheffrahn, USA M. D. Breed, USA Jan Klimaszewski, Canada Nicolas Schtickzelle, Belgium Grzegorz Buczkowski, USA Shigeyuki Koshikawa, USA Kent S. Shelby, USA Rita Cervo, Italy Vladimir Kostal, Czech Republic Toru Shimada, Japan In Sik Chung, Republic of Korea Opender Koul, India Dewayne Shoemaker, USA C. Claudianos, Australia Ai-Ping Liang, China Chelsea T. Smartt, USA David Bruce Conn, USA Paul Linser, USA Pradya Somboon, Thailand J. Corley, Argentina Nathan Lo, Australia George J. Stathas, Greece Leonardo Dapporto, Italy Jean N. -

Redalyc.Nest Architecture of the Stingless Bee Geotrigona
Biota Neotropica ISSN: 1676-0611 [email protected] Instituto Virtual da Biodiversidade Brasil Mendes Barbosa, Fernando; de Oliveira Alves, Rogério Marcos; de Almeida Souza, Bruno; Lopes de Carvalho, Carlos Alfredo Nest architecture of the stingless bee Geotrigona subterranea (Friese,1901) (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) Biota Neotropica, vol. 13, núm. 1, 2013, pp. 146-152 Instituto Virtual da Biodiversidade Campinas, Brasil Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199126390016 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Nest architecture of the stingless bee Geotrigona subterranea (Friese,1901) (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) Barbosa, F.M. et al. Biota Neotrop. 2013, 13(1): 147-152. On line version of this paper is available from: http://www.biotaneotropica.org.br/v13n1/en/abstract?article+bn03913012013 A versão on-line completa deste artigo está disponível em: http://www.biotaneotropica.org.br/v13n1/pt/abstract?article+bn03913012013 Received/ Recebido em 03/05/12 - Revised/ Versão reformulada recebida em 25/10/12 - Accepted/ Publicado em 22/03/13 ISSN 1676-0603 (on-line) Biota Neotropica is an electronic, peer-reviewed journal edited by the Program BIOTA/FAPESP: The Virtual Institute of Biodiversity. This journal’s aim is to disseminate the results of original research work, associated or not to the program, concerned with characterization, conservation and sustainable use of biodiversity within the Neotropical region. Biota Neotropica é uma revista do Programa BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade, que publica resultados de pesquisa original, vinculada ou não ao programa, que abordem a temática caracterização, conservação e uso sustentável da biodiversidade na região Neotropical. -

Hymenoptera: Apidae) in the State of Bahia, Brazil
Anais da Academia Brasileira de Ciências (2012) 84(3): 679-688 (Annals of the Brazilian Academy of Sciences) Printed version ISSN 0001-3765 / Online version ISSN 1678-2690 www.scielo.br/aabc Areas of Natural Occurrence of Melipona scutellaris Latreille, 1811 (Hymenoptera: Apidae) in the state of Bahia, Brazil ROGÉRIO M.O. ALVES1, CARLOS A.L. CARVALHO1, BRUNO A. SOUZA2 and WYRATAN S. SANTOS1 1Centro de Ciências Agrárias Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Caixa Postal 118, 44380-000 Cruz das Almas, BA, Brasil 2Embrapa Meio-Norte, Núcleo de Pesquisas com Abelhas, Av. Duque de Caxias, 5650, Buenos Aires, 64006-220 Teresina, PI, Brasil Manuscript received on March 15, 2010; accepted for publication on October 26, 2010. ABSTRACT The bee Melipona scutellaris is considered the reared meliponine species with the largest distribution in the North and Northeast regions of Brazil, with records from the state of Rio Grande do Norte down to the state of Bahia. Considering the importance of this species in the generation of income for family agriculture and in the preservation of areas with natural vegetation, this study aimed at providing knowledge on the distribution of natural colonies of M. scutellaris in the state of Bahia. Literature information, interviews with stingless bee beekeepers, and expeditions were conducted to confirm the natural occurrence of the species. A total of 102 municipalities showed records for M. scutellaris, whose occurrence was observed in areas ranging from sea level up to 1,200-meter height. The occurrence of this species in the state of Bahia is considered to be restricted to municipalities on the coastal area and the Chapada Diamantina with its rainforests. -

Genome Size Diversity in Stingless Bees (Hymenoptera: Apidae, Meliponini) Mara Tavares, Carlos Carvalho, Fernanda Soares, Lucio Oliveira Campos
Genome size diversity in stingless bees (Hymenoptera: Apidae, Meliponini) Mara Tavares, Carlos Carvalho, Fernanda Soares, Lucio Oliveira Campos To cite this version: Mara Tavares, Carlos Carvalho, Fernanda Soares, Lucio Oliveira Campos. Genome size diversity in stingless bees (Hymenoptera: Apidae, Meliponini). Apidologie, Springer Verlag, 2012, 43 (6), pp.731- 736. 10.1007/s13592-012-0145-x. hal-01003667 HAL Id: hal-01003667 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01003667 Submitted on 1 Jan 2012 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Apidologie (2012) 43:731–736 Original article * INRA, DIB and Springer-Verlag, France, 2012 DOI: 10.1007/s13592-012-0145-x Genome size diversity in stingless bees (Hymenoptera: Apidae, Meliponini) Mara Garcia TAVARES, Carlos Roberto CARVALHO, Fernanda Aparecida Ferrari SOARES, Lucio Antonio de OLIVEIRA CAMPOS Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa, Av. P H Rolfs, s/n , CEP: 36.570-000, Viçosa, Minas Gerais, Brazil Received 10 March 2012 – Revised 8 May 2012 – Accepted 23 May 2012 Abstract – The first studies on the genome size of stingless bee species showed a range from 0.27 pg (Melipona subnitida and Melipona quadrifasciata)to1.38pg(Melipona capixaba). -

Flowers with Poricidal Anthers and Their Complex Interaction Networks&
Received: 18 May 2018 | Accepted: 18 August 2018 DOI: 10.1111/1365-2435.13204 RESEARCH ARTICLE Flowers with poricidal anthers and their complex interaction networks—Disentangling legitimate pollinators and illegitimate visitors José N. Mesquita‐Neto1,2 | Nico Blüthgen3 | Clemens Schlindwein1 1Departamento de Botânica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Abstract Minas Gerais, Brazil 1. In flowers with poricidal anthers, pollen is not freely accessible and legitimate ac- 2 Laboratorio de Ecologia de Abejas, cess is restricted to bees capable of vibrating the anthers. Despite the protection Departamento de Ciências Biológicas y Químicas, Faculdad de Ciencias of pollen provided by poricidal anthers, numerous illegitimate, non-buzz-pollinat- Básicas, Universidad Católica del Maule, ing flower visitors rob pollen. Talca, Chile 2. We aimed to quantify the influence of functional groups of floral visitors and ille- 3Ecological Networks, Department of Biology, Technische Universität Darmstadt, gitimate interactions on the network structure to disentangle the flower visitor Darmstadt, Germany network into its mutualistic and antagonistic components. Correspondence 3. We delimited three functional groups of bees based on their pollen collection Clemens Schlindwein behaviour in poricidal flowers: large bees that vibrate entire flowers in a single Email: [email protected] buzzing position (flower buzzing), bees vibrating single anthers in different posi- Funding information tions (anther buzzing) and non-vibrating flower-damaging or gleaning bees (non- Rufford Foundation, Grant/Award Number: 17393-1; Fundação de Amparo à Pesquisa buzzing). Moreover, we characterized legitimate and illegitimate interactions of do Estado de Minas Gerais, Grant/Award co-occurring and co-flowering plants and their flower visitors based on the stigma Number: APQ-01707-14; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico contact during a visit. -
André Rodrigo Rech
i ANDRÉ RODRIGO RECH WALKING THROUGH THE FLOWER FIELDS: THE ROLE OF TIME AND SPACE ON THE EVOLUTION OF POLLINATION STRATEGIES CAMINHANDO ENTRE FLORES: O PAPEL DE VARIAÇÕES NO TEMPO E ESPAÇO NA EVOLUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE POLINIZAÇÃO CAMPINAS 2014 ii iii iv v CAMPINAS, 29 DE MARÇO DE 2014 vi vii Abstract Patterns in ecology are the products of current factors interacting with a longstanding history of contingency. Nevertheless, few studies have attempted to disentangle the contribution of past and current factors on plant reproduction patterns. Here we studied pollination considering both, spatial and temporal dimensions. Time variation goes from hours to millennia as well as space, whose importance was considered from meters to the whole planet. The chapter’s sequence within the thesis is planned to go from the small to the large scale. We show the importance of fine grained variations such as hours and meters in the flower differentiation and pollination of two Davilla species in the chapter 1. In the chapter 2 we studied pollen deposition and visitation frequency in Knautia arvensis considering a year scale and showed the most important pollinator changing every year. In the Chapters 3 we used Curatella americana with populations studied across Brazilian Cerrado and show spatial variation in flower and leaf morphology and pollen tube growth. Chapter 4 also using C. americana shows the variation on the reproductive system across space, with cross-pollination related to pollinator availability and the level of autogamy underpinned by past climate. To finish, Chapter 5 deal with 50 community-based assessments of wind and animal pollination over the world and show the importance of precipitation (current and past) and plant species richness as major drivers of these proportion.