TCC Ailma Teixeira 2016.1.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
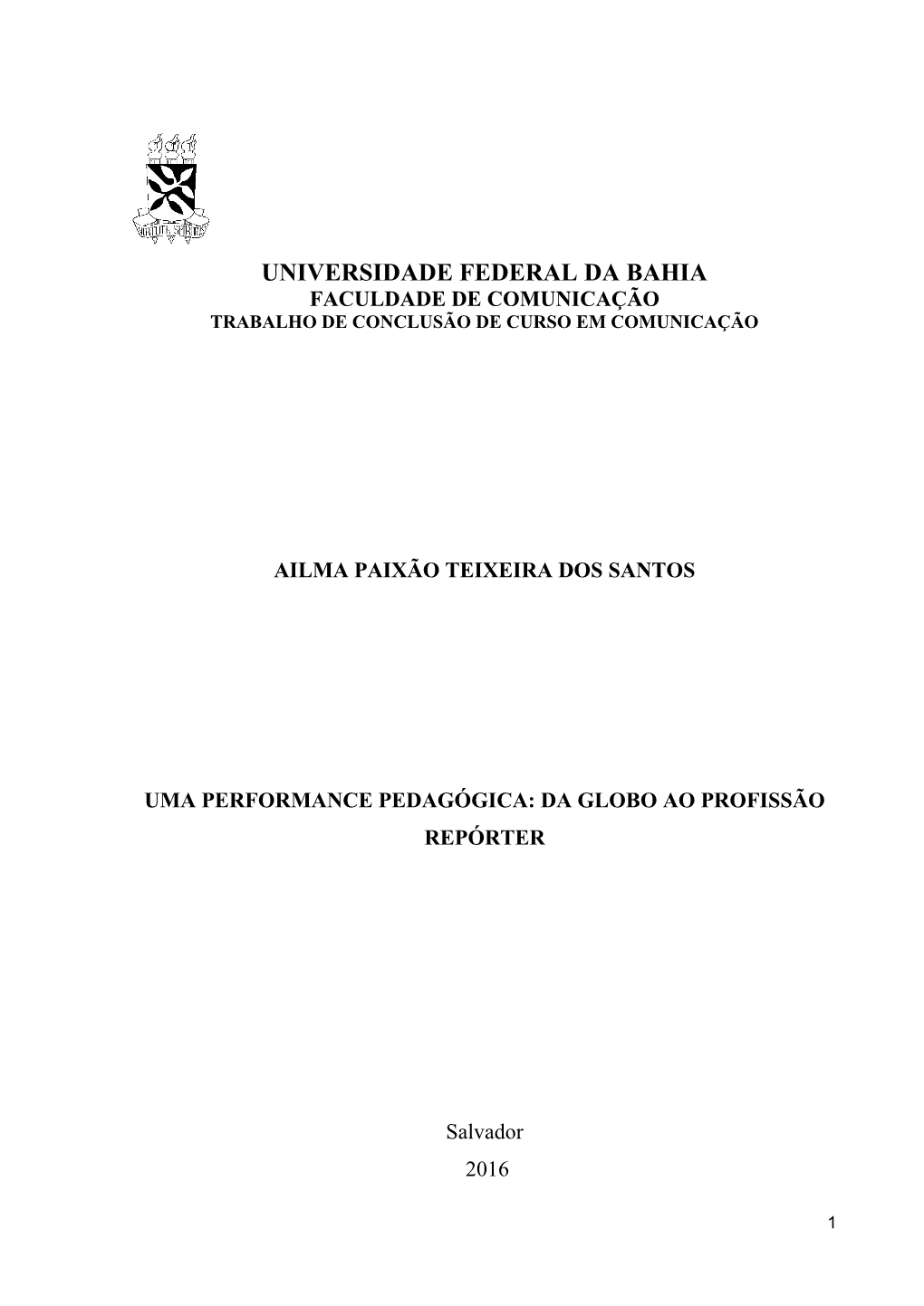
Load more
Recommended publications
-

Ulisse Gomes Da Rocha Junior
UNIVERSIDADE PAULISTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA AS TRANSFORMAÇÕES DOS RECURSOS DA LINGUAGEM DO JORNAL NACIONAL Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da Universidade Paulista – UNIP, para obtenção do título de Mestre em Comunicação e Cultura Midiática. ULISSES GOMES DA ROCHA JUNIOR SÃO PAULO 2017 UNIVERSIDADE PAULISTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA AS TRANSFORMAÇÕES DOS RECURSOS DA LINGUAGEM DO JORNAL NACIONAL Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da Universidade Paulista – UNIP, para obtenção do título de Mestre em Comunicação e Cultura Midiática. Professor Doutor Gustavo Souza da Silva ULISSES GOMES DA ROCHA JUNIOR SÃO PAULO 2017 Rocha Junior, Ulisses Gomes da. As transformações dos recursos da linguagem do jornal nacional / Ulisses Gomes da Rocha Junior. - 2017. 80 f. : il. color. Dissertação de Mestrado Apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Comunicação da Universidade Paulista, São Paulo, 2017. Área de Concentração: Cultura Midiática. Orientador: Prof. Dr. Gustavo Souza da Silva. 1. Linguagem televisiva. 2. Jornal nacional. 3. Jornalismo. 4. Jornalismo. 5. Telejornalismo. 6. Coloquialidade I. Silva, Gustavo Souza (orientador). II. Título. ULISSES GOMES DA ROCHA JUNIOR AS TRANSFORMAÇÕES DOS RECURSOS DA LINGUAGEM DO JORNAL NACIONAL Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da Universidade Paulista – UNIP, para obtenção -

Mulheres No Jornalismo Práticas Profissionais E Emancipação Social
Organizadoras Marli dos Santos Ana Carolina Rocha Pessôa Temer MULHERES NO JORNALISMO PRÁTICAS PROFISSIONAIS E EMANCIPAÇÃO SOCIAL Organizadoras Marli dos Santos Ana Carolina Rocha Pessôa Temer MULHERES NO JORNALISMO PRÁTICAS PROFISSIONAIS E EMANCIPAÇÃO SOCIAL São Paulo Editora Cásper Líbero UFG/FIC 2018 MULHERES NO JORNALISMO Organização Produção Marli dos Santos Simonetta Persichetti Ana Carolina Rocha Pessôa Temer Diagramação Colaboração editorial Giulia Elisa Garcia de Souza Jéssica de Oliveira Collado Mateos Guilherme Martins Batista Dados Internacionais de Catalogação na Publicidade (CIP) Biblioteca Prof. José Geraldo Vieira M922 Mulheres no jornalismo: práticas profissionais e emancipação social [recurso eletrônico] / organização Marli dos Santos e Ana Carolina Rocha Pessôa Temer. – 1. ed. – São Paulo: Cásper Líbero : UFG/FIC, 2018 ISBN: 978-85-88668-02-7 recurso digital: il. 1. Mulheres jornalistas. 2. Mulheres jornalistas - História. 3. Mulheres - Representação da mídia. I. Santos, Marli dos. II. Temer, Ana Carolina Rocha Pessôa. CDD 070.48347 Bibliotecária responsável: Daniela Paulino Cruz Bissolato - CRB 8/6728 Conselho Editorial Ana Carolina Rocha Pessoa Temer (UFG) José Wagner Ribeiro (UFAL) Ana Rita Vidica Fernandes (UFG) Luciano Alves Pereira (UFG) Ana Valéria Machado Mendonça (UNB) Luiz Antonio Signates Freitas (UFG) Andréa Pereira dos Santos (UFG) Magno Luiz Medeiros (UFG) Antonio Fausto Neto (Unisinos) Márcia Perencin Tondato (ESPM) Claudomilson Fernandes Braga (UFG) Maria Aparecida Baccega (ESPM) Daniel Christino (UFG) Maria Francisca Nogueira (UFG) Goiamérico Felício Carneiro dos Santos (UFG) Simone Antoniaci Tuzzo (UFG) Jairo Ferreira (Unisinos) Suely Gomes (UFG) José Luiz Braga (Unisinos) Tiago Mainieri de Oliveira (UFG) Editora Cásper Líbero Av. Paulista, 900 – CEP: 01310-000 – São Paulo/SP Fone: (11) 3170-5841 [email protected] MULHERES NO JORNALISMO SUMÁRIO Apresentação .................................................................... -

Humbertojunioralvesviana.Pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MESTRADO EM COMUNICAÇÃO Humberto Junio Alves Viana ENTRE A MEMÓRIA, O TELEJORNALISMO E OS ACONTECIMENTOS: a Rede Globo e a construção de seu lugar na História Juiz de Fora 2019 Humberto Junio Alves Viana ENTRE A MEMÓRIA, O TELEJORNALISMO E OS ACONTECIMENTOS: a Rede Globo e a construção de seu lugar na História Dissertação apresentada ao programa de Pós- Graduação em Comunicação, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. Área de concentração: Comunicação e Sociedade. Linha de Pesquisa: Cultura, Narrativas e Produção de Sentidos. Orientadora: Profa. Dra. Christina Ferraz Musse Juiz de Fora 2019 Ficha catalográfica elaborada através do programa de geração automática da Biblioteca Universitária da UFJF, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) Viana, Humberto Junio Alves. Entre a memória, o telejornalismo e os acontecimentos : a Rede Globo e a construção de seu lugar na história / Humberto Junio Alves Viana. -- 2019. 235 p. : il. Orientadora: Christina Ferraz Musse Dissertação (mestrado acadêmico) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Comunicação Social. Programa de Pós Graduação em Comunicação, 2019. 1. Telejornalismo. 2. Memória. 3. História. 4. Análise Crítica da Narrativa. 5. Jornal Nacional. I. Musse, Christina Ferraz, orient. II. Título. Dedico este trabalho a todas as pessoas que passaram por mim enquanto estive desenvolvendo a pesquisa. Há uma afirmação de autoria desconhecida, mas que cabe muito bem aqui: “por trás desse caos aparente há uma ordem impecável”. Em suma, não há acaso, não há nada sem um porquê, por isso, dedico essa pesquisa a todos que ultrapassaram comigo esta fase, deixaram-me marcas e contribuíram não só para o desenvolvimento da dissertação, mas para o desenvolvimento do Humberto enquanto pessoa. -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Faculdade De Biblioteconomia E Comunicação Departamento De Comunicação Curso De Jornalismo
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO CURSO DE JORNALISMO AMANDA FARIAS HAMERMÜLLER A COR NA TELEVISÃO: Uma análise da representatividade racial entre os repórteres e apresentadores da Rede Globo e o papel televisivo na construção da identidade negra Porto Alegre 2018 AMANDA FARIAS HAMERMÜLLER A COR NA TELEVISÃO: Uma análise da representatividade racial entre os repórteres e apresentadores da Rede Globo e o papel televisivo na construção da identidade negra Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito à obtenção do título de Bacharel em Jornalismo. Orientadora: Profª Drª Sandra de Fátima Batista de Deus Porto Alegre 2018 AMANDA FARIAS HAMERMÜLLER A COR NA TELEVISÃO: Uma análise da representatividade racial entre os repórteres e apresentadores da Rede Globo e o papel televisivo na construção da identidade negra Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito à obtenção do título de Bacharel em Jornalismo. Orientadora: Profª Drª Sandra de Fátima Batista de Deus Aprovado em: ____ de _________________ de _________. BANCA EXAMINADORA ________________________________________ Profª. Drª. Sandra de Fátima Batista de Deus Orientadora ________________________________________ Profª. Drª. Thais Helena Furtado Examinadora ________________________________________ Mestra em Educação Patricia Helena Xavier dos Santos Examinadora À minha avó, Docelina, por ser o doce mais doce de minha vida, todos os dias. AGRADECIMENTOS Esta monografia representa trabalho, dedicação, determinação, perseverança e resistência. Porém, ela não existiria se não fosse pelo auxílio de figuras importantes na minha vida. -

Sociedade Brasileira De Estudos Interdisciplinares Da Comunicação XXXII Congresso Brasileiro De Ciências Da Comunicação – Curitiba, PR – 4 a 7 De Setembro De 2009
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba, PR – 4 a 7 de setembro de 2009 Telejornalismo Global Uma análise da programação jornalística da Rede Globo de Televisão1 Maria Silvia Fantinatti Pesquisadora do Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Resumo Este trabalho analisa os programas que compõem a grade jornalística da Rede Globo de Televisão, recebida em São Paulo, na busca do efeito de sentido do jornalismo da emissora. Nosso corpus é a programação básica durante uma semana, no período entre os anos de 2006 e 2007, abordada sob a ótica das teorias que se preocupam com a adaptação e verificação dos discursos nos sistemas de comunicação audiovisuais. Nos fundamentamos em conceitos de Análise de Conteúdo, Análise de Texto, Semiótica e Semiologia da Comunicação, aplicados aos programas da TV e ao conjunto da programação. Dados os altos índices de audiência e a presença marcante no cotidiano dos brasileiros, postulamos como de relevância um olhar mais atento às estratégias de programação e contratos de comunicação propostos pelo jornalismo da TV Globo. Palavras-chave Televisão, telejornal, fluxo, semiótica, comunicação. Telejornalismo Global Nosso objeto de investigação do texto televisivo é a programação jornalística da Rede Globo. Ainda que o principal período de pesquisa esteja no ano 2006, também analisamos programas exibidos em 2007. Esse largo espectro de data não prejudica a análise, já que a Globo mantém a mesma espinha dorsal da grade há mais de uma década. Propomos para este corpus textual dois tipos de varredura, vertical e horizontal, que permitem análises na sincronia e na diacronia da programação. -

O Telejornalismo Como Um Produto Cultural Expandido
1 O TELEJORNALISMO COMO UM PRODUTO CULTURAL EXPANDINDO 1 Dannilo Duarte Oliveira2 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB Resumo: O objetivo do artigo é compreender o telejornalismo como um produto cultural expandido no contexto de convergência midiática, buscando entender quais as mudanças e reconfigurações que o telejornalismo tem sofrido com a internet. Partiremos de um referencial teórico metodológico tributário dos Estudos Culturais, a partir dos conceitos de gênero televisivo (GOMES, 2011) e do mapa das mediações (MARTÍN-BARBERO, 2004) e Estrutura de sentimento (WILLIAMS, 1961, 1979) pois nos permite visualizar as transformações políticas, econômicas, tecnológicas e culturais do jornalismo. O conceito de convergência midiática (JENKINS, 2009) também se torna caro para entender a produção de conteúdo televisivo na contemporaneidade, bem como, o conceito de produto cultural expandido (SOARES e MANGABEIRA, 2012). Os resultados apontam que com a convergência há uma mudança na forma e na veiculação dos telejornais, no entanto, do ponto de vista da produção do conteúdo, do formato dos telejornais em questão, não há mudanças significativas em relação aos telejornais clássicos veiculados na televisão. Por outro lado, pudemos perceber que o telejornalismo tem se colocado como um produto cultural expandido, pois a internet tem ampliado o seu alcance e atingido um público mais heterogêneo. Palavras-Chave: telejornalismo 1. produto cultural expandido 2. Convergência 3. Cultura 4. Tecnologia 5. Introdução Embora estejamos vivendo num acelerado contexto de mudanças tecnológicas, é preciso estar atento para não cairmos no pensamento eventual do determinismo tecnológico. Raymond Williams (2004) em seu clássico e atual livro Televison, rejeita qualquer forma de determinismo tecnológico. -

O Apresentador Em Foco: a Cobertura Telejornalística Da Substituição De Fátima Bernardes Por Patrícia Poeta No Jornal Nacional 1
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 O apresentador em foco: a cobertura telejornalística da substituição de Fátima Bernardes por Patrícia Poeta no Jornal Nacional 1 Lucas Marinho MOURÃO2 Daniela OTA3 Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS. RESUMO Esta análise trata da cobertura feita pela Rede Globo, sobre a substituição de Fátima Bernardes por Patrícia Poeta na apresentação do Jornal Nacional. A substituição ocorreu em 06 de dezembro de 2011. Durante o período de 01 a 11 de dezembro estudou-se as divulgações que foram feitas no Jornal Nacional, Fantástico e site Globo.com. O tempo de exposição total que o assunto teve na televisão, a quantidade de matérias jornalísticas sobre o assunto e maneira como foram exploradas levam a considerar que muito mais do que um mero profissional da informação, o apresentador de telejornal tem status de artista. Esse status é demonstrado por meio de referenciais teóricos e provado na atenção que a emissora deu a substituição de suas apresentadoras. PALAVRAS-CHAVE: Apresentador; Jornal Nacional; Fátima Bernardes; Patrícia Poeta Introdução: objetivo, metodologia e justificativa O âncora do telejornalismo brasileiro é visto como um artista, uma celebridade pela sociedade, pois são exibidos dessa forma pelas próprias emissoras de televisão. Os telejornais são identificados pelos jornalistas que os apresentam. Não é sem motivo que muitas emissoras pagam salários altíssimos pois estão sempre disputando seus profissionais com as concorrentes. Alguns apresentadores passam anos a frente de um telejornal e quando mudam de empresa migram seus admiradores também. -

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO JORNALISMO ROBERTA REIS SCHERER REPÓRTERES MULHERES E APRESENTADORAS DO JORNAL NACIONAL E O LUGAR DE FALA A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO: beleza, juventude e exclusão Porto Alegre 2017 ROBERTA REIS SCHERER REPÓRTERES MULHERES E APRESENTADORAS DO JORNAL NACIONAL E O LUGAR DE FALA A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO: beleza, juventude e exclusão Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado à Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do diploma de Bacharel em jornalismo. Orientador: Prof. Dr. Sean Hagen Porto Alegre 2017 ROBERTA REIS SCHERER REPÓRTERES MULHERES E APRESENTADORAS DO JORNAL NACIONAL E O LUGAR DE FALA A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO: beleza, juventude e exclusão Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado à Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do diploma de Bacharel em jornalismo. Orientador: Prof. Dr. Sean Hagen Aprovado em: BANCA EXAMINADORA: ________________________________________________ Prof.ª Dr. Sean Hagen –UFRGS Orientador ________________________________________________ Prof.ª Dr. ª Marcia Benetti Machado –UFRGS Examinadora ____________________________________________________ Prof. Dr. ª Aline do Amaral Garcia Strelow –UFRGS Examinadora AGRADECIMENTOS Esse trabalho de conclusão é a materialização de cinco anos de estudos e a prova de que grandes mudanças acontecem quando um mundo novo é apresentado a nós. Hoje eu não seria a mesma pessoa se não tivesse passado pelos bancos da Fabico. À Universidade, agradeço a oportunidade de desenvolvimento. Agradeço a minha mãe, Janaina Reis Scherer, por toda persistência, sem a coragem que ela demonstrou diante todas as dificuldades eu nunca teria sido capaz de entrar em uma Universidade Federal. -

João Gabriel Albani Ao Vivo Em São Paulo
JOÃO GABRIEL ALBANI AO VIVO EM SÃO PAULO: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS NAS TRANSMISSÕES DOS ATAQUES DO PCC Comunicação e Semiótica PUC/SP São Paulo 2007 JOÃO GABRIEL ALBANI AO VIVO EM SÃO PAULO: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS NAS TRANSMISSÕES DOS ATAQUES DO PCC Comunicação e Semiótica PUC/SP Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de MESTRE em Comunicação e Semiótica - Signo e Significação nas Mídias, sob a orientação do Prof. Doutor José Luiz Aidar Prado. São Paulo 2007 JOÃO GABRIEL ALBANI AO VIVO EM SÃO PAULO: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS NAS TRANSMISSÕES DOS ATAQUES DO PCC COMISSÃO EXAMINADORA _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ São Paulo, _____ de __________________ de 2007. Agradecimentos À minha família e em especial a minha mãe, à CAPES, pela ajuda financeira oferecida graças à bolsa, ao mestre Aidar pela paciência e disposição, aos colegas de curso pela companhia na caminhada, aos professores Arlindo, Laurindo e Ana Claudia de Oliveira. À professora Liliana Vidigal, pela colaboração inicial fundamental. Ao André, aos amigos e a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização deste projeto. RESUMO Esta pesquisa examina a produção de sentidos da transmissão direta nos telejornais da TV aberta em 15 de maio de 2005, por ocasião dos ataques do Primeiro Comando da Capital em São Paulo. Atualmente a televisão, principalmente nos telejornais, emprega o recurso da transmissão direta, em particular o "ao vivo". É relevante investigar como a transmissão direta é fundamental na constituição de um contrato comunicacional forte entre enunciador e enunciatário. -

Apresentadoras De Telejornal
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC – SP Flávia Renata Stawski APRESENTADORAS DE TELEJORNAL: A efigie da figura feminina no telejornalismo brasileiro contemporâneo, representada por Renata Vasconcellos, Raquel Sheherazade e Paloma Tocci Mestrado em Comunicação e Semiótica SÃO PAULO 2015 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC – SP Flávia Renata Stawski APRESENTADORAS DE TELEJORNAL: A efigie da figura feminina no telejornalismo brasileiro contemporâneo, representada por Renata Vasconcellos, Raquel Sheherazade e Paloma Tocci Mestrado em Comunicação e Semiótica Projeto de Pesquisa de Mestrado apresentado para o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PEPGCOS/PUC-SP). Área de concentração: Signo e significação nas mídias. Linha de pesquisa: Cultura e ambientes midiáticos. Orientador: Profa. Dra. Lúcia Santaella SÃO PAULO 2015 Banca Examinadora ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Felipe: o início, o fim e o meio. AGRADECIMENTOS Agradeço em primeiro lugar à Lúcia Santaella, que soube conduzir os meus anseios e trazer luz aos questionamentos cifrados que trazia comigo; ao CNPQ pelo apoio fundamental nesse momento de transição e descoberta do magistério como propósito de vida, também aos professores Dulcília Buitoni e Aidar Prado – pelo apoio e direcionamentos certeiros. Vera Rodrigues, Maria Cristina Poli e Marília Gabriela, que abertamente, e gentilmente, falaram de tabus que envolvem ser mulher nessa profissão, e de como transcenderam à câmera – mulheres fortes, inteligentes e engraçadas, sabendo que tudo ao mesmo tempo e agora, é impossível – mas seguem tentando. A minha família e amigos, aos que ajudaram, mas com especial apreço aos que não atrapalharam. E como não poderia deixar de ser, ao Charles Sanders Peirce, que através de suas classificações de signos, possibilitou não só o entendimento, mas também o encontro de tantas pessoas especiais, aqui, nesse momento. -

Notícias De Violência E Crime No Jornal Nacional: Do Medo Do Crime Ao Controle Da Ordem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA NOTÍCIAS DE VIOLÊNCIA E CRIME NO JORNAL NACIONAL: DO MEDO DO CRIME AO CONTROLE DA ORDEM DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Ana Carolina Cademartori Santa Maria, RS, Brasil 2012 NOTÍCIAS DE VIOLÊNCIA E CRIME NO JORNAL NACIONAL: DO MEDO DO CRIME AO CONTROLE DA ORDEM Ana Carolina Cademartori Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Área de Concentração em Psicologia da Saúde, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Psicologia. Orientadora: Profª. Drª Adriane Roso Santa Maria, RS, Brasil 2012 Ficha catalográfica elaborada através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Central da UFSM, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a). Cademartori, Ana Carolina Notícias de violência e crime no Jornal Nacional: Do medo do crime ao controle da ordem / Ana Carolina Cademartori.-2012. 135 p.; 30cm Orientadora: Adriane Roso Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Sociais e Humanas, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, RS, 2012 1. Psicologia Social Crítica 2. Violência 3. Crime 4. Jornal Nacional 5. Análise de Discurso Francesa I. Roso, Adriane II. Título. Universidade Federal de Santa Maria Centro de Ciências Sociais e Humanas Programa de Pós-Graduação em Psicologia A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a dissertação de mestrado NOTÍCIAS DE VIOLÊNCIA E CRIME NO JORNAL NACIONAL: DO MEDO DO CRIME AO CONTROLE DA ORDEM elaborada por Ana Carolina Cademartori como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Psicologia COMISSÃO EXAMINADORA: Adriane Roso, Drª (Presidente/Orientadora) Neuza Maria de Fátima Guareschi, Drª (UFRGS) Dorian Mônica Arpini, Drª (UFSM) Santa Maria, 26 de março de 2012. -

Edição No Jornal Nacional E Jornal Da Record: Uma Análise Comparativa a Partir Dos Critérios De Noticiabilidade Dos Telejornais De Rede
Wander Veroni Maia Edição no Jornal Nacional e Jornal da Record: Uma análise comparativa a partir dos critérios de noticiabilidade dos telejornais de rede Belo Horizonte 2007 2 Índice Introdução9 1 Televisão e telejornalismo 13 1.1 Padrão de telejornalismo – Modelo Americano. 15 1.2 Telejornalismo de Rede no Brasil......... 18 1.3 TV Globo..................... 19 1.3.1 Jornal Nacional - JN........... 22 1.4 TV Record.................... 24 1.4.1 Jornal da Record - JR........... 25 2 O relato midiático 29 2.1 (Re) Construção social da realidade através do re- lato midiático................... 30 2.1.1 Processo de espetacularização...... 33 2.2 Formato e padrão editorial............ 35 2.2.1 Produção de notícias........... 37 2.2.2 Edição de notícias............ 41 3 Telejornais em análise 45 3.1 Categorias de análise............... 47 3.2 Papel dos enunciadores.............. 48 3.3 Postura editorial.................. 51 3.4 Prioridades dos telejornais............ 56 3.5 Relação texto e imagem.............. 59 3.6 Critérios de noticiabilidade............ 60 3 Considerações finais 65 Referências bibliográficas 69 Anexos 73 Monografia apresentada como pré-requisito para a conclusão do curso de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo, do Departamento de Ciência da Comunicação - DCC, do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH. Orientação: Angela Moura. Agradecimentos Aos familiares, amigos, professores e jornalistas que me aju- daram, seja com conselhos, textos e conversas informais, a cons- truir este trabalho. Obrigado por fazerem parte da minha vida e, principalmente, pela troca constante de experiências pessoais e profissionais. À minha família, em especial ao meu pai, Vander Lúcio Maia de Jesus, e à minha mãe, Maria Cristina da Silva Maia, que sem- pre me apóiam e me incentivam a buscar novos horizontes.