Diversidade De Liquens Em Leguminosas Da Reserva
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bibliography and Checklist of Foliicolous Lichenized Fungi up to 1992
93 Tropical Bryology 7:93-148, 1993 Bibliography and checklist of foliicolous lichenized fungi up to 1992 Farkas, E. E. Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, H-2163, Hungary Sipman, H. J. M. Botanischer Garten und Botanisches Museum, Königin-Luise-Strasse 6-8, D- 14191 Berlin, Germany Abstract: Bibliographic records are presented of 324 scientific papers on foliicolous lichenized fungi published subsequent to Santesson’s survey of 1952. The 482 species presently known are listed in an alphabetical checklist, with references to important descriptions, keys and illustrations published by or after Santesson (1952), and an indication of the distribution. Also added are all synonyms used after 1952. Introductory chapters deal with the present state of research on foliicolous lichens and its history. The following new combination is proposed: Strigula smaragdula Fr. var. stellata (Nyl. & Cromb.)Farkas. Introduction In 1952 Santesson published a revision of list was far from complete. Moreover, the yearly the taxonomy of the obligately foliicolous liche- output of publications on the subject was increa- nized fungi, which included a survey of all sing rapidly, so that an updated version of the known taxa and of all relevant literature until bibliography and a checklist seemed necessary. that time. Since then, a large amount of new In this joint account, E. F. has contributed information on taxonomy, distribution, and to a most of the introduction, the bibliography and lesser extent ecology, has been published. This the list of new taxa after 1952 with literature information is contained in many papers in vari- citations, H. S. -

Foliicolous Lichens and Their Lichenicolous Fungi Collected During the Smithsonian International Cryptogamic Expedition to Guyana 1996
45 Tropical Bryology 15: 45-76, 1998 Foliicolous lichens and their lichenicolous fungi collected during the Smithsonian International Cryptogamic Expedition to Guyana 1996 Robert Lücking Lehrstuhl für Pflanzensystematik, Universität Bayreuth, D-95447 Bayreuth, Germany Abstract: A total of 233 foliicolous lichen species and 18 lichenicolous fungi are reported from Guyana as a result of the Smithsonian „International Cryptogamic Expedition to Guyana“ 1996. Three lichens and two lichenicolous fungi are new to science: Arthonia grubei sp.n., Badimia subelegans sp.n., Calopadia pauciseptata sp.n., Opegrapha matzeri sp.n. (lichenicolous on Amazonomyces sprucei), and Pyrenidium santessonii sp.n. (lichenicolous on Bacidia psychotriae). The new combination Strigula janeirensis (Bas.: Phylloporina janeirensis; syn.: Raciborskiella janeirensis) is proposed. Apart from Amazonomyces sprucei and Bacidia psychotriae, Arthonia lecythidicola (with the lichenicolous A. pseudopegraphina) and Byssolecania deplanata (with the lichenicolous Opegrapha cf. kalbii) are reported as new hosts for lichenicolous fungi. Arthonia pseudopegraphina growing on A. lecythidicola is the first known case of adelphoparasitism at generic level in foliicolous Arthonia. Arthonia flavoverrucosa, Badimia polillensis, and Byssoloma vezdanum are new records for the Neotropics, and 115 species are new for Guyana, resulting in a total of c. 280 genuine foliicolous species reported for that country, while Porina applanata and P. verruculosa are excluded from its flora. The foliicolous lichen flora of Guyana is representative for the Guianas (Guyana, Suriname, French Guiana) and has great affinities with the Amazon region, while the degree of endemism is low. A characteristic species for this area is Amazonomyces sprucei. Species composition is typical of Neotropical lowland to submontane humid forests, with a dominance of the genera Porina, Strigula, and Mazosia. -
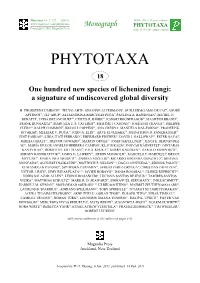
One Hundred New Species of Lichenized Fungi: a Signature of Undiscovered Global Diversity
Phytotaxa 18: 1–127 (2011) ISSN 1179-3155 (print edition) www.mapress.com/phytotaxa/ Monograph PHYTOTAXA Copyright © 2011 Magnolia Press ISSN 1179-3163 (online edition) PHYTOTAXA 18 One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity H. THORSTEN LUMBSCH1*, TEUVO AHTI2, SUSANNE ALTERMANN3, GUILLERMO AMO DE PAZ4, ANDRÉ APTROOT5, ULF ARUP6, ALEJANDRINA BÁRCENAS PEÑA7, PAULINA A. BAWINGAN8, MICHEL N. BENATTI9, LUISA BETANCOURT10, CURTIS R. BJÖRK11, KANSRI BOONPRAGOB12, MAARTEN BRAND13, FRANK BUNGARTZ14, MARCELA E. S. CÁCERES15, MEHTMET CANDAN16, JOSÉ LUIS CHAVES17, PHILIPPE CLERC18, RALPH COMMON19, BRIAN J. COPPINS20, ANA CRESPO4, MANUELA DAL-FORNO21, PRADEEP K. DIVAKAR4, MELIZAR V. DUYA22, JOHN A. ELIX23, ARVE ELVEBAKK24, JOHNATHON D. FANKHAUSER25, EDIT FARKAS26, LIDIA ITATÍ FERRARO27, EBERHARD FISCHER28, DAVID J. GALLOWAY29, ESTER GAYA30, MIREIA GIRALT31, TREVOR GOWARD32, MARTIN GRUBE33, JOSEF HAFELLNER33, JESÚS E. HERNÁNDEZ M.34, MARÍA DE LOS ANGELES HERRERA CAMPOS7, KLAUS KALB35, INGVAR KÄRNEFELT6, GINTARAS KANTVILAS36, DOROTHEE KILLMANN28, PAUL KIRIKA37, KERRY KNUDSEN38, HARALD KOMPOSCH39, SERGEY KONDRATYUK40, JAMES D. LAWREY21, ARMIN MANGOLD41, MARCELO P. MARCELLI9, BRUCE MCCUNE42, MARIA INES MESSUTI43, ANDREA MICHLIG27, RICARDO MIRANDA GONZÁLEZ7, BIBIANA MONCADA10, ALIFERETI NAIKATINI44, MATTHEW P. NELSEN1, 45, DAG O. ØVSTEDAL46, ZDENEK PALICE47, KHWANRUAN PAPONG48, SITTIPORN PARNMEN12, SERGIO PÉREZ-ORTEGA4, CHRISTIAN PRINTZEN49, VÍCTOR J. RICO4, EIMY RIVAS PLATA1, 50, JAVIER ROBAYO51, DANIA ROSABAL52, ULRIKE RUPRECHT53, NORIS SALAZAR ALLEN54, LEOPOLDO SANCHO4, LUCIANA SANTOS DE JESUS15, TAMIRES SANTOS VIEIRA15, MATTHIAS SCHULTZ55, MARK R. D. SEAWARD56, EMMANUËL SÉRUSIAUX57, IMKE SCHMITT58, HARRIE J. M. SIPMAN59, MOHAMMAD SOHRABI 2, 60, ULRIK SØCHTING61, MAJBRIT ZEUTHEN SØGAARD61, LAURENS B. SPARRIUS62, ADRIANO SPIELMANN63, TOBY SPRIBILLE33, JUTARAT SUTJARITTURAKAN64, ACHRA THAMMATHAWORN65, ARNE THELL6, GÖRAN THOR66, HOLGER THÜS67, EINAR TIMDAL68, CAMILLE TRUONG18, ROMAN TÜRK69, LOENGRIN UMAÑA TENORIO17, DALIP K. -

A Review of Lichenology in Saint Lucia Including a Lichen Checklist
A REVIEW OF LICHENOLOGY IN SAINT LUCIA INCLUDING A LICHEN CHECKLIST HOWARD F. FOX1 AND MARIA L. CULLEN2 Abstract. The lichenological history of Saint Lucia is reviewed from published literature and catalogues of herbarium specimens. 238 lichens and 2 lichenicolous fungi are reported. Of these 145 species are known only from single localities in Saint Lucia. Important her- barium collections were made by Alexander Evans, Henry and Frederick Imshaug, Dag Øvstedal, Emmanuël Sérusiaux and the authors. Soufrière is the most surveyed botanical district for lichens. Keywords. Lichenology, Caribbean islands, tropical forest lichens, history of botany, Saint Lucia Saint Lucia is located at 14˚N and 61˚W in the Lesser had related that there were 693 collections by Imshaug from Antillean archipelago, which stretches from Anguilla in the Saint Lucia and that these specimens were catalogued online north to Grenada and Barbados in the south. The Caribbean (Johnson et al. 2005). An excursion was made by the authors Sea lies to the west and the Atlantic Ocean is to the east. The in April and May 2007 to collect and study lichens in Saint island has a land area of 616 km² (238 square miles). Lucia. The unpublished Imshaug field notebook referring to This paper presents a comprehensive checklist of lichens in the Saint Lucia expedition of 1963 was transcribed on a visit Saint Lucia, using new records, unpublished data, herbarium to MSC in September 2007. Loans of herbarium specimens specimens, online resources and published records. When were obtained for study from BG, MICH and MSC. These our study began in March 2007, Feuerer (2005) indicated 2 voucher specimens collected by Evans, Imshaug, Øvstedal species from Saint Lucia and Imshaug (1957) had reported 3 and the authors were examined with a stereoscope and a species. -

Facultative Parasitism and Reproductive Strategies in Chroodiscus (Ascomycota, Ostrapales)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Stapfia Jahr/Year: 2002 Band/Volume: 0080 Autor(en)/Author(s): Lücking Robert, Grube Martin Artikel/Article: Facultative parasitism and reproductive strategies in Chroodiscus (Ascomycota, Ostrapales). 267-292 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Stapfia 80 267-292 5.7.2002 Facultative parasitism and reproductive strategies in Chroodiscus (Ascomycota, Ostropales) R. LUCKING & M. GRUBE Abstract: LUCKING R. & M. GRUBE (2002): Facultative parasitism and reproductive strategies in Chroodiscus (Ascomycota, Ostropales). — Stapfia 80: 267-292. Facultative parasitism in foliicolous species of Chroodiscus was investigated using epifluo- rescence microscopy and the evolution of biological features within members of the genus was studied using a phenotype-based phylogenetic approach. Facultative parasitism occurs in at least five taxa, all on species of Porina, and a quantitative approach to this phenomenon was possible in the two most abundant taxa, C. australiensis and C. coccineus. Both show a high degree of host specificity: C. australiensis on Porina mirabilis and C. coccineus on P. subepiphylla. Parasitic specimens are significantly more frequent in C. australiensis, and this species also shows a more aggressive behaviour towards its host. Cryptoparasitic specimens, in which host features are macroscopically inapparent, are also most frequent in C. australiensis. Facultative vs. obligate parasitism and corresponding photobiont switch are discussed as mechanisms potentially triggering the evolution of new lineages in species with trentepohlioid photobionts. C. parvisporus and C. rubentiicola are described as new to sci- ence. The terminology for the vegetative propagules of C. mirificus is discussed. Zusammenfassung: LUCKING R. -

Godere (Ethiopia), Budongo (Uganda) and Kakamega (Kenya)
EFFECTS OF ANTHROPOGENIC DISTURBANCE ON THE DIVERSITY OF FOLIICOLOUS LICHENS IN TROPICAL RAINFORESTS OF EAST AFRICA: GODERE (ETHIOPIA), BUDONGO (UGANDA) AND KAKAMEGA (KENYA) Dissertation Zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaft Fachbereich 3: Mathematik/Naturwissenschaften Universität Koblenz-Landau Vorgelegt am 23. Mai 2008 von Kumelachew Yeshitela geb. am 11. April 1965 in Äthiopien Referent: Prof. Dr. Eberhard Fischer Korreferent: Prof. Dr. Emanuël Sérusiaux In Memory of my late mother Bekelech Cheru i Table of Contents Abstract……………………………………………………………………………….......…...iii Chapter 1. GENERAL INTRODUCTION.................................................................................1 1.1 Tropical Rainforests .........................................................................................................1 1.2 Foliicolous lichens............................................................................................................5 1.3 Objectives .........................................................................................................................8 Chapter 2. GENERAL METHODOLOGY..............................................................................10 2.1 Foliicolous lichen sampling............................................................................................10 2.2 Foliicolous lichen identification.....................................................................................10 2.3 Data Analysis..................................................................................................................12 -

Revisão Nomenclatural E Taxonômica De Liquens Foliícolas E
ACla bol. bras. 13(2): 115-128. 1999 115 REVISÃO NOMENCLATURAL E TAXONÔMICA DE LIQUENS FOLIÍCOLAS E RESPECTIVOS FUNGOS LIQUENÍCOLAS REGISTRADOS PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL, POR BATISTA E COLABORADORES Robert Lücking1 Marcela E. da Silva Cáceres2 Leonor Costa Maia2 Recebido em 12/11/1998. Aceito em 07/04/1999 RESUMO - (Revisão nomenclatural e taxonômica de liquens foliícolas e respectivos fungos liquenícolas registrados para o Estado de Pernambuco, Brasil, por Batista e colaboradores). Foram revisadas as coleções de liquens foliícolas realizadas pelo micologista Augusto Chaves Batista e seus colaboradores no Estado de Pernambuco. O estudo foi desenvolvido em três partes: (I) compilação e revisão nomenclatural dos nomes aplicados por Batista et ai.; (2) revisão taxonômica dos espécimes determinados por Batista et ai. ; (3) identificação dos espécimes também presentes nas coleções, porém não registrados por Batista el ai. As coleções estudadas compreendem 474 exsicatas com I. 130 espécimes identificados por Batista e seu grupo, nas quais esses autores aplicaram 55 nomes genéricos e 159 nomes específicos. A revisão nomenclatural aqui apresentada demonstrou que esses correspondem a 36 nomes genéricos e 101 nomes específicos válidos, mais II nomina dubia. No entanto, a revisão taxonômica desses 1.130 espécimes revelou que apenas 37 espécies em 16 gêneros foram corretamente identificadas, enquanto que os demais nomes representam determinações incorretas. No presente estudo, foram identificados 1.670 espécimes adicionais que não haviam sido registrados por Batista et aI. Como resultado final da pesquisa, foram revisados 2.800 espécimes, os quais atualmente agrupam-se em 37 gêneros e 134 espécies de liquens foliícolas e/ou fungos liquenícolas. -

Download Vol. 53, No. 5, (Low Resolution, ~7
BULLETIN THE LICHENS OF DAGNY JOHNSON KEY LARGO HAMMOCK BOTANICAL STATE PARK, KEY LARGO, FLORIDA, USA Frederick Seavey, Jean Seavey, Jean Gagnon, John Guccion, Barry Kaminsky, John Pearson, Amy Podaril, and Bruce Randall Vol. 53, No. 5, pp. 201–268 February 27, 2017 ISSN 2373-9991 UNIVERSITY OF FLORIDA GAINESVILLE The FLORIDA MUSEUM OF NATURAL HISTORY is Florida’s state museum of natural history, dedicated to understanding, preserving, and interpreting biological diversity and cultural heritage. The BULLETIN OF THE FLORIDA MUSEUM OF NATURAL HISTORY is an on-line, open-ac- cess, peer-reviewed journal that publishes results of original research in zoology, botany, paleontology, archaeology, and museum science. New issues of the Bulletin are published at irregular intervals, and volumes are not necessarily completed in any one year. Volumes contain between 150 and 300 pages, sometimes more. The number of papers contained in each volume varies, depending upon the number of pages in each paper, but four numbers is the current standard. Multi-author issues of related papers have been published together, and inquiries about putting together such isues are welcomed. Address all inqui- ries to the Editor of the Bulletin. Cover image: Phaeographis radiata sp. nov.; image taken by Jean Seavey (see p. 230) Richard C. Hulbert Jr., Editor Bulletin Committee Ann S. Cordell Richard C. Hulbert Jr. Jacqueline Miller Larry M. Page David W. Steadman Roger W. Portell, Treasurer David L. Reed, Ex officio Membe ISSN: 2373-9991 Copyright © 2017 by the Florida Museum of Natural History, University of Florida. All rights reserved. Text, images and other media are for nonprofit, educational, and personal use of students, scholars, and the public. -

Lichens of the Golfo Dulce Region.Pdf
Natural and Cultural History of the Golfo Dulce Region, Costa Rica Historia natural y cultural de la región del Golfo Dulce, Costa Rica Anton WEISSENHOFER , Werner HUBER , Veronika MAYER , Susanne PAMPERL , Anton WEBER , Gerhard AUBRECHT (scientific editors) Impressum Katalog / Publication: Stapfia 88 , Zugleich Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseen N.S. 80 ISSN: 0252-192X ISBN: 978-3-85474-195-4 Erscheinungsdatum / Date of deliVerY: 9. Oktober 2008 Medieninhaber und Herausgeber / CopYright: Land Oberösterreich, Oberösterreichische Landesmuseen, Museumstr.14, A-4020 LinZ Direktion: Mag. Dr. Peter Assmann Leitung BiologieZentrum: Dr. Gerhard Aubrecht Url: http://WWW.biologieZentrum.at E-Mail: [email protected] In Kooperation mit dem Verein Zur Förderung der Tropenstation La Gamba (WWW.lagamba.at). Wissenschaftliche Redaktion / Scientific editors: Anton Weissenhofer, Werner Huber, Veronika MaYer, Susanne Pamperl, Anton Weber, Gerhard Aubrecht Redaktionsassistent / Assistant editor: FritZ Gusenleitner LaYout, Druckorganisation / LaYout, printing organisation: EVa Rührnößl Druck / Printing: Plöchl-Druck, Werndlstraße 2, 4240 Freistadt, Austria Bestellung / Ordering: http://WWW.biologieZentrum.at/biophp/de/stapfia.php oder / or [email protected] Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschütZt. Jede VerWertung außerhalb der en - gen GrenZen des UrheberrechtsgesetZes ist ohne Zustimmung des Medieninhabers unZulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für VerVielfältigungen, ÜbersetZungen, MikroVerfilmungen soWie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen SYstemen. Für den Inhalt der Abhandlungen sind die Verfasser Verant - Wortlich. Schriftentausch erWünscht! All rights reserVed. No part of this publication maY be reproduced or transmitted in anY form or bY anY me - ans Without prior permission from the publisher. We are interested in an eXchange of publications. Umschlagfoto / CoVer: Blattschneiderameisen. Photo: AleXander Schneider. -

High-Level Classification of the Fungi and a Tool for Evolutionary Ecological Analyses
Fungal Diversity (2018) 90:135–159 https://doi.org/10.1007/s13225-018-0401-0 (0123456789().,-volV)(0123456789().,-volV) High-level classification of the Fungi and a tool for evolutionary ecological analyses 1,2,3 4 1,2 3,5 Leho Tedersoo • Santiago Sa´nchez-Ramı´rez • Urmas Ko˜ ljalg • Mohammad Bahram • 6 6,7 8 5 1 Markus Do¨ ring • Dmitry Schigel • Tom May • Martin Ryberg • Kessy Abarenkov Received: 22 February 2018 / Accepted: 1 May 2018 / Published online: 16 May 2018 Ó The Author(s) 2018 Abstract High-throughput sequencing studies generate vast amounts of taxonomic data. Evolutionary ecological hypotheses of the recovered taxa and Species Hypotheses are difficult to test due to problems with alignments and the lack of a phylogenetic backbone. We propose an updated phylum- and class-level fungal classification accounting for monophyly and divergence time so that the main taxonomic ranks are more informative. Based on phylogenies and divergence time estimates, we adopt phylum rank to Aphelidiomycota, Basidiobolomycota, Calcarisporiellomycota, Glomeromycota, Entomoph- thoromycota, Entorrhizomycota, Kickxellomycota, Monoblepharomycota, Mortierellomycota and Olpidiomycota. We accept nine subkingdoms to accommodate these 18 phyla. We consider the kingdom Nucleariae (phyla Nuclearida and Fonticulida) as a sister group to the Fungi. We also introduce a perl script and a newick-formatted classification backbone for assigning Species Hypotheses into a hierarchical taxonomic framework, using this or any other classification system. We provide an example -

The Field Museum 2001 Annual Report to the Board Of
THE FIELD MUSEUM 2001 ANNUAL REPORT TO THE BOARD OF TRUSTEES ACADEMIC AFFAIRS Office of Academic Affairs, The Field Museum 1400 South Lake Shore Drive Chicago, IL 60605-2496 USA Phone (312) 665-7811 Fax (312) 665-7806 WWW address: http://www.fmnh.org - This Report Printed on Recycled Paper - Revised June 2002 -1- CONTENTS 2001 Annual Report................................................................................................................................................... 3 Collections and Research Committee.................................................................................................................... 15 Academic Affairs Staff List..................................................................................................................................... 16 Publications, 2001 .................................................................................................................................................... 21 Active Grants, 2001.................................................................................................................................................. 40 Conferences, Symposia and Invited Lectures, 2001 ............................................................................................ 48 Museum and Public Service, 2001 ......................................................................................................................... 57 Professional Travel, 2001 ....................................................................................................................................... -

Biodiversity Assessment of Ascomycetes Inhabiting Lobariella
© 2019 W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences Plant and Fungal Systematics 64(2): 283–344, 2019 ISSN 2544-7459 (print) DOI: 10.2478/pfs-2019-0022 ISSN 2657-5000 (online) Biodiversity assessment of ascomycetes inhabiting Lobariella lichens in Andean cloud forests led to one new family, three new genera and 13 new species of lichenicolous fungi Adam Flakus1*, Javier Etayo2, Jolanta Miadlikowska3, François Lutzoni3, Martin Kukwa4, Natalia Matura1 & Pamela Rodriguez-Flakus5* Abstract. Neotropical mountain forests are characterized by having hyperdiverse and Article info unusual fungi inhabiting lichens. The great majority of these lichenicolous fungi (i.e., detect- Received: 4 Nov. 2019 able by light microscopy) remain undescribed and their phylogenetic relationships are Revision received: 14 Nov. 2019 mostly unknown. This study focuses on lichenicolous fungi inhabiting the genus Lobariella Accepted: 16 Nov. 2019 (Peltigerales), one of the most important lichen hosts in the Andean cloud forests. Based Published: 2 Dec. 2019 on molecular and morphological data, three new genera are introduced: Lawreyella gen. Associate Editor nov. (Cordieritidaceae, for Unguiculariopsis lobariella), Neobaryopsis gen. nov. (Cordy- Paul Diederich cipitaceae), and Pseudodidymocyrtis gen. nov. (Didymosphaeriaceae). Nine additional new species are described (Abrothallus subhalei sp. nov., Atronectria lobariellae sp. nov., Corticifraga microspora sp. nov., Epithamnolia rugosopycnidiata sp. nov., Lichenotubeufia cryptica sp. nov., Neobaryopsis andensis sp. nov., Pseudodidymocyrtis lobariellae sp. nov., Rhagadostomella hypolobariella sp. nov., and Xylaria lichenicola sp. nov.). Phylogenetic placements of 13 lichenicolous species are reported here for Abrothallus, Arthonia, Glo- bonectria, Lawreyella, Monodictys, Neobaryopsis, Pseudodidymocyrtis, Sclerococcum, Trichonectria and Xylaria. The name Sclerococcum ricasoliae comb. nov. is reestablished for the neotropical populations formerly named S.