Africana Studia Nº34 V3.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Beckford Já Saiu Da Costa Rica
QUINTA-FEIRA 7 MAIO 2015 Diretor José Manuel Ribeiro Ano 31, n.º 75 f facebook.com/diariodesportivo.ojogo www.ojogo.pt 30 ANOS Diretor adjuntoadjunto JorgeJoJorgrge Maia 0,90€0,9 IVA Inc. t twitter.com/ojogo TreinadorTrein do médio pretendido pelo Sporting garante que elee já está no estrangeiro “a fazer exames médicos” Beckford já saiu da OJOGO Costa Rica “É“ muito forte tecnicamente,tecnicaam veloz, e “ podep fazer a diferençaça na meia-distância” Sarr e Sacko vão EMPRESÁRIO ser emprestados JÁ COMUNICOU CasoC Cardinal: AO BARCELONA ttestemunha-chave ttrama Cristóvão QUE O EXTREMO P11-13 NÃO DESEJA REGRESSAR A CAMP NOU Espanhol já treina BENFICA a 100% TELLO P4-6 JOVIC PODE DE VOLTA ASSINAR E FICAR EM BELGRADO Prioridade das águias é amarrar o jogador já, mesmo emprestando-o um ano P8-10 BARCELONA-BAYERN 3-0 Messi deixou PARA FICAR Guardiola KO Dois golões em três minutos derrubaram os alemães P2-3 José Maria Orobitg: “Disse-mo mais do que uma vez: quer jogar no FC Porto” ENTREVISTA Extremo do Braga passou a ser o futebolista em atividade com mais jogos na liga portuguesa P14-15 Alan: “Falta-me ganhar a Taça” f facebook.com/diariodesportivo.ojogo Quinta-feira, 7 maio 2015 2 GÉNIO DEt twitter.com/ojogoMESSIwww.ojogo.pt RESO BARCELONA 3 BAYERN 0 Estádio Camp Nou, em Barcelona FABULOSO O Barça tardava em Árbitro: Nicola Rizzoli (Itália) BARCELONA Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mascherano (Bartra 89’) e Jordi marcar, até que a Pulga abriu o Alba; Rakitic (Xavi 82’), Busquets e Iniesta (Rafinha 87’); Messi, Suárez e Neymar livro: marcou -
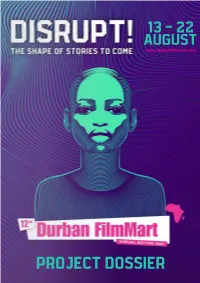
View the 2021 Project Dossier
www.durbanfilmmart.com Project Dossier Contents Message from the Chair 3 Combat de Nègre et de Chiens (Black Battle with Dogs) 50 introduction and Come Sunrise, We Shall Rule 52 welcome 4 Conversations with my Mother 54 Drummies 56 Partners and Sponsors 6 Forget Me Not 58 MENTORS 8 Frontier Mistress 60 Hamlet from the Slums 62 DFM Mentors 8 Professional Mourners 64 Talents Durban Mentors 10 Requiem of Ravel’s Boléro 66 Jumpstart Mentors 13 Sakan Lelmoghtrebat (A House For Expats) 68 OFFICAL DFM PROJECTS The Day and Night of Brahma 70 Documentaries 14 The Killing of A Beast 72 Defying Ashes 15 The Mailman, The Mantis, and The Moon 74 Doxandem, les chasseurs de rêves Pretty Hustle 76 (Dream Chasers) 17 Dusty & Stones 19 DFM Access 78 Eat Bitter 21 DFM Access Mentors 79 Ethel 23 PARTNER PROJECTS IN My Plastic Hair 25 FINANCE FORUM 80 Nzonzing 27 Hot Docs-Blue Ice Docs Part of the Pack 29 Fund Fellows 81 The Possessed Painter: In the Footsteps The Mother of All Lies 82 of Abbès Saladi 31 The Wall of Death 84 The Woman Who Poked The Leopard 33 What’s Eating My Mind 86 Time of Pandemics 35 Unfinished Journey 37 Talents Durban 88 Untitled: Miss Africa South 39 Feature Fiction: Bosryer (Bushrider) 89 Wataalat Loughatou él Kalami (Such a Silent Cry) 41 Rosa Baila! (Dance Rosa) 90 Windward 43 Kinafo 91 L’Aurore Boréale (The Northern Lights) 92 Fiction 45 The Path of Ruganzu Part 2 93 2065 46 Yvette 94 Akashinga 48 DURBAN FILMMART 1 PROJECT DOSSIER 2021 CONTENTS Short Fiction: Bedrock 129 Crisis 95 God’s Work 131 Mob Passion 96 Soweto on Fire 133 -

Último Encontro Antes Do Embate Com a Suécia
COMITIVA OFICIAL PROGRAMA DA SELEÇÃO NACIONAL SUB-21 10.11.2014 segunda-feira 11h30 Concentração dos jogadores Centro de Estágios de Rio Maior 11h30 Roda de Imprensa com um jogador Centro de Estágios de Rio Maior 16h00 Treino Centro de Estágios de Rio Maior 11.11.2014 terça-feira 10h00 ou 17h00 Treino Centro de Estágios de Rio Maior A definir Roda de Imprensa com um jogador Centro de Estágios de Rio Maior 12.11.2014 quarta-feira 14h05 Voo Lisboa/Manchester Voo TP 322 17h00 Chegada a Manchester Antes do Treino Roda de Imprensa com o Treinador Nacional, Rui Estádio Turf Moor, Burnley Jorge 19h45 Treino (Fechado – Aberto 15 minutos aos OCS) Estádio Turf Moor, Burnley 13.11.2014 quinta-feira 19h45 Jogo Inglaterra vs Portugal Estádio Turf Moor, Burnley Após o jogo Conferência de Imprensa com o Treinador Estádio Turf Moor, Burnley Nacional, Rui Jorge, e zona mista 14.11.2014 sexta-feira 10h45 Voo Manchester/Lisboa Voo TP 321 13h35 Chegada a Lisboa e partida para Rio Maior Antes do treino Roda de Imprensa com um jogador Centro de Estágios de Rio Maior 18h30 Treino Centro de Estágios de Rio Maior 15.11.2014 sábado 10h00 ou 17h00 Treino Centro de Estágios de Rio Maior A definir Roda de Imprensa com um jogador Centro de Estágios de Rio Maior 16.11.2014 domingo 10h00 ou 17h00 Treino Centro de Estágios de Rio Maior A definir Roda de Imprensa com um jogador Centro de Estágios de Rio Maior 17.11.2014 segunda-feira 10h00 Treino (a confirmar) Centro de Estágios de Rio Maior 17h00 Jogo-treino (a confirmar) Estádio Municipal de Rio Maior Após o jogo-treino Conferência de Imprensa com o Treinador Estádio Municipal de Rio Maior Nacional, Rui Jorge Notas: A hora das sessões de treino e das rodas de imprensa serão confirmadas nas vésperas das mesmas. -

Comunicado Oficial N.: 276 Data:11/12/2019
COMUNICADO OFICIAL N.: 276 DATA:11/12/2019 CONTABILIZAÇÃO DE CARTÕES AMARELOS Para conhecimento dos Sócios Ordinários, Clubes, Sociedades Desportivas e demais interessados, nos termos do disposto no artigo 170.º do Regulamento Disciplinar, publica-se, em anexo, a listagem dos cartões amarelos aplicados nas competições relevantes para esse efeito. No caso de ocorrer num jogo, a acumulação de um cartão amarelo com um cartão vermelho e sem prejuízo da sanção decorrente deste último, o cartão amarelo acumula para os efeitos do disposto no artigo 170.º, supramencionado. Pel’A Direção da FPF Contabilização de Cartões Amarelos LIGA REVELAÇÃO SUB 23 Jogador Clube Nr Cartões JEAN EMILE JUNIOR ONANA ONANA LEIXÕES SC, SAD 9 AURISIO SALIU FERNANDES EMBALO JUNIOR CD COVA PIEDADE, SAD 6 BERNARDO MARIA MORAIS CARDOSO VITAL ESTORIL PRAIA, SAD 6 FRANCISCO JORGE TAVARES OLIVEIRA ESTORIL PRAIA, SAD 6 THIAGO HENRIQUE MORAES PORTIMONENSE, SAD 6 RONALDO CAMARA SL BENFICA, SAD 6 TOMAS COSTA SILVA SPORTING CP, SAD 6 DIOGO FILIPE EUSEBIO PAULO VITÓRIA SC, SAD 6 PEDRO JOSE MOURA DUARTE PINTO ACADÉMICA COIMBRA/OAF SDUQ 5 BRUNO MIGUEL ARAUJO MORAIS CD AVES, SAD 5 SHAFIU DAUDA CD FEIRENSE, SAD 5 SOPURUCHUKWU BRUNO ONYEMAECHI CD FEIRENSE, SAD 5 CARLOS ANDRES TOVAR GOMEZ MARÍTIMO MADEIRA, SAD 5 GONCALO ALEXANDRE SILVA DUARTE MARÍTIMO MADEIRA, SAD 5 NUNO GUILHERME SOUSA CORREIA MARÍTIMO MADEIRA, SAD 5 PEDRO HENRIQUE ROCHA PELAGIO MARÍTIMO MADEIRA, SAD 5 SERGIO ASSIS CAPITANGO FERNANDO SANTOS PORTIMONENSE, SAD 5 SAMUEL ALMEIDA COSTA SC BRAGA SAD 5 PEDRO LUIS MACHADO -

O Semba Angolano Pré-Independência (1961-1975): Relações Entre Música E Política
O SEMBA ANGOLANO PRÉ-INDEPENDÊNCIA (1961-1975): RELAÇÕES ENTRE MÚSICA E POLÍTICA Mateus Berger Kuschick [email protected] Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Resumo A presente comunicação é parte da pesquisa de doutorado em andamento, desenvolvida na área de música popular / etnomusicologia. O semba, estilo musical erigido a símbolo nacional de Angola a partir dos anos 60 do séc.XX, é o principal objeto do estudo: desde sua formação, os principais artistas, as canções mais representativas, o apelo popular, até a busca por elementos musicais recorrentes que lhe diferencie de outros estilos de música popular. Apresentaremos uma revisão fonográfica das principais coletâneas publicadas sobre semba, bem como trechos de entrevistas realizadas com sembistas de Angola e definições de diversos autores sobre o estilo musical em questão e seu percurso por terras angolanas principalmente a partir de 1947, com o grupo Ngola Ritmos, até 1975, ano da independência do país e de início de uma guerra civil que perdurou até 2002 com apoio de potências econômicas como EUA e URSS. Traremos constatações parciais sobre o semba em que apontaremos características referentes a aspectos como padrão rítmico, instrumentação, forma, harmonia, melodia, idioma, temática das letras, arranjo vocal e instrumental. Ainda, destacaremos o papel relevante da música no movimento pela independência angolana. Consideramos importante o estudo do semba angolano no contexto 893 acadêmico brasileiro para que possamos buscar pontos de contato entre as culturas musicais de Palavras-Chave: Semba, Angola, etnomusicologia. Abstract This communication is part of the doctoral research in progress, developed in the area of ethnomusicology / popular music. Semba, musical style national symbol of Angola , is the main object of study. -

MALAUENE Umn 0130E 22082.Pdf
A history of music and politics in Mozambique from the 1890s to the present A DISSERTATION SUBMITTED TO THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY DENISE MARIA MALAUENE IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUEREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY ALLEN F. ISAACMAN JANUARY 2021 Ó DENISE MARIA MALAUENE, 2021 Acknowledgements Nhi bongide ku womi ni vikelo Thank you for life and protection Nhi bongide gurula ni guhodza Thank you for peace and provision Nhi bongide gu nengela omo gu Thank you for happiness in times of tsanisegani suffering Nhi bongide Pfumu Thank you, God! Denise Malauene song titled “Nhi bongide Pfumu”1 Pfumu Nungungulu, nhi bongide ngudzu! (Thank you, God!) My children Eric Silvino Tale and Malik TSakane Malauene Waete: I thank you for your unconditional love, Support, and understanding aS many timeS I could not be with you nor could meet your needs because I waS studying or writing. Mom and dad Helena ZacariaS Pedro Garrine and João Malauene, nhi bongide ku SatSavbo. My Siblings Eduardo Malauene, GiSela Malauene, Guidjima Donaldo, CriStina AgneSS Raúl, DioníSio, Edson Malauene, ChelSea Malauene, Kevin Malauene, obrigada por tudo. I am grateful to my adviSor Allen IsSacman for the advice, guidance, and encouragement, particularly during the difficult timeS in my Ph.D. trajectory Somewhat affected by Several challengeS including CycloneS Idai, the armed instability in central and northern Mozambique, and Covid 19. Barbara’s and hiS support are greatly appreciated. I am grateful to ProfeSSor Helena Pohlandt-McCormick for her encouragement, guidance, and Support. Her contribution to the completion of my degree in claSSeS, reading groups, paper preSentations, grant applications, the completion of my prelimS, and Michael’s and her support are greatly appreciated. -

Sambas, Batuques E Sembas: Experiências Em Música Popular Em Brasil, Moçambique E Angola
XXV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – Vitória – 2015 Sambas, batuques e sembas: experiências em música popular em Brasil, Moçambique e Angola MODALIDADE: PAINEL Vilson Zattera UNICAMP – [email protected] Francisco de Assis Santana Mestrinel UNICAMP – [email protected] Mateus Berger Kuschick UNICAMP – [email protected] Matheus Serva Pereira UNICAMP – [email protected] Resumo: O painel busca aproximar três pesquisas que envolvem temáticas semelhantes sobre a música feita em Moçambique, Angola e em uma escola de samba do Brasil. Sambas, sembas e batuques serão abordados sob o olhar de pesquisadores de música e história, em períodos históricos diferentes, mas aproximados pela história comum de colonização portuguesa. A produção musical nos países em questão tem elos que o presente painel, ao reunir as pesquisas em andamento, apontará aproximações. Palavras-chave: Música popular. Samba brasileiro. Semba angolano. Batuques moçambicanos. Title of the Paper in English Abstract: The paper tries to approximate three studies involving similar issues on the music made in Mozambique, Angola and in a samba school in Brazil. Sambas, sembas and batuques will be addressed from the perspective of music researchers and researcher of history, at different times, but approximate the common history of Portuguese colonization. The musical production in the countries concerned has links that this paper aims to show. Keywords: Popular music. Brazilian samba. Angolan semba. Mozambican batuques. 1. Introdução geral Três pesquisas de doutorado em andamento na Universidade Estadual de Campinas compõem esse painel, sendo duas situadas na sub-área de Música e uma na sub- área de História. Todas têm como elemento central práticas musicais populares, os diferentes usos dessas práticas e suas representativas em países que passaram por experiências comuns no seu processo de formação nacional. -

Construção De Identidade Através Da Música Popular
Revista Sonora, 2019, vol. 8, nº 14 http://www.sonora.iar.unicamp.br ISSN 1809-1652 Brasil, Angola, Moçambique: construção de identidade através da música popular 1 Ricardo Vilas , Universidade Federal Fluminense E-mails: [email protected] Resumo Semba, MPB (e o Samba, que sempre será inserido, sem o estar totalmente), e Marrabenta são três gêneros musicais inseridos na circulação mundial de música popular. Essas músicas também, fazem parte de um universo cultural “lusófono”, tão intensa sempre foi a circulação de música e cultura entre os Palops e o Brasil. O artigo trata da relação entre música popular e política, e mostra como a música popular, ao trazer respostas a uma crise social , afirma e constrói identidades e pertencimentos. Palavras-chave: Música popular; Brasil-Angola-Moçambique; Construção de Identidade. Abstract Semba, MPB (and Samba, wich will Always be inserted without being totally) and Marrabenta are three musical genres inserted in the world popular music ciculation. These musics are also parto f a “lusophone” cuktural universe, so intebse has always been the circulation of music e=and cukture cetween the Palos and Brazil. The article delas with the relationship between music and politics, and shows how popular music, by bringing responses to a social crisis, affirms and builds identities and belongings. 1 Músico profissional, com 50 anos de carreira e 27 álbuns na sua discografia. É doutor em Antropologia, diploma em cotutela entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) - Paris. É mestre em Etnomusicologia pela Université de Paris 8 - Saint Denis. -

MASTER THESIS Research Master African Studies 2015-2017 Leiden University/African Studies Center
Photo Jay Garrido Jay Photo (E)motion of saudade The embodiment of solidarity in the Cuban medical cooperation in Mozambique MIRIAM ADELINA OCADIZ ARRIAGA MASTER THESIS Research Master African Studies 2015-2017 Leiden University/African Studies Center First supervisor: Dr. Mayke Kaag Second supervisor: Dr. Kei Otsuki E)motion of saudade. The embodiment of solidarity in the Cuban medical cooperation in Mozambique Miriam A. Ocadiz Arriaga Master Thesis Research Master African Studies 2015-2017 Leiden University/African Studies Center First supervisor: Dr. Mayke Kaag Second supervisor: Dr. Kei Otsuki To my little brother, and to all those who have realized that love is the essence of life, it’s what build bridges through the walls, it´s what shorten abysmal distances, it´s what restore the broken souls, it´s what cures the incurable, it´s what outwits the death Photo Alina Macias Rangel Macias Alina Photo To my little brother, and to all those who have realized that love is the essence of life, it’s what build bridges through the walls, it´s what shorten abysmal distances, it´s what restore the broken souls, it´s what cures the incurable, it´s what outwits the death Copyrights photo; Alina Macias Rangel Index (or the schedule of a journey) Acknowledgments 9 Abstract 13 Preface 15 List of Acronyms 16 1 Introduction. Two ports 17 Human faces 17 Cuban medical cooperation in Mozambique 20 Research question & rationale 23 Order of the thesis 24 2 Methodology. Mapping Nostalgia 27 Methods and methodology 28 Mozambique 30 Cuba 34 Reflection and ethical considerations 36 (Un)Limitations 39 3 Macro perspectives and background. -

Transferir Download
Revista Lusófona de Estudos Culturais / Lusophone Journal of Cultural Studies, vol. 6, n. 1, 2019, pp. 101 – 113 http://dx.doi.org/10.21814/rlec.382 Lusophony in the cinema Benalva da Silva Vitorio Abstract Dreaming and writing it, that was how I started this article in which the memories trans- ported me on a metaphorical journey into the world of the cinema to reflect about Migration and Lusophony, contemplating the intricate paths of the process of identity and otherness. With the methodological support of Autoethnography and the French School of Discourse Analysis, the discursive construction represents the immigrant’s life illustration starting from its origins. Also, as a symbolic object of analysis, the Luso-Brazilian movie Foreign land represents the interweav- ing between the Brazilians’ disillusion with the Collor Plan and the hope of the Lusophones in the Portugal border and the quest of realizing their dreams. Keywords Cinema; memory; migrations; Lusophony Lusofonia no cinema Resumo Sonhar e escrever. Assim, comecei este artigo, no qual as lembranças me transporta- ram em uma viagem metafórica ao mundo do cinema para refletir sobre Migração e Lusofonia, contemplando os intrincados caminhos do processo de identidade e alteridade. Com apoio me- todológico da Autoetnografia e da Análise de Discurso da Escola Francesa, a construção dis- cursiva representa desenho da vida de imigrantes tecida por fios de pertenças. Assim, o filme luso-brasileiro Terra estrangeira, como objeto simbólico de análise, representa o entrelaçamento entre o desencanto no Brasil do Plano Collor e a esperança de sujeitos fronteiriços em Portugal, lusófonos na busca da concretização de seus sonhos. -

Descarga El Informe (PDF)
CRIME E GLOBALIZAÇÃO DOCUMENTOS DE DEBATE MARÇO DE 2010 O impacto da ação das milícias em relação às políticas públicas de segurança no Rio de Janeiro TRANSNATIONAL INSTITUTE TNI Briefing Series Crime e Globalização, Março de 2010 1 O impacto da ação das milícias em relação às políticas públicas de segurança no Rio de Janeiro AUTORES: Índice Paulo Jorge Ribeiro Rosane Oliveira • Introdução: Insegurança humana 3 e mercados de violência TRADUÇÃO: Alexandra de Vries • O impacto da ação das milícias 6 EDITOR: em relação às políticas públicas Tom Blickman de segurança no Rio de Janeiro ESBOÇO: Quadro: Liga da Justiça 7 Guido Jelsma IMPRESSÃO: • Nota metodológica 7 Drukkerij PrimaveraQuint Amsterdam Mapa: Áreas sob controle de 8 milícias na capital fluminense APOIO FINANCEIRO: Ministry of Foreign Affairs (The Netherlands) • Delimitando questões 9 CONTATO: • Milícias, mercado da violência 11 Transnational Institute e poder local De Wittenstraat 25 1052 AK Amsterdam The Netherlands • Mudanças na perspectiva: da 13 Tel: -31-20-6626608 negação ao aceite das milícias Fax: -31-20-6757176 [email protected] • Visitando Gotham City 16 www.tni.org/crime • Considerações finais 19 Os conteúdos desse livreto podem ser cita- dos ou reproduzidos, desde que a fonte seja • Recomendações 22 mencionada.O TNI gostaria de receber uma cópia do documento no qual este livreto é Quadro: Principais 23 usado ou citado. recomendações da CPI Você pode manter-se informado sobre as publicações e atividades da TNI, assinando • Notes 24 o boletim eletrônico quinzenal. Faça seu pedido para [email protected] ou registre-se em • Bibliografia 27 www.tni.org Amsterdam, dezembro de 2009 • Anexo: Impressões sobre um 29 ISSN 1871-3408 fenômeno “estranho”: 2 Crime e Globalização, Março de 2010 Introdução: Insegurança humana e mercados de violência Introdução: Insegurança humana e mercados de violência Por Tom Blickman grar ilegalmente’ como meio de sobrevivência; adentram na economia informal não-regula- Este documento, escrito por Paulo Jorge mentada e as vezes na criminalidade, também. -

Notebook of Colonial Memories Isabela Figueiredo
luso-asio-afro-brazilian studies & theory 4 Notebook of Colonial Memories Isabela Figueiredo Translated by Anna M. Klobucka and Phillip Rothwell Notebook of Colonial Memories Publication supported by a Gregory Rabassa Translation Grant from the Luso-American Foundation Notebook of Colonial Memories Isabela Figueiredo Translated by Anna M. Klobucka and Phillip Rothwell luso-asio-afro-brazilian studies & theory 4 Editor Victor K. Mendes, University of Massachusetts Dartmouth Associate Editor Gina M. Reis, University of Massachusetts Dartmouth Editorial Board Hans Ulrich Gumbrecht, Stanford University Anna M. Klobucka, University of Massachusetts Dartmouth Pedro Meira Monteiro, Princeton University João Cezar de Castro Rocha, Universidade do Estado do Rio de Janeiro Phillip Rothwell, University of Oxford Miguel Tamen, Universidade de Lisboa Claire Williams, University of Oxford Cover design & typesetting Inês Sena, Lisbon Translation copyright © 2015 by Anna M. Klobucka and Phillip Rothwell Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Figueiredo, Isabela, 1963- [Caderno de memórias coloniais. English] Notebook of colonial memories / Isabela Figueiredo ; translated by Anna M. Klobucka and Phillip Rothwell. pages cm -- (Luso-Asio-Afro-Brazilian studies & theory ; 4) ISBN 978-0-9814580-3-8 1. Figueiredo, Isabela, 1963- 2. Portugal--Biography. I. Klobucka, Anna, 1961- II. Rothwell, Phillip, 1972- III. Title. CT1378.F54A3 2015 946.904’4092--dc23 [B] 2015008099 Table of Contents Introduction 7 Anna M. Klobucka and Phillip Rothwell Notebook of Colonial Memories 27 Introduction Anna M. Klobucka and Phillip Rothwell When Isabela Figueiredo’s Caderno de Memórias Coloniais (Notebook of Colonial Memories) was published in Portugal in late 2009, it was greeted by marked critical interest and popular acclaim.