QVAE SVNT CAESARIS CAESARI Commentarii De Bello Gallico
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1996 Njcl Certamen Round A1 (Revised)
1996 NJCL CERTAMEN ROUND A1 (REVISED) 1. Who immortalized the wife of Quintus Caecilius Metellus as Lesbia in his poetry? (GAIUS VALERIUS) CATULLUS What was probably the real name of Lesbia? CLODIA What orator fiercely attacked Clodia in his Pro Caelio? (MARCUS TULLIUS) CICERO 2. According to Hesiod, who was the first born of Cronus and Rhea? HESTIA Who was the second born? DEMETER Who was the fifth born? POSEIDON 3. Name the twin brothers who fought in their mother's womb. PROETUS & ACRISIUS Whom did Proetus marry? ANTIA (ANTEIA) (STHENEBOEA) With what hero did Antia fall in love? BELLEROPHON 4. Give the comparative and superlative forms of mult§ PLâRS, PLâRIM¦ ...of prÇ. PRIOR, PR¦MUS ...of hebes. HEBETIOR, HEBETISSIMUS 5. LegÇ means “I collect.” What does lectitÇ mean? (I) COLLECT OFTEN, EAGERLY Sitis means “thirst.” What does the verb sitiÇ mean? (I) AM THIRSTY / THIRST CantÇ means “I sing.” What does cantillÇ mean? (I) CHIRP, WARBLE, HUM, SING LOW 6. Differentiate in meaning between p~vÇ and paveÇ. P}VÆ -- PEACOCK PAVEÆ -- (I) FEAR, TREMBLE Differentiate in meaning between cavÇ and caveÇ. CAVÆ -- I HOLLOW OUT CAVEÆ -- I TAKE HEED, BEWARE Differentiate in meaning between modo (must pronounce with short “o”) and madeÇ. MODO -- ONLY, MERELY, BUT, JUST, IMMEDIATELY, PROVIDED THAT MADEÆ -- I AM WET, DRUNK Page 1 -- A1 7. What two words combine to form the Latin verb malÇ? MAGIS & VOLÆ What does malÇ mean? PREFER M~la is a contracted form of maxilla. What is a m~la? CHEEK, JAW 8. Which of the emperors of AD 193 executed the assassins of Commodus? DIDIUS JULIANUS How had Julianus gained imperial power? BOUGHT THE THRONE AT AN AUCTION (HELD BY THE PRAETORIANS) Whom had the Praetorians murdered after his reign of 87 days? PERTINAX 9. -

Oratio Recta and Oratio Obliqua in Caesar's De Bello
VOICES OF THE ENEMY: ORATIO RECTA AND ORATIO OBLIQUA IN CAESAR’S DE BELLO GALLICO by RANDY FIELDS (Under the Direction of James C. Anderson, jr.) ABSTRACT According to his contemporaries and critics, Julius Caesar was an eminent orator. Despite the lack of any extant orations written by Caesar, however, one may gain insight into Caesar’s rhetorical ability in his highly literary commentaries, especially the De Bello Gallico. Throughout this work, Caesar employs oratio obliqua (and less frequently oratio recta) to animate his characters and give them “voices.” Moreover, the individuals to whom he most frequently assigns such vivid speeches are his opponents. By endowing his adversaries in his Commentarii with the power of speech (with exquisite rhetorical form, no less), Caesar develops consistent characterizations throughout the work. Consequently, the portrait of self-assured, unification-minded Gauls emerges. Serving as foils to Caesar’s own character, these Gauls sharpen the contrast between themselves and Caesar and therefore serve to elevate Caesar’s status in the minds of his reader. INDEX WORDS: Caesar, rhetoric, oratory, De Bello Gallico, historiography, propaganda, opponent, oratio obliqua, oratio recta VOICES OF THE ENEMY: ORATIO RECTA AND ORATIO OBLIQUA IN CAESAR’S DE BELLO GALLICO by RANDY FIELDS B.S., Vanderbilt University, 1992 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF ARTS ATHENS, GEORGIA 2005 © 2005 Randy Fields All Rights Reserved VOICES OF THE ENEMY: ORATIO RECTA AND ORATIO OBLIQUA IN CAESAR’S DE BELLO GALLICO by RANDY FIELDS Major Professor: James C. -

The World's Measure: Caesar's Geographies of Gallia and Britannia in Their Contexts and As Evidence of His World Map
The World's Measure: Caesar's Geographies of Gallia and Britannia in their Contexts and as Evidence of his World Map Christopher B. Krebs American Journal of Philology, Volume 139, Number 1 (Whole Number 553), Spring 2018, pp. 93-122 (Article) Published by Johns Hopkins University Press DOI: https://doi.org/10.1353/ajp.2018.0003 For additional information about this article https://muse.jhu.edu/article/687618 Access provided at 25 Oct 2019 22:25 GMT from Stanford Libraries THE WORLD’S MEASURE: CAESAR’S GEOGRAPHIES OF GALLIA AND BRITANNIA IN THEIR CONTEXTS AND AS EVIDENCE OF HIS WORLD MAP CHRISTOPHER B. KREBS u Abstract: Caesar’s geographies of Gallia and Britannia as set out in the Bellum Gallicum differ in kind, the former being “descriptive” and much indebted to the techniques of Roman land surveying, the latter being “scientific” and informed by the methods of Greek geographers. This difference results from their different contexts: here imperialist, there “cartographic.” The geography of Britannia is ultimately part of Caesar’s (only passingly and late) attested great cartographic endeavor to measure “the world,” the beginning of which coincided with his second British expedition. To Tony Woodman, on the occasion of his retirement as Basil L. Gildersleeve Professor of Classics at the University of Virginia, in gratitude. IN ALEXANDRIA AT DINNER with Cleopatra, Caesar felt the sting of curiosity. He inquired of “the linen-wearing Acoreus” (linigerum . Acorea, Luc. 10.175), a learned priest of Isis, whether he would illuminate him on the lands and peoples, gods and customs of Egypt. Surely, Lucan has him add, there had never been “a visitor more capable of the world” than he (mundique capacior hospes, 10.183). -

2017 WJCL STATE CONVENTION ADVANCED DIVISION Round I
Advanced Prelims Round I 1 2017 WJCL STATE CONVENTION ADVANCED DIVISION Round I 1. During what king of Rome’s reign were a pig, sheep, and bull sacrificed together for the first time, signalling the end of the census? SERVIUS TULLIUS B1: What name is given to this particular sacrifice? SUOVETAURILIA B2: Of what wife of Tarquinius Priscus was Servius the protégé? TANAQUIL 2. Identify the type of conditional in the following sentence: Sī hanc sententiam sciam, maximē gaudeam. FUTURE LESS VIVID B1: Now translate that sentence. IF I SHOULD KNOW THIS SENTENCE/OPINION, I WOULD REJOICE (VERY) GREATLY/BE VERY GLAD B2: Make the sentence in the tossup present contrary to fact. SĪ HANC SENTENTIAM SCIREM, MAXIMĒ GAUDĒREM 3. Named but seldom called Asterius, what monster was the offspring of Pasiphae and a bull? MINOTAUR B1: The name Asterius is shared with the wife of what woman, the mother of Minos? EUROPA B2: Who was the father of Europe and Cadmus? AGENOR 4. Referring often to specific and individual magistrates and having a nationalistic theme, what type of fabulae are tragedies of Roman setting? FABULAE PRAETEXTAE B1: What type of fabulae, containing sung and spoken parts, are comedies of a Greek origin? FABULAE PALLIATAE B2: What type of fabulae were comedies of a Roman origin, which didn’t attack individuals or morals choices? FABULAE TOGATAE 5. Identify the literary device in the following line, excerpted from Book 2 of Vergil’s Aeneid: ascensū superō atque arrectīs auribus astō. ALLITERATION B1: Identify the literary device in the following line, excerpted from Book 1 of Ovid’s Metamorphoses: innumerīs tumidum Pythona sagittīs. -

2019 Stanford CERTAMEN ADVANCED LEVEL ROUND 1 TU
2019 Stanford CERTAMEN ADVANCED LEVEL ROUND 1 TU 1. Translate this sentence into English: Servābuntne nōs Rōmānī, sī Persae īrātī vēnerint? WILL THE ROMANS SAVE US IF THE ANGRY PERSIANS COME? B1: What kind of conditional is illustrated in that sentence? FUTURE MORE VIVID B2: Now translate this sentence into English: Haec nōn loquerēris nisi tam stultus essēs. YOU WOULD NOT SAY THESE THINGS IF YOU WERE NOT SO STUPID TU 2. What versatile author may be the originator of satire, but is more famous for writing fabulae praetextae, fabulae palliatae, and the Annales? (QUINTUS) ENNIUS B1: What silver age author remarked that Ennius had three hearts on account of his trilingualism? AULUS GELLIUS B2: Give one example either a fabula praetexta or a fabula palliata of Ennius. AMBRACIA, CAUPUNCULA, PANCRATIASTES TU 3. What modern slang word, deriving from the Latin word for “four,” is defined by the Urban Dictionary as “crew, posse, gang; an informal group of individuals with a common identity and a sense of solidarity”? SQUAD B1: What modern slang word, deriving from a Latin word meaning “bend”, means “subtly or not-so-subtly showing off your accomplishments or possessions”? FLEX B2: What modern slang word, deriving from a Latin word meaning “end” and defined by the Urban Dictionary as “a word that modern teens and preteens say even though they have absolutely no idea what it really means,” roughly means “getting around issues or problems in a slick or easy way”? FINESSE TU 4. Who elevated his son Diadumenianus to the rank of Caesar when he became emperor in 217 A.D.? MACRINUS B1: Where did Macrinus arrange for the assisination of Caracalla? CARRHAE/EDESSA B2: What was the name of the person who actually did the stabbing of Caracalla? JULIUS MARTIALIS TU 5. -

Acanthus, 212–213, 215, 218, 224, 288 Achilles, Shield Of, 148
index Acanthus, 212–213, 215, 218, Antony, Mark (Marcus Antonius, 224, 288 triumvir), 67, 163, 296 Achilles, shield of, 148 Apelles, 127, 205, 209 Actium, 67, 163, 168, 246, 256, 280 Aphrodisias, 34 Aeneas, 31, 113, 120, 140, 201–202 Aphrodite, 201, 216. See also shield of, 146–148 Venus Agricola, Gnaeus Julius, 151 Apollo, 67, 165, 256 Agrippa, Marcus Vipsanius, 20– temples of, 125, 162–165, 22, 24–25, 227, 291, 296 168, 285 Alberti, Leon Battista, 2 Aquitania, 143, 146 Alêtheia and to alêthes (truth and Ara maxima, rite of, 113–115, 120 the true), 57–58, 97 Architectura. See also Architecture Alexander the Great, 12, 18, 20, as the agent of squaring, 246 52–53, 73, 92–97, 127–129, as the art of the geometrical foot- 142, 205 print, 226 and Augustus, 120–124 as knowledge of the architect, 58, and Hercules, 98–100 100, 148, 299 Alexandria, 84, 94–96, 122, 124, as proof of conquest, 151 127, 137, 139, 149, 241 as summation of humanitas, Altars, 173–174, 182, 291 145–146, 152–154 ara maxima (altar of Hercules), summum templum of, 28–30, Rome, 113–115, 120 145–148, 301 Ara Pacis Augustae (altar of Au- tripartite whole of, 25, 300, 302 gustan peace), Rome, 213, Architecture. See also Architectura; 244–246 De architectura; Vitruvius Ambracia, 115 body of, 6, 9, 12, 57, 129, 227– Ammianus Marcellinus, 96 229, 236, 250, 270, 274, Amor, son of Venus, 209, 270 300–302 Amplification, 83 Christian, 174 Analemma, 137–138, 235, 245 and empire, 145–149, 193–195, Analogia, 26, 71–72, 195 279–280 Angelos (messenger), 11 factuality of, 186, 192 Anomalia, -

PDF of the Notes
Notes __________________________________ These notes aspire neither to completeness nor to the naming of the first respective orig- inator of a thought or a theory. Since this work is more a research report than an academic treatise, such aspirations would actually be neither required nor useful. However, should we have violated any rights of primogeniture, this did not happen intentionally and we hereby apologize beforehand, and promise to mend our ways. We also would like to express our gratitude in advance for any references, tips, or clues sent to us. For abbreviations of collected editions and lexicons, journals and serials, monographs and terms see Ziegler & Sontheimer (1979). For the Greek authors’ names and titles see Liddell & Scott (1996) and for the Latin ones Glare (1996). The Gospel texts translated into English were quoted on the basis of the King James Ver- sion of 1611. In some cases the Revised Standard Version of 1881 and the New American Bible of 1970 were relied on. These three translations often differ from each other considerably. Although they all, even the Catholic one, make use of the original languages rather than the Vulgate as a basis for translation, they have the tendency to read the text of the New Testament according to the current interpreta- tion and to amalgamate it with the Old, so that in critical points the newer transla- tions are overtly conflicting with the Greek original text, arbitrarily interpreting e. g. thalassa, properly ‘sea’, as lake, Christos, ‘Christ’, as Messiah, adapting the orthog- raphy of the proper names in the New Testament to those in the Old, e.g. -

21 Julio César
BIBLIOGRAFÍA COMPLETA Adcock, F.E. (2015 [1956]). Caesar as a Man of Letters. Cambridge. Alexander, M.C. (1999). Trials in the Late Roman Republic, 140 BC to 50 BC. Toronto. Arena, V. (2010). Libertas and the Practice of Politics in the Late Roman Republic. Cambridge. Armitage, D. (2017). Civil Wars. A History in Ideas. Nueva York. Badian, E. (1959). Caesar’s cursus and the intervals between offices. JRS 49, 81-89. Baehr, P. (1998). Caesar and the Fading of the Roman World. A Study in Republica- nism and Caesarism. New Brunswick. Barwick, K. (1951). Caesars Bellum Civile. Tendenz, Abfassungszeit und Stil. Leipzig. Batstone, WW. y Damon, C. (2006). Caesar’s Civil War. Oxford. Beard, M. (2009). El triunfo romano. Barcelona. - (2014). Laughter in Ancient Rome: On Joking, Tickling, and Cracking Up, Oakland. California. Benario, H.W. (2012). Caesar’s Gallic War: a Commentary. Norman. Benferhat, Y. (2005). Cives Epicurei. Les épicuriens et l’idée de monarchie à Rome et en Italie de Sylla à Octave. Bruselas. Berti, N. (1987). La guerra di Cesare contro Pompeo. Commento storico a Cassio Dione libro XLI. Milán. Boatwright, M.T. (1988-89). Caesar’s Second Consulship and the Completion and Date of the Bellum Civile. CJ 84, 31-40. Broughton, T.R.S. (1951-60). The Magistrates of the Roman Republic. Nueva York. Bruhns, H. (1978). Caesar und die römische Oberschicht in den Jahren 49-44 v. Chr. Gotinga. Brunt, P.A. (1971). Italian Manpower. Oxford. - (1986). Cicero’s Officium in the Civil War. JRS 76, 12-32. Cadiou, F. (2018). L’armée imaginaire. -

Les Ides De Mars Assassinat De César
Extrait de la publication Extrait de la publication Extrait de la publication Robert Etienne est professeur d'histoire romaine à l'université de Bordeaux III. Depuis sa thèse, consacrée au Culte impérial dans la péninsule ibérique d'Auguste à Dioclétien (1958), ses travaux ont porté sur divers secteurs de la romanité d'Occident fouilles de Conimbriga au Portugal, au Maroc (Le quartier nord-est de Volubilis, 1960), recherches sur l'Aquitaine (Bordeaux antique, 1962 participation à l'Histoire d'Aquitaine, 1972-1973). Il a, par ailleurs, publié La vie quotidienne à Pompéi (1966) et Le siècle d'Auguste (1970). Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous les pays, y compris l'U.R.S.S. © Éditions Gallimard/ Julliard, 1973. à la mémoire d'André Piganiol Extrait de la publication Extrait de la publication Extrait de la publication Chronologie césarienne 13 juillet 101 Naissance de Caius Iulius Caesar à Rome. 86 Mort de son père. Influence croissante de sa mère Aurelia et de la famille des Aurelii Cottae. 84 César revêt la toge prétexte et épouse Cossutia dont il divorce, et s'unit à Cor- nelia, fille de Cinna, consul IV qui meurt à la fin de l'année. 82-80 César s'exile volontairement en Orient, pendant la dictature de Sylla. 80 Il se distingue au siège de Mytilène. 80-78 Il lutte en Cilicie contre les pirates. 73 Il est coopté pontife. 77 Il décline les offres de Lépide, rebelle au Sénat, et perd le procès en concussion qu'il intente au conservateur Cornelius Dolabella. -

The Lives of the Caesars
The Lives of the Caesars Suetonius The Lives of the Caesars Table of Contents The Lives of the Caesars...........................................................................................................................................1 Suetonius........................................................................................................................................................2 The Lives of the Caesars, The Deified Julius................................................................................................3 The Lives of the Caesars—The Deified Augustus.......................................................................................23 The Lives of the Caesars—Tiberius.............................................................................................................53 The Lives of the Caesars: Caius Caligula....................................................................................................72 The Lives of the Caesars: Claudius..............................................................................................................89 The Lives of the Caesars: Nero..................................................................................................................105 The Lives of the Caesars: Galba................................................................................................................124 The Lives of the Caesars: Otho..................................................................................................................131 -
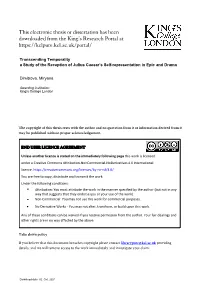
Julius Caesar in Shakespeare………………………………………………………
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Transcending Temporality a Study of the Reception of Julius Caesar’s Self-representation in Epic and Drama Dimitrova, Miryana Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 02. Oct. 2021 This electronic theses or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Title: Transcending Temporality – a Study of the Reception of Julius Caesar’s Self- representation in Epic and Drama Author: Miryana Dimitrova The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. -

Hudson Dissertation Final Version
UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title On the Way: a Poetics of Roman Transportation Permalink https://escholarship.org/uc/item/4rp2b2ws Author Hudson, Jared McCabe Publication Date 2013 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California On the Way: a Poetics of Roman Transportation by Jared McCabe Hudson A dissertation in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Classics in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Ellen Oliensis, chair Professor Maurizio Bettini Professor Dylan Sailor Professor Carlos Noreña Spring 2013 On the Way: a Poetics of Roman Transportation © 2013 by Jared McCabe Hudson Abstract On the Way: a Poetics of Roman Transportation By Jared McCabe Hudson Doctor of Philosophy in Classics University of California, Berkeley Professor Ellen Oliensis, Chair The first chapter examines the role played by the litter (lectica) and sedan chair (sella) in Roman literature and culture. The portrait of the wealthy freedman, lounging in his deluxe octaphoros (litter carried by eight imported slaves), is one which appears repeatedly, taking shape in the late Republic and reaching a climax of frequency in the satires of Juvenal and the epigrams of Martial, in the late first century CE. While by this stage the conveyance undeniably functions as a satirical symbol, the origins and constructedness of its role as such have been surprisingly under-examined by modern scholars. In order to excavate the litter’s developing identity, I first unravel Roman accounts of the vehicle’s origins.