Revista De Estudos Ibéricos
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
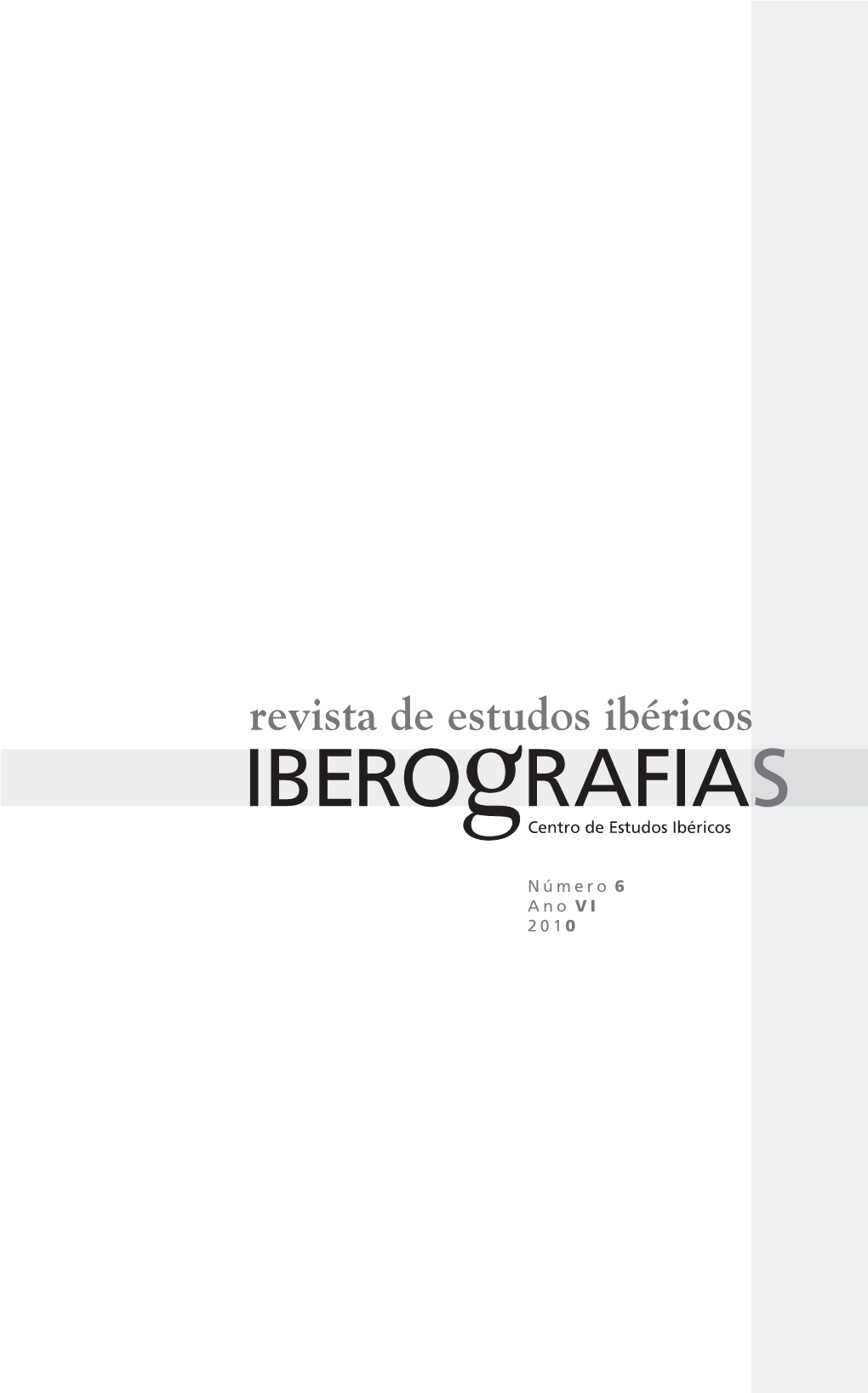
Load more
Recommended publications
-

The Language(S) of the Callaeci Eugenio R
e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies Volume 6 The Celts in the Iberian Peninsula Article 16 5-3-2006 The Language(s) of the Callaeci Eugenio R. Luján Martinez Dept. Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, Universidad Complutense de Madrid Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi Recommended Citation Luján Martinez, Eugenio R. (2006) "The Language(s) of the Callaeci," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6 , Article 16. Available at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi/vol6/iss1/16 This Article is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact open- [email protected]. The Language(s) of the Callaeci Eugenio R. Luján Martínez, Dept. Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, Universidad Complutense de Madrid Abstract Although there is no direct extant record of the language spoken by any of the peoples of ancient Callaecia, some linguistic information can be recovered through the analysis of the names (personal names, names of deities, ethnonyms, and place-names) that occur in Latin inscriptions and in ancient Greek and Latin sources. These names prove the presence of speakers of a Celtic language in this area, but there are also names of other origins. Keywords Onomastics, place-names, Palaeohispanic languages, epigraphy, historical linguistics 1. Introduction1 In this paper I will try to provide a general overview of the linguistic situation in ancient Callaecia by analyzing the linguistic evidence provided both by the literary and the epigraphic sources available in this westernmost area of continental Europe. -

Tomo I:Prehistoria, Romanización Y Germanización José Ramón Menéndez De Luarca Navia Osorio
LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO, MAPA HISTÓRICO DEL NOROESTE TOMO I:PREHISTORIA, ROMANIZACIÓN Y GERMANIZACIÓN JOSÉ RAMÓN MENÉNDEZ DE LUARCA NAVIA OSORIO LAS PRINCIPALES ETAPAS HISTÓRICAS EN LA TOPONIMIA CONSTRUCCIÓN DEL NOROESTE 1. PREHISTORIA .......................................................... 1 1. MEGALITISMO Y BRONCE LA ÉPOCA MEGALÍTICA ............................................. 1 TOPONIMIA MEGALÍTICA ......................................... 1 Los monumentos megalíticos ......................................... 1 Túmulos ........................................................................... 2 El dolmen como construcción ......................................... 3 Las bases agropecuarias de la cultura Los componentes pétreos ................................................ 4 megalítica ........................................................................ 6 Oquedades ....................................................................... 5 Oro y tesoros .................................................................... 7 ÉPOCA DE LOS METALES ........................................... 8 El cobre ............................................................................ 8 El bronce ......................................................................... 8 TOPONIMIA DE LOS ASENTAMIENTOS 2. ÉPOCA CASTREÑA ................................................. 10 CASTREÑOS .................................................................10 Génesis temporal de la cultura castreña ..................... 10 Toponimia indoeuropea -

De Episcopis Hispaniarum: Agents of Continuity in the Long Fifth Century
Université de Montréal De episcopis Hispaniarum: agents of continuity in the long fifth century accompagné de la prosopogaphie des évêques ibériques de 400–500 apr. J.-C., tirée de Purificación Ubric Rabaneda, “La Iglesia y los estados barbaros en la Hispania del siglo V (409–507), traduite par Fabian D. Zuk Département d’Histoire Faculté des Arts et Sciences Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade Maître ès Arts (M.A.) en histoire août 2015 © Fabian D. Zuk, 2015. ii Université de Montréal Faculté des etudes supérieures Ce mémoire intitule: De episcopis Hispaniarum: agents of continuity in the long fifth century présenté par Fabian D. Zuk A été évalué par un jury composé des personnes suivantes : Philippe Genequand, president–rapporteur Christian R. Raschle, directeur de recherche Gordon Blennemann, membre du jury iii In loving memory в пам'ять про бабусю of Ruby Zuk iv TABLE OF CONTENTS Résumé / Summary p. v A Note on Terminology p. vi Acknowledgements p. vii List of Figures p. ix Frequent ABBreviations p. x CHAPTER I : Introduction p. 1 CHAPTER II : Historical Context p. 23 CHAPTER III : The Origins of the Bishops p. 36 CHAPTER IV : Bishops as Spiritual Leaders p. 51 CHAPTER V : Bishops in the Secular Realm p. 64 CHAPTER VI : Regional Variation p. 89 CHAPTER VII : Bishops in the Face of Invasion : Conflict and Contenders p. 119 CHAPTER VIII : Retention of Romanitas p. 147 Annexe I: Prosopography of the IBerian Bishops 400–500 A.D. p. 161 Annexe II: Hydatius : An Exceptional Bishop at the End of the Earth p. -

Jorge DE ALARCAO
Grupo de Investigación HUM-236 http://www.arqueocordoba.com ACC 9 - 1998 - pp. 51 a 57 AINDA SOBRE A LOCALIZACÁO DOS POPULZ DO CONVENTUS BRACARA UGUSTANUS Jorge DE ALARCAO Apresentámos, há alguns anos (ALARCAO, 1988: 30-3 1; ALARCAO, 1990: 37 1- -372), a hipótese de a cidade de Bracara Augusta ter sido, na época de Augusto (e talvez até aos Flávios), náo propriamente uma capital de civitas, mas um centro ad- ministrativo que controlaria os diversos populi da regia0 que mais tarde (ou já desde a época de Augusto?) constituiria o conventus Bracaraugustanus. Augusto, que dividiu em civitates a zona a su1 do Douro, terá julgado ospopuli do Noroeste demasiadamente atrasados para lhes adaptar o mesmo tipo de organizaqáo político-administrativa. Assim, terá instalado, em cada populus, um princeps. Os diversos populi, Bracari, Coelerni, Limici, Seurbi, etc., teriam, cada um, seu príncipe. Todos eles estariam sujeitos 2 administraqao romana instalada em Bracara Augusto, chefiada por alguém cujo título ignoramos, pois nao há fonte literaria ou epigráfica que no-lo revele. A mesma organizaqáo terá sido adoptada nas áreas de Lugo e Astorga. A existencia destes príncipes náo está atestada epigraficamente em Portugal. Mas, do conventus Lucensis, temos Nicer, filho de Clutosius, princeps Albionum e Vecco, filho de Vecius, princeps Copororum (ALBERTOS FIRMAS, 1975: 32; cfr. ARIAS VILAS et alii, 1979: 60). Na época dos Flávios, os populi teriam sido convertidos em civitates (24 no conventus Bracaraugustanus, segundo Plínio, 3, 28). Isto nao significa necessariamente que os populi/civitates tivessem sido todos providos de aglomera- dos urbanos aos quais se possa aplicar com justeza o nome de cidades. -

Celtic Elements in Northwestern Spain in Pre-Roman Times," E-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol
e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies Volume 6 The Celts in the Iberian Peninsula Article 10 8-10-2005 Celtic Elements in Northwestern Spain in Pre- Roman times Marco V. Garcia Quintela Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente y Paisaje, Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, Universidade de Santiago de Compostela, associated unit of the Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Xunta de Galicia Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi Recommended Citation Quintela, Marco V. Garcia (2005) "Celtic Elements in Northwestern Spain in Pre-Roman times," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6 , Article 10. Available at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi/vol6/iss1/10 This Article is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact open- [email protected]. Celtic Elements in Northwestern Spain in Pre-Roman times Marco V. García Quintela Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente y Paisaje, Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, Universidade de Santiago de Compostela, associated unit of the Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Xunta de Galicia Abstract The aim of this article is to present a synthetic overview of the state of knowledge regarding the Celtic cultures in the northwestern Iberian Peninsula. It reviews the difficulties linked to the fact that linguists and archaeologists do not agree on this subject, and that the hegemonic view rejects the possibility that these populations can be considered Celtic. -

Forma E Narrativa- Uma Reflexao Sobre a Problemática Das Periodizaçoes Para a Escrita De Uma História Dos Celtas
FORMA E NARRATIVA- UMA REFLEXAO SOBRE A PROBLEMÁTICA DAS PERIODIZAÇOES PARA A ESCRITA DE UMA HISTÓRIA DOS CELTAS Dominique Vieira Coelho dos Santos80 RESUMO Este artigo apresenta uma reflexão acerca do modo pelo qual os historiadores produzem suas narrativas sobre os celtas a partir da construção de formas e periodizações. Palavras-chave: Narrativa – Periodização – Celtas. ABSTRACT This paper presents a discussion on the way historians produce their narratives about the Celts by building frames and periodization. Keywords: Narrative. Frames – Periodization – Celts. 1 DENTRE OUTRAS COISAS, O HISTORIADOR NARRA Aprendemos com Roland Barthes que o discurso histórico trabalha em cima de um esquema semântico de dois termos: referente e significante. Apesar do fato nunca ter mais do que uma existência linguística, o historiador o apresenta como se ele fosse o real. Assim, o discurso histórico visa preencher o sentido da história. O historiador reúne 80 Professor titular em História Antiga e Medieval da Universidade de Blumenau- FURB, Coordenador do Laboratório Blumenauense de Estudos Antigos e Medievais (www.furb.br/labeam) 203 menos fatos do que significantes e aí os relata, organiza-os com a finalidade de estabelecer um sentido positivo. Todo enunciado histórico comporta existentes e ocorrentes. São seres, unidades e predicados reunidos de forma a produzir unidades de conteúdo. Eles não são nem o referente puro e nem o discurso completo, são coleções usadas pelos historiadores. A coleção de Heródoto, por exemplo, é a da guerra. Barthes diz que os existentes da obra do historiador grego são: dinastias, príncipes, generais, soldados, povos e lugares; seus ocorrentes são: devastar, submeter, aliar-se, reinar, consultar um oráculo, fazer um estratagema, etc. -

Novos Dados Sobre a Organização Social Castreja (*)
NOVOS DADOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO SOCIAL CASTREJA (*) Armando Coelho F. da Silva No âmbito de um programa de investigação que temos em curso com objectivos determinados sobre a cultura dos castros do Noroeste de Portugal, pretendemos neste trabalho fazer algumas reflexões sobre aspectos da organização social castreja, que um conjunto de novos dados parece possibilitar, tentando a sua integração total acOmpanhada por um controle no terreno, que o conhecimento da região nos vem avalizando. A —SOBRE O GRUPO FAMILIAR Da conjugação dos dados arqueológicos e epigráficos com os forneci- dos pelas fontes clássicas, com relevo primordial para a Geografia de Estrabão O, e tomando em consideração os contributos da antropologia cultural (2), cada vez mais se vem conseguindo definir as características do grupo familiar da sociedade castreja, continuando, porém, a ser da arqueologia de quem poderão resultar elementos mais decisivos para o seu esclarecimento, para o que, por nossa parte, tencionamos, proxima- mente, apresentar uma análise arqueológica específica (3), limitando-nos por ora às seguintes notas sobre o assunto: 1. Parece um dado inequivocamente documentado pela arqueologia que a unidade doméstica se encontra na base da sociedade, facto bem expresso nos sistemáticos núcleos de várias construções circulares e angu- lares em torno de um pátio com acesso para um arruamento, que as esca- vações nos têm revelado. A Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira, Porto), onde uma análise arquitectónica e urbanística nos mostrou à evidência por toda a área esca- vada, excepto nos sectores com reconstruções e remeximentos mais recen- tes, 33 núcleos em cerca de 120 casas, cada qual ocupando uma área média entre 200 e 300 m2, é, neste particular, um caso bem significativo (Est. -

Paleoetnografía De Gallaecia 1
Paleoetnografía de Gallaecia 1. INTRODUCCION Gallaecia nace en época de Augusto quien, en una fecha discutida’, separó Gallaecia y Asturia de la Lusitania para incorporarlas a la Citerior, siendo el Dolores Dopico Cainzos* río Duero el nuevo limite entre ambas regiones, Pilar Rodríguez AlVarez* Lusitania y Gallaecia. Este hecho aparece reflejado en Estrabón cuando dice que algunos de los l..usitanas «ahora» se llaman Kalaikoi, es decir,Gailaeci (3, 3, 2), o cuando hace referencia explícita a la remadelación de las provincias hispánicas (3. 4, 20), y afirma que «en caníraste can las de hoy (en el momento en que escribe) algunos también a éstos (gallacel) les llaman Lusitanos» (3, 3, 3). Una ínscripción de Bracara Augusta dedicada por Callaecia a un nieto de Augusto (CIL, II, 2422 ILS, 6922)2, confirma la creación de Gallaecia como región o unidad política en época de Augusto. Una región que no fue «inventada» por las romanas en función exclusivamente de unas necesidades militares y estratégicas, sino que éstos, simplemente dieron forma, existencia histórica a unos territorios que tenían una entidad cultural bien definida, la cultura castreña ~. El nombre de Cailaecia lo tomaron los romanas de un pueblo, las Cailaeci, situada al sur del con ventus Bracaraugustanus ya que, según Estrabón, las demás tribus eran pequeñas y de poca importancia (3, 3, 3,). Esta denominación Callaicus ya la había recibido el general romana Brutus por sus victorias sobre estos pueblos. Gracias a Plinio, sabemos que en el NO peninsular había tres conventus, dos de los cuales, el Lucensis y el Bracaraugustanus, nos interesan aquí porque a ellas estaban adscritos las Gallaeci. -

Bracara Augusta, Ville Latine
BRACARA AUGUSTA, VILLE LATINE par Patrick le Roux Résumée: Le statut de la ville de Braga sous le Haut-Empire romain n' est pas clairement attesté dans les sources et prête à discussion et à interprétations divergentes. ll s' agit, à la lumiere des réflexions nouvelles sur le droit latin, de tenter de définir le rang de eette fondation augustéenne, devenue capitale de conventus. Les inscriptions funéraires et l'onomastique devraient permettre de mieux cerner la question et d'éviter les faux problemes. Mots-clé: Droit Latin. Capitale. Inscriptions. 1 Le statut de Bracara Augusta, ville des Bracari , instituée par Auguste et devenue par la suite capitale du district judiciaire portant son nom, le conventus 2 Bracaraugustanus , n'est attesté clairement dans aucune source antique. Oppidum chez Pline I' Ancien et chef-lieu de civitas\ le rang de municipe ne lui est jamais attribué dans les rares inscriptions susceptibles de le mentionner; elles indiquent 1 La forme correcte est Bracarus, a, um, (Bracari au pluriel), com me il ressort de Pline lui-même; par ex., lli, 3, 28, ou il écrit: Simili modo Bracarum XXllll civitates CCLXXXV (mi/ia) capitum, ex qui bus praeter ipsos Bracaros Bibali, Coe/erni, Cal/aeci, Equaesi, Limici, Querquerni citra fastidium nominentur. Le génitif pluriel Bracarum n'implique nullement un nominatif Bracares, mais renvoie à une forme archa·ique du type de celle observée pour liberorum ou fabrorum contractés en liberum etfabrum. 2 Cf. pour le bilan chronologique: A. TRANOY, La Gal ice romaine. Recherches sur le Nord-Ouest de la péninsule lbérique dans l'Antiquité, Paris, (Publications du Centre P. -
Agents of Continuity in the Long Fifth Century Accompagné De La
Université de Montréal De episcopis Hispaniarum: agents of continuity in the long fifth century accompagné de la prosopogaphie des évêques ibériques de 400–500 apr. J.-C., tirée de Purificación Ubric Rabaneda, “La Iglesia y los estados barbaros en la Hispania del siglo V (409–507), traduite par Fabian D. Zuk Département d’Histoire Faculté des Arts et Sciences Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade Maître ès Arts (M.A.) en histoire août 2015 © Fabian D. Zuk, 2015. ii Université de Montréal Faculté des etudes supérieures Ce mémoire intitule: De episcopis Hispaniarum: agents of continuity in the long fifth century présenté par Fabian D. Zuk A été évalué par un jury composé des personnes suivantes : Philippe Genequand, president–rapporteur Christian R. Raschle, directeur de recherche Gordon Blennemann, membre du jury iii In loving memory в пам'ять про бабусю of Ruby Zuk iv TABLE OF CONTENTS Résumé / Summary p. v A Note on Terminology p. vi Acknowledgements p. vii List of Figures p. ix Frequent Abbreviations p. x CHAPTER I : Introduction p. 1 CHAPTER II : Historical Context p. 23 CHAPTER III : The Origins of the Bishops p. 36 CHAPTER IV : Bishops as Spiritual Leaders p. 51 CHAPTER V : Bishops in the Secular Realm p. 64 CHAPTER VI : Regional Variation p. 89 CHAPTER VII : Bishops in the Face of Invasion : Conflict and Contenders p. 119 CHAPTER VIII : Retention of Romanitas p. 147 Annexe I: Prosopography of the Iberian bishops 400–500 A.D. p. 161 Annexe II: Hydatius : An Exceptional Bishop at the End of the Earth p. -

Copyright by Nadya Helena Prociuk 2016
Copyright by Nadya Helena Prociuk 2016 The Dissertation Committee for Nadya Helena Prociuk Certifies that this is the approved version of the following dissertation: Inscribing Identity: A case study of symbolic communication from the Iron Age Castro Culture of northwestern Iberia Committee: Samuel Wilson Supervisor Mariah Wade Maria Franklin Paulo Costa Pinto Inscribing Identity: A case study of symbolic communication from the Iron Age Castro Culture of northwestern Iberia by Nadya Helena Prociuk, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May 2016 Dedication I would like to dedicate this work to my grandparents. Despite very little formal education they were able to provide my parents and myself with opportunities they could never have dreamed of for themselves. In particular I would like to dedicate this work to my grandfather Tymish Melnyk, who passed on to me his deep love of history and culture, and showed me that you don’t need a degree to be a true scholar. Acknowledgements I would like to gratefully acknowledge all of the help and guidance I have received during the course of this work. In particular my advisor Sam Wilson has been enormously helpful in guiding me through the often-bewildering process of completing a project of this scale with good humour and good advice. Without the generosity and support of Mariah Wade I would never have been able to even begin this work, and I am immensely grateful to her for extending the invitation to join her project. -

Toponyms of Lusitania: a Re-Assessment of Their Origins Autor(Es): Curchin, Leonard A
Toponyms of Lusitania: a re-assessment of their origins Autor(es): Curchin, Leonard A. Publicado por: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra URL persistente: URI:http://hdl.handle.net/10316.2/37749 DOI: DOI:http://dx.doi.org/10.14195/1647-8657_46_7 Accessed : 6-Oct-2021 17:37:31 A navegação consulta e descarregamento dos títulos inseridos nas Bibliotecas Digitais UC Digitalis, UC Pombalina e UC Impactum, pressupõem a aceitação plena e sem reservas dos Termos e Condições de Uso destas Bibliotecas Digitais, disponíveis em https://digitalis.uc.pt/pt-pt/termos. Conforme exposto nos referidos Termos e Condições de Uso, o descarregamento de títulos de acesso restrito requer uma licença válida de autorização devendo o utilizador aceder ao(s) documento(s) a partir de um endereço de IP da instituição detentora da supramencionada licença. Ao utilizador é apenas permitido o descarregamento para uso pessoal, pelo que o emprego do(s) título(s) descarregado(s) para outro fim, designadamente comercial, carece de autorização do respetivo autor ou editor da obra. Na medida em que todas as obras da UC Digitalis se encontram protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e demais legislação aplicável, toda a cópia, parcial ou total, deste documento, nos casos em que é legalmente admitida, deverá conter ou fazer-se acompanhar por este aviso. impactum.uc.pt digitalis.uc.pt LEONARD A. CURCHIN Classical Studies. University of Waterloo (Canada) TOPONYMS OF LUSITANIA: A RE-ASSESSMENT OF THEIR ORIGINS “Conimbriga” XLVI (2007) p. 129-160 ABSTRACT: Recent advances in linguistic theory and methodology have given greater scientific validity to the study of ancient toponyms.