Ernesto+Milando+Fiti.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
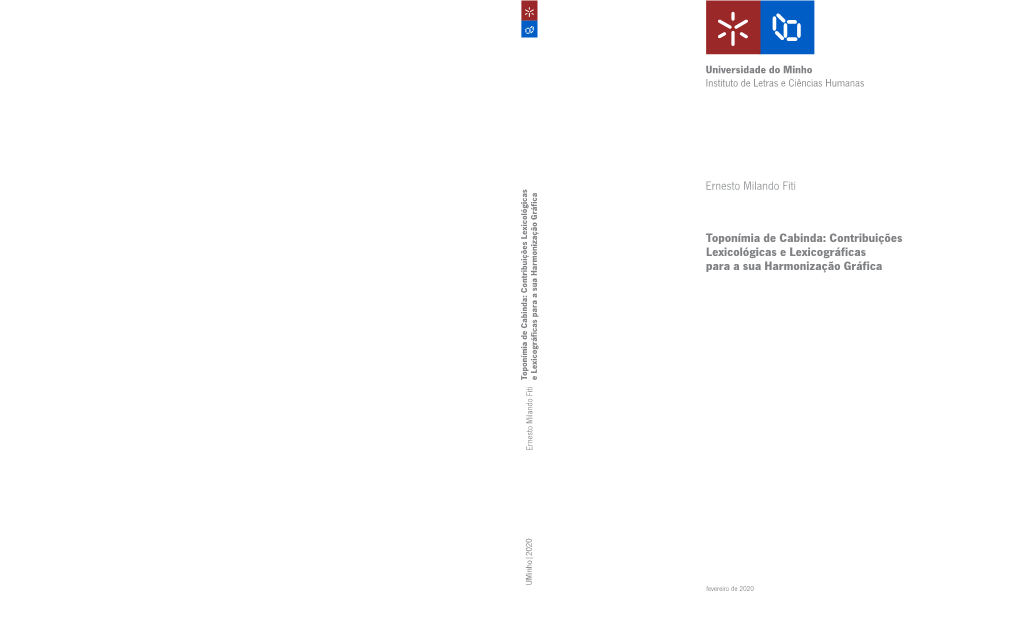
Load more
Recommended publications
-
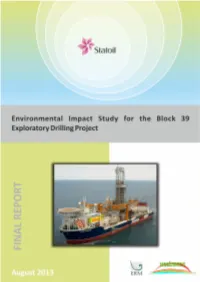
Statoil-Environment Impact Study for Block 39
Technical Sheet Title: Environmental Impact Study for the Block 39 Exploratory Drilling Project. Client: Statoil Angola Block 39 AS Belas Business Park, Edifício Luanda 3º e 4º andar, Talatona, Belas Telefone: +244-222 640900; Fax: +244-222 640939. E-mail: [email protected] www.statoil.com Contractor: Holísticos, Lda. – Serviços, Estudos & Consultoria Rua 60, Casa 559, Urbanização Harmonia, Benfica, Luanda Telefone: +244-222 006938; Fax: +244-222 006435. E-mail: [email protected] www.holisticos.co.ao Date: August 2013 Environmental Impact Study for the Block 39 Exploratory Drilling Project TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION ............................................................................................................... 1-1 1.1. BACKGROUND ............................................................................................................................. 1-1 1.2. PROJECT SITE .............................................................................................................................. 1-4 1.3. PURPOSE AND SCOPE OF THE EIS .................................................................................................... 1-5 1.4. AREAS OF INFLUENCE .................................................................................................................... 1-6 1.4.1. Directly Affected area ...................................................................................................... 1-7 1.4.2. Area of direct influence .................................................................................................. -

2016 Corporate Responsibility Report
southern africa strategic business unit 2016 corporate responsibility report Cautionary statement relevant to forward-looking information This corporate responsibility report contains forward-looking statements relating to the manner in which Chevron intends to conduct certain of its activities, based on management’s current plans and expectations. These statements are not promises or guarantees of future conduct or policy and are subject to a variety of uncertainties and other factors, many of which are beyond our control. Therefore, the actual conduct of our activities, including the development, implementation or continuation of any program, policy or initiative discussed or forecast in this report may differ materially in the future. The statements of intention in this report speak only as of the date of this report. Chevron undertakes no obligation to publicly update any statements in this report. As used in this report, the term “Chevron” and such terms as “the Company,” “the corporation,” “their,” “our,” “its,” “we”and “us” may refer to one or more of Chevron’s consolidated subsidiaries or affiliates or to all of them taken as a whole. All these terms are used for convenience only and are not intended as a precise description of any of the separate entities, each of which manages its own affairs. Prevnar 13 is a federally registered trademark of Wyeth LLC. Front cover: First grade students get ready for class at São José do Cluny School in Viana Municipality – Luanda. Fisherman standing by his stationed boat at Fishermen beach in Cabinda province. table of contents 1 A message from our managing director 4 Chevron in southern Africa 6 Environmental stewardship 8 Social investment 16 Workforce health and development 20 Human rights The SSCV Hermod as it prepares to lift the Mafumeira Sul WHP topsides from a barge. -

Africa Notes
Number 137 June 1992 CSISAFRICA NOTES A publication of the Center for Strategic and International Studies , Washington, D.C. Angola in Transition: The Cabinda Factor by Shawn McCormick In accordance with the Portuguese-mediated agreement signed by leaders of the governing Movimento Popular de Libertac;:ao de Angola (MPLA) .and the Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola (UNIT A) in May 1991, the 16-year civil war that erupted in Angola as the country achieved independent statehood in 1975 has ended. Efforts to implement the second priority mandated in the agreement-national elections by late 1992-are being assisted by a range of international actors, including the United Nations, the United States, Russia, and Portugal. More than 12 parties are likely to participate in the elections (scheduled for September 29 and 30, 1992). The process of achieving a third key element of the agreement-demobilization of three-fourths of the two armies and integration of the remaining soldiers into a 50,000-strong national force-seems unlikely to conclude before elections are held. Although media attention focuses on developments and major players in the capital city of Luanda, where UNIT A has officially established a presence, analysts of the Angolan scene are according new attention to tiny Cabinda province (where an increasingly active separatist movement is escalating its pursuit of independence from Luanda) as "possibly Angola's last and most important battlefield." The significance of Cabinda-a 2,807-square-mile enclave along the Atlantic Ocean separated from Angola's other 17 contiguous provinces by a 25-mile strip of Zaire-lies in the fact that current offshore oil production, including that from the Takula and Malanga fields, totals more than 310,000 barrels per day (bpd). -

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE - Ppgeduc
1 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC/CAMPUS I PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE - PPGEduc MILLE CAROLINE RODRIGUES FERNANDES DE ANGOLA À NILO PEÇANHA: TRAÇOS DA TRAJETÓRIA HISTÓRICA E DA RESISTÊNCIA CULTURAL DOS POVOS KONGO/ANGOLA NA REGIÃO DO BAIXO SUL Salvador 2020 2 MILLE CAROLINE RODRIGUES FERNANDES DE ANGOLA À NILO PEÇANHA: TRAÇOS DA TRAJETÓRIA HISTÓRICA E DA RESISTÊNCIA CULTURAL DOS POVOS KONGO/ANGOLA NA REGIÃO DO BAIXO SUL Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade/PPGEduc- UNEB, no âmbito da Linha de Pesquisa I - Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural, como requisito para a obtenção do Título de Doutora em Educação e Contemporaneidade. Orientadora: Profa. Dra. Jaci Maria Ferraz de Menezes Co-orientador: Prof. Dr. Abreu Castelo Vieira dos Paxe Salvador 2020 3 4 5 Disêsa Ngana! (Licença Senhores/as!) Às pessoas mais velhas e às crianças, peço Nsuá (Licença). À minha Avó Mariazinha, à Minha Mãe e Madrinha Valdice Herculana (Mamãe Didi) e à minha Mãe biológica Maria José (Mamãe Zezé), as primeiras mulheres com quem aprendi a reverenciar os antepassados, a benzer com as folhas e a encantar o alimento. À Angola por ter sido acalento e cura para minh’alma. Aos Reis, Rainhas, Jindembo, Osoma, N’gola e Sekulos, por terem reconhecido minha origem angolana, pelo doce acolhimento, por me (re)ensinar a importância da nossa ancestralidade e por verem em mim ‘Makyesi’ (Felicidade). 6 AGRADECIMENTOS Agradecer às pessoas que trilharam conosco os caminhos mais difíceis e, muitas vezes, até improváveis, é uma singela forma de tentar retribuir, recompensar em palavras e gestos, mas é também tentar tornar-se digna de tanta generosidade encontrada nesta intensa e maravilhosa travessia. -

Inventário Florestal Nacional, Guia De Campo Para Recolha De Dados
Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais de Angola Inventário Florestal Nacional Guia de campo para recolha de dados . NFMA Working Paper No 41/P– Rome, Luanda 2009 Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais As florestas são essenciais para o bem-estar da humanidade. Constitui as fundações para a vida sobre a terra através de funções ecológicas, a regulação do clima e recursos hídricos e servem como habitat para plantas e animais. As florestas também fornecem uma vasta gama de bens essenciais, tais como madeira, comida, forragem, medicamentos e também, oportunidades para lazer, renovação espiritual e outros serviços. Hoje em dia, as florestas sofrem pressões devido ao aumento de procura de produtos e serviços com base na terra, o que resulta frequentemente na degradação ou transformação da floresta em formas insustentáveis de utilização da terra. Quando as florestas são perdidas ou severamente degradadas. A sua capacidade de funcionar como reguladores do ambiente também se perde. O resultado é o aumento de perigo de inundações e erosão, a redução na fertilidade do solo e o desaparecimento de plantas e animais. Como resultado, o fornecimento sustentável de bens e serviços das florestas é posto em perigo. Como resposta do aumento de procura de informações fiáveis sobre os recursos de florestas e árvores tanto ao nível nacional como Internacional l, a FAO iniciou uma actividade para dar apoio à monitorização e avaliação de recursos florestais nationais (MANF). O apoio à MANF inclui uma abordagem harmonizada da MANF, a gestão de informação, sistemas de notificação de dados e o apoio à análise do impacto das políticas no processo nacional de tomada de decisão. -

Resenha De Imprensa Angolana 14.05.2021
Sexta - feira, 14 DE MAIO DE 2021 Angola apela à igualdade na distribuição de vacinas Luanda - O Presidente da República, João Lourenço, apelou, nesta quinta-feira, à sensibilidade dos países produtores das vacinas contra a Covid-19 para a sua distribuição a todos os Estados. O Chefe de Estado angolano falava à imprensa momentos depois de, acompanhado pela primeira-dama, Ana Dias Lourenço, ter recebido a primeira dose da vacina, num dos quatro postos de vacinação abertos em Luanda. Na ocasião, João Lourenço reiterou a necessidade da união de esforços entre os Estados no combate à pandemia. O Presidente João Lourenço considerou, fundamental, que os países produtores entendam que ninguém se vai salvar sozinho: “Ou nos salvamos todos, ricos e pobres, poderosos e não poderosos, ou ninguém se vai salvar”. Para o Estadista angolano, na distribuição das vacinas deve- se atender a todos e, desta forma, fazer face à pandemia que atingiu todo o planeta. Depois de reconhecer a pouca capacidade de resposta dos produtores, defendeu a necessidade de maior engajamento e esforço no aumento da oferta de vacinas. O Presidente João Lourenço justifica que nem todos os países, sobretudo africanos, têm recursos financeiros para adquirirem vacinas aos preços que estão. Apesar desse quadro, o Titular do Poder Executivo manifestou-se optimista quanto à solução dessa questão a curto prazo. Relativamente a Angola, revelou que o país recebeu 600 mil doses da AstraZeneca (no quadro da iniciativa Covax) e 200 mil doses de oferta do Governo chinês. Acrescentando que Angola tem recebido outras ofertas em pequenas quantidades, incluindo de grupos empresariais, na medida das suas possibilidades. -
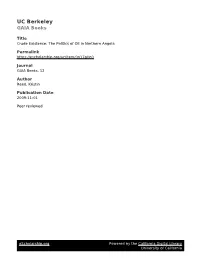
UC Berkeley GAIA Books
UC Berkeley GAIA Books Title Crude Existence: The Politics of Oil in Northern Angola Permalink https://escholarship.org/uc/item/0n17g0n0 Journal GAIA Books, 12 Author Reed, Kristin Publication Date 2009-11-01 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Crude Existence: Environment and the Politics of Oil in Northern Angola Kristin Reed Published in association with University of California Press Description: After decades of civil war and instability, the African country of Angola is experiencing a spectacular economic boom thanks to its most valuable natural resource: oil. But oil extraction—both on and offshore—is a toxic remedy for the country’s economic ills, with devastating effects on both the environment and traditional livelihoods. Focusing on the everyday realities of people living in the extraction zones, Kristin Reed explores the exclusion, degradation, and violence that are the bitter fruits of petro-capitalism in Angola. She emphasizes the failure of corporate initiatives to offset the destructive effects of their activities. Author: Kristin Reed holds a Ph.D. in Environmental Science, Policy, and Management from the University of California, Berkeley. She is a program consultant to humanitarian and environmental nonprofit organizations. Review: “An absolutely necessary work of political ecology. Centering on the polluted, impoverished coastal communities of northwest Angola, Crude Existence convincingly shows how the ‘curse of oil’ in extractive regions is a curse of political -

The Angolan Revolution, Vol.2, Exile Politics and Guerrilla Warfare (1962-1976)
The Angolan revolution, Vol.2, Exile Politics and Guerrilla Warfare (1962-1976) http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.crp2b20034 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org The Angolan revolution, Vol.2, Exile Politics and Guerrilla Warfare (1962-1976) Author/Creator Marcum, John Publisher Massachusetts Institute of Technology Press (Cambridge) Date 1978 Resource type Books Language English Subject Coverage (spatial) Angola, Portugal, Congo, Zambia, Congo, the Democratic Republic of the, North Africa (region), Cuba, South Africa, United States, U.S.S.R. Coverage (temporal) 1962 - 1976 Source Northwestern University Libraries, Melville J. Herskovits Library of African Studies, 967.3 M322a, v. -

Dotação Orçamental Por Orgão
Exercício : 2021 Emissão : 17/12/2020 Página : 158 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Assembleia Nacional RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 130.000.000,00 100,00% Receitas Correntes 130.000.000,00 100,00% Receitas Correntes Diversas 130.000.000,00 100,00% Outras Receitas Correntes 130.000.000,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Despesas Correntes 33.787.477.867,00 98,83% Despesas Com O Pessoal 21.073.730.348,00 61,64% Despesas Com O Pessoal Civil 21.073.730.348,00 61,64% Contribuições Do Empregador 1.308.897.065,00 3,83% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 1.308.897.065,00 3,83% Despesas Em Bens E Serviços 10.826.521.457,00 31,67% Bens 2.520.242.794,00 7,37% Serviços 8.306.278.663,00 24,30% Subsídios E Transferências Correntes 578.328.997,00 1,69% Transferências Correntes 578.328.997,00 1,69% Despesas De Capital 400.175.378,00 1,17% Investimentos 373.580.220,00 1,09% Aquisição De Bens De Capital Fixo 361.080.220,00 1,06% Compra De Activos Intangíveis 12.500.000,00 0,04% Outras Despesas De Capital 26.595.158,00 0,08% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 34.187.653.245,00 100,00% Órgãos Legislativos 34.187.653.245,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa / Projecto Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Acções Correntes 33.862.558.085,00 99,05% Operação E Manutenção Geral Dos Serviços 10.567.385.159,00 Administração Geral 22.397.811.410,00 Manutenção Das Relações -

West Africa Geology and Total Petroleum Systems
Geology and Total Petroleum Systems of the West-Central Coastal Province (7203), West Africa 0° 5°E 10°E 15°E 20°E NIGER CENTRAL AFRICAN REPUBLIC DELTA CAMEROON 5°N DOUALA BANGUI GULF OF DOUALA, KRIBI- MALABO YAOUNDE GUINEA CAMPO BASINS RIO MUNI BASIN EQ. GUINEA CABO SAN JUAN ARCH ANNOBON-CAMEROON LIBREVILLE 0° VOLCANIC AXIS GABON N'KOMI FRACTURE DEMOCRATIC ZONE REPUBLIC OF THE REPUBLIC OF THE CONGO CONGO GABON BASIN CASAMARIA BRAZZAVILLE HIGH 5°S CONGO ANGOLA (CABINDA) KINSHASA ATLANTIC BASIN OCEAN AMBRIZ ARCH LUANDA 10°S ANGOLA KWANZA (CUANZA) BASIN BENGUELA HIGH BENGUELA BENGUELA BASIN 15°S NAMIBE BASIN 0 250 500 KILOMETERS NAMIBIA LVIS RIDGE WA U.S. Geological Survey Bulletin 2207-B U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey Geology and Total Petroleum Systems of the West-Central Coastal Province (7203), West Africa By Michael E. Brownfield and Ronald R. Charpentier U.S. Geological Survey Bulletin 2207-B U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey U.S. Department of the Interior P. Lynn Scarlett, Acting Secretary U.S. Geological Survey P. Patrick Leahy, Acting Director U.S. Geological Survey, Reston, Virginia: 2006 Posted online June 2006 Version 1.0 This publication is only available online at http://www.usgs.gov/bul/2207/B/ For more information on the USGS—the Federal source for science about the Earth, its natural and living resources, natural hazards, and the environment: World Wide Web: http://www.usgs.gov Telephone: 1-888-ASK-USGS Any use of trade, product, or firm names is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. -

Maria Helena Canhici Estudo Sistemático De Monografias Dos
Maria Helena Canhici Estudo sistemático de monografias dos finalistas do ISCED-Cabinda sobre dificuldades de aprendizagem (2006-2011) Belo Horizonte 2014 Maria Helena Canhici Estudo sistemático de monografias dos finalistas do ISCED-Cabinda sobre dificuldades de aprendizagem (2006-2011) Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação – Conhecimento e Inclusão Social – da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Educação. Área de Concentração: Psicologia Histórico-cultural Linha de Pesquisa: Psicologia, Psicanálise e Educação Orientadora: Profa. Dra. Maria de Fátima Cardoso Gomes Belo Horizonte Faculdade de Educação da UFMG 2014 Canhici, Maria Helena. C222e Estudo sistemático de monografias dos finalistas do ISCED- T Cabinda sobre dificuldades de aprendizagem (2006-2011) / Maria Helena Canhici – UFMG/FaE, 2014. 205 f., enc. Dissertação - (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educação. Orientadora: Maria de Fátima Cardoso Gomes. Inclui bibliografia e apêndices. 1. Monografias. 2. Dificuldade de aprendizagem. 3. ISCED/UON- Cabinda -- Angola -- Teses. I. Título. II. Gomes, Maria de Fátima Cardoso. III. Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educação. CDD-378.09673 Catalogação da Fonte: Biblioteca da FaE/UFMG Universidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Educação Curso Mestrado Dissertação intitulada Estudo sistemático de monografias dos finalistas do ISCED-Cabinda sobre dificuldades de aprendizagem (2006-2011), de autoria da mestranda Maria Helena Canhici, aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores: ____________________________________________________________________ Profa. Dra. Maria de Fátima Cardoso Gomes – Orientadora Faculdade de Educação (FaE/UFMG) ____________________________________________________________________ Prof. Dr. Nlandu Balenda Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED/UON) ____________________________________________________________________ Profa. -

Lubota Et Al.Pdf
Academia Journal of Biotechnology 5(11): 180-191, November 2017 DOI: 10.15413/ajb.2017.0523 ISSN 2315-7747 ©2017 Academia Publishing Research Paper Production of biodiesel to recycle aluminum from waste Muto Lubota D1*, González Suárez E2, Hernández Pérez GD3, Miño Valdés JE4 Accepted 20th October, 2017 and González Herrera I5 1Faculty of Economics, Universidad 11 de ABSTRACT Noviembre, Cabinda, Angola. 2Faculty of Chemistry and Pharmacy, This study was carried out to evaluate the costs of investing into the production of Central University of Villas, Cuba. sufficient biodiesel with African palm oil to ensure the operation of an aluminum 3Faculty of Industrial Engineering, Central University of Villas, Cuba. recovery plant in Angola. In this study, a conceptual model and procedures for the 4Faculty of Engineering, National assimilation of bioenergy production technologies is validated. Because of its University of Misiones, Argentina. importance it is considered as uncertain future changes with emphasis on the 5 Bordeaux Laboratory for Research in growth of demand processing capabilities of municipal solid waste and the Computer Science, University Bordeaux I, France. availability of raw materials. Suitable values of initial investment capabilities are determined at the first stage with a view that a second stage investor, to increase *Corresponding author. E-mail: capacities, must be run at 6 years of the initial investment. The first investment is [email protected], recovered at 3 years. [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]. Key words: Aluminum, biodiesel, waste. INTRODUCTION Considering that the province of Cabinda Angola recognizes 3) The variation of the volume and type of the different the need to strengthen the energy matrix through the USW over time.