Dissertacao-Maria Celia Santiago.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
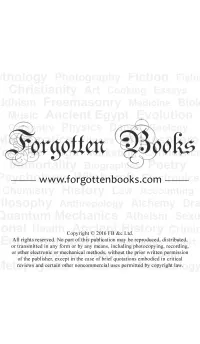
Domestic Practic E of Medicine: Entirely New And
D O M E S T I C PR ACT I CE OF ME DI CI NE : ENT IRELY NE W AND ORIGINAL WOR K. A MI NU TE AN D FAI THFU L DE S CR I PTI ON CAUSE S SYMPT OMS AND T R E AT M , EN AN D D E S I G NE D ' B m B B E I AL E F F A M I L I ES l O E O U S OF HE AD S O , AL L E R E E ED HE OT H R S , W HO A E B P W OF T B J U S T I N D W I N E L L E M D Y , . S Y R A CU S E , N . Y . P U B L I S HE B Y T HE A U H R D T O . mu O S FE R E OT YPE R . m C S AND PR IN . K. E J G T R S . PR E F A C E . is book is not desi ned t o t a e the a e of a si ian Th g k pl c phy c , w his s er i e s can be o taine N int e i ent erson w i en d. o h v c b ll g p ll , for a mome nt ont e ndt at t er e can be an ade u at e s u s t it ut e , c h h q b for the s er i es of an onest and om et ent si ian I t is v c h c p phy c . -

DISPENSA 29.01.022021.Pdf
REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO Ne Z9.0L02/2021 FUNDAMENTO: ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES e no Decreto Ne 1.245/2021, de OS de janeiro de 2021. SECRETARIA DE SAÚDE ~EP OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPP3 DE JAGUAMBSCE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.01.10.302.0014.2.079.0000 mAC / 08.01.10301.0013.2.076.0000 — ATENÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 DATA DA DISPENSA: 29 DE JANEIRO DE 2021 DATA DA CONTRATAÇÃO: 29 DE JANEIRO DE 2021 ORDENADORA DE DESPESAS: IANNY DE ASSIS DANTAS JANEIRO - 2021 PRAÇA SENADOR FERRARDES MINORA, - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ CEP: 83475-000 - FONE: 0.0(413-3522-1092 CIIPJ: 0744.1.70W000146 PREFEIT RA MUNICIPAL E JAGUARIBE RECIUISICÃO Senhor Coordenada do Setor de Compras, Diante da necessidade da ACIUISIÇA0 DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE, encaminhamos ao setor de Compras para providenciar peugada de preços e mapa de preços, com vistas deflagranao do PreoadlmeMo &datada, destinado a supdr a demanda acima indicada. Jaguarite/CE 29 de Janeiro de 2021, Can,c.. rj.".‘À cIL Ni-Ai- IANNY DE ASSIS DANTAS SECRETÁRIA DE SAÚDE PRAÇA SENADOR FERRARDES TENOR& S/N - CENTRO - JAGUARIBE CERRA CEP: 13475-000- FONE: 0-M884522-1092 CNER 07443.70810001-88 uMGF MUI I URA 1i I r 2:1( 11ÁI1 DF ...l .....)AGUARI BE PORTE 06/2021, de 01 de fane ro de 2,121 ALEXANDRE GOMES DMGENES, Prefeito Municipal de laguadbe, Estado do Ceará, no uso dai atribuições legais contidas na Lei Crgánica do Município e, nos termos do art. -

Apoyo a Los Procesos De Apertura E Integración Al Comercio Internacional ATN/ME-9565-RG BID/FOMIN
Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional ATN/ME-9565-RG BID/FOMIN “Cadenas de producción. Análisis de protección Efectiva” Graciela Peri1 INFORME FINAL Encargado por Fundación INAI SEPTIEMBRE 2009 1 Master en Economía Agraria, Universidad Nacional del Sur, Doctoranda en Economía Internacional y Desarrollo Económico de la Universidad de Barcelona. Agradece la colaboración del Lic. Nicolás Lion, sin su apoyo no hubiera sido posible la recolección y procesamiento de una vasta información. Las opiniones y conclusiones presentadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vistas ni comprometen a las Instituciones y organismos financiadores que los auspician. 1. ANTECEDENTES Este estudio se desarrolla dentro del Programa “Apoyo a los Procesos de Apertura e integración al Comercio Internacional” (BID/FOMIN, 2006) que asiste a los sectores privados de la producción y el comercio agroalimentarios del MERCOSUR, para una mejor integración al comercio internacional. El mismo surge como propuesta de verificación y evaluación de la consistencia interna de los instrumentos de políticas de comercio exterior, identificados en un trabajo anterior2, a lo largo de determinadas cadenas de producción consideradas como de mayor impacto sobre las variables macroeconómicas y sociales, a nivel nacional como regional. Es sabido que los gobiernos establecen políticas de incentivos para determinados productos, a los fines de mejorar la competitividad a nivel internacional. Otras veces, deciden estimular la producción de determinados productos por variadas razones, que no necesariamente son un reflejo de las ventajas /desventajas competitivas de un sector. El procedimiento utilizado, en el trabajo que se cita como fuente del actual, consistió en reunir en tipos o “modelos representativos”, los capítulos del Nomenclador Común del Mercosur (NCM), de acuerdo a la diversidad e intensidad en el uso de los instrumentos de comercio exterior utilizados en el último lustro en Argentina. -

Durham E-Theses
Durham E-Theses The theology of god and the gentile mission in acts Muthuraj, Joseph Gnanaseelan How to cite: Muthuraj, Joseph Gnanaseelan (1995) The theology of god and the gentile mission in acts, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/5357/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk THE THEOLOGY OF GOB AND THE GENTILE MISSION IN ACTS by Joseph Gnanaseelan Muthuraj The copyright of this thesis rests with the author. No quotation from it should be published without his prior written consent and information derived from it should be acknowledged. Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Theology University of Durham 1995 1^ JUN 1995 11 ABSTRACT The present study aims to investigate Luke's theology of God in the accounts of the mission to the Gentiles in Acts. -
The Annual of the British School at Athens Pisidia and The
The Annual of the British School at Athens http://journals.cambridge.org/ATH Additional services for The Annual of the British School at Athens: Email alerts: Click here Subscriptions: Click here Commercial reprints: Click here Terms of use : Click here Pisidia and the Lycaonian Frontier W. M. Ramsay The Annual of the British School at Athens / Volume 9 / November 1903, pp 243 - 273 DOI: 10.1017/S0068245400007693, Published online: 18 October 2013 Link to this article: http://journals.cambridge.org/abstract_S0068245400007693 How to cite this article: W. M. Ramsay (1903). Pisidia and the Lycaonian Frontier. The Annual of the British School at Athens, 9, pp 243-273 doi:10.1017/S0068245400007693 Request Permissions : Click here Downloaded from http://journals.cambridge.org/ATH, IP address: 128.122.253.212 on 04 May 2015 PISIDIA AND THE LYCAONIAN FRONTIER.1 (SEE MAP OX PLATE V.) I. THE frontier of Pisidia, where it adjoins Lycaonia, is placed wrongly in my Histor. Geogr. Chs. Q and V. The district was little known, when I wrote: I had traversed it hurriedly in 1882, 1886, and 1890, in each case only on a single hasty route. The excursion of 1882 resulted in placing Anaboura and Neapolis.2 No name was discovered in the excursions of 1886 and 1890. Prof. Sterrett explored the district very carefully in 1884 and 1885 ; but the numerous inscriptions, which he found, unluckily did not contain important topographical in- dications, and he assigned a position much too far north for the city of Pappa-Tiberiopolis.3 I shared his view on this critical point, with the result that many other towns were drawn away far north of their true situation, because they stood in some relation to Pappa, and when it seemed to lie away in the north, they had to be placed correspondingly. -
[N Mi Di Ia Mirpesii Ite Salions
ARO 88.« - Idmsra 27.6^3 SÁBADO SO fiE ¿UMtO DE I^S" UDACCIOM, ILHniSTRAaON T TÁLLinBS PUNTOS í)iE aUSCR CiuN MADRID.—Un mes, Í..V) pesetas; irmet San Bernardo I núm. 78.-lMADRÍd tre. 7; «fntpstre. 14. afto f7. onsooiÓM nsLaasÁnoAi PROVINCIAS.—Trimestre. » peseta»; seinés. lIPOOAi tre, IBi «Aw, M. Portugal, Glbraltar y MArroecM, «i mismo UPARTADO DI OORRIOf fu EXTRANJERO.—Trimestre, 15 pesetas? se TMéfOnM í2.t3S y J2.MI ~~ LASulAPI,O FUNDADO ENM1.° OE ABRIL DE 1849 n-ooire, 30; año, 60 pesetas. La Reina Cruillermina a Noruega FIESTA DEJARDIN viuda de Alauibla. Santa Fe. Tenorio. Perijáa, EN LA CÁMARA FRANCESA San Román. Villanueva de Valüueza, Campoa- Cartografía aérea LA íIAY.V ,10.- La Reina Cuillcmiina y la Prin Ifgre, Cortina, Montesión, Acapulco, Argiieso, cesa Juliana han salido para Noruega después .A.raiida. Gueva.ra, Isasi, Campofértil, Ferrera, de pasar una semana en Abisko (Laponia). Sobróse), viuda de Villamediaia, Vega do boeci- Importante discurso del Sr. Poinca- <:on motivo de la exteiistóu de líis iínecus aéreas Los Reyes de Bélgica en Leopoldville [n mi di ia mirpesii ite Salions Uo y Valdeigles.as; <le tráfico en los últimos tiempoe y de la ma LEOPOLDVlLLE.riO.-Han llegado a esta ciu- Condesas de Paredes Nava, Garvey, Vallella- re sjOra la estabilidad monetaria datl los Reyes de los belgas, siendo saludados 110, (iamazo, Güell, Guadalhorce, Santa María yor organización que se piepara de la aviación por el üToberníulor del Congo belga, gobernador Esta temporada de fiestas que ue ha dado en de Sisla, Sizzo Noris, Casa Puente, Andes, Las- comci'cial, según hemos expuesto hace |)ocos días, del África ecualurial fi-;inc('sa y los cónsules cx- llamar «la ((season» de la Infanta María Cris coiti. -
Avisos Publicados
Nº 25.731 - Marzo 22 de 2001 2355-C ANDRES FERREIRO LOIS, (Ficha: 510/ 2000). Montevideo, 20 de noviembre de 2000. Olga Vaes Tirelli, ACTUARIA ADJUNTA. 01) $ 886 10/p 14175 Mar 13- Mar 26 HUMBERTO o HUMBERTO JOSE DE SANTIS TAMBASCO, (Ficha: 25/2001). Montevideo, 2 de marzo de 2001. Olga Vaes Tirelli, ACTUARIA ADJUNTA. Montevideo, 11 de diciembre de 2000. 01) $ 886 10/p 14344 Mar 14- Mar 27 APERTURA DE Esc. SUSANA BERGER, ACTUARIA. 01) $ 886 10/p 13850 Mar 09- Mar 22 FRANCISCO SQUILLARO GENTILI, (Fi- SUCESIONES cha: 568/2000). JULIO CESAR BIANCHI PEÑA, (Ficha: Montevideo, 20 de febrero de 2001. 598/2000). Esc. SUSANA BERGER, ACTUARIA. Montevideo, 20 de febrero de 2001. 01) $ 886 10/p 14746 Mar 16- Mar 29 Esc. SUSANA BERGER, ACTUARIA. 01) $ 886 10/p 14033 Mar 12- Mar 23 CELSO GONZALEZ PEREIRA, (Ficha: 55/ 2001). (Ley 16.044 Arts. 3o. y 4o.) ZAIDA LETIS ARNALDI SILVA, (Ficha: 48/ Montevideo, 6 de marzo de 2001. Los señores Jueces Letrados de Familia 2001). OLGA VAES TIRELLI, Actuaria Adjunta. han dispuesto la apertura de las sucesiones Montevideo, 6 de marzo de 2001. 01) $ 886 10/p 14769 Mar 19- Mar 30 que se enuncian seguidamente y citan y Esc. SUSANA BERGER, ACTUARIA. emplazan a los herederos, acreedores y 01) $ 886 10/p 14097 Mar 13- Mar 26 JOSE ESPASANDIN FUENTES, (Ficha: 63/ demás interesados en ellas para que, dentro 2001). del término de treinta días, comparezcan a Montevideo, 6 de marzo de 2001. deducir en forma sus derechos ante la sede DAVID JACOBO BERESNITZKY OLGA VAES TIRELLI, Actuaria Adjunta. -

L DIÁRIO OFICIAL I>0 DISTRITO FEDERAL
l DIÁRIO OFICIAL I>0 DISTRITO FEDERAL Brasília, terça-feira 04 de junho de 1991 ANOXV-N°106 de correrão de enquadramento [ir ot ocol i /.ido:; a partir d'.' 02 ú'' ou- tubro de 1'JHÍi, data da |iul>l iraciio do [Jecreío n° 9.7GB, ato 31 de SUMÁRIO dezembro de 1»)B'J, datil .c|u" rmledeceu à i IM|I l ari t ar;ão d" diversas carreiras na Administrarão Uirefa, Autárquica '• l-'undac iona l do Distrito Federal. Parágrafo único - Kxcetuam-se do disposto neste ATOS DO GOVERNADOR .1 artiqo ns pedidos que já tenham sido ob jeto de decisão finai. a GABINETE CIVIL Art:. 2 - Kste Decreto entra em v i <jor na data de .5 sua publieacào, revogadas as disposições em contrário. GABINETE MILITAR.. .5 Brasília, 03 de junho de l')91. SUBSECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES 103o da República REGIONAIS .„ .6 TTOTIQUTM T>OM i NGOS -HOK i y. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ..7 SECRETARIA DA FAZENDA .8 Ef,izABJi'j(\GARCiA CAMPOS SECRETARIA DE SAÚDE .9 DECRETO N.- 13.228 DE DE j vinho DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL .10 Altera o orçamento da Companhia de Agua e Esgotos de Brasília - CAESB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO .10 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE .10 O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuj. coes que lhe confere o art. 20, inciso II, da L,ei n9 SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO ... •U 3.751, de 13 de abril de 1960, e o disposto no Decreto n? 12.967, de 28 de dezembro de 1990, e tendo em vista o que consta do processo n9 0092.000509/91, TRIBUNAL DE CONTAS .11 DECRETA: Art. -

T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANADOLU’DA ROMA İDARİ DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE ISAURIA BÖLGESİ Hazırlayan Nuray AKÇAY Tarih Ana Bilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Doç. Dr. Mehmet KURT KARAMAN – 2019 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANADOLU’DA ROMA İDARİ DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE ISAURIA BÖLGESİ Hazırlayan Nuray AKÇAY Tarih Ana Bilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Doç. Dr. Mehmet KURT KARAMAN – 2019 i ÖN SÖZ Tezimizin konusunu, Anadolu’da Roma idari düzenlemeleri çerçevesinde Isauria Bölgesinde yapılan düzenlemeler oluşturmaktadır. Tarihi dönemler içinde ya da antik kaynaklarda bölgenin sınırları değişiklik gösterse de Eski Çağ’ da Isauria Bölgesi sınırları batıda Pamphylia, kuzeyde Lykaonia, güneyde ve doğuda ise Kilikia ile sınırlanmıştır. Günümüzde ise Konya ilinin güneyinde bulunan Bozkır, Hadim ve Taşkent ilçelerinin içerisinde yer alan sahalar Isauria’nın merkezi alanını oluşturmaktadır. Isauria Bölgesi’nin engebeli olması, yapılan araştırmalarda bazı zorluklar ortaya çıkarmıştır. Bu durum bölge hakkında yeterli bilgiye sahip olmamızı engellemiştir. Çalışma kapsamında Isauria Bölgesinde yapılan düzenlemeleri araştırırken Romalıların, Anadolu’da etkili olduğu ilk dönemlerden günümüze kadar olan düzenlemelerini ele aldık. Ağırlıklı olarak Antonius Pius ile Diocletianus dönemlerinde yapılan düzenlemeler tezin esas konusunu teşkil etmektedir. Çalışmamızda antik kaynaklar ile arkeolojik ve epigrafik belgeler yeniden gözden geçirilerek Roma Dönemi’nde Isauria Bölgesi’nin idari yapısı ele alınmıştır. Ancak Isauria ile ilgili düzenlemeler bölge ilgili siyasal gelişmelerden kaynaklandığı için bölgedeki siyasi gelişmelere de yer yer değinilmiştir. Çalışmalarım esnasında bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan, her fırsatta çalışmamla yakından ilgilenen, değerli vaktini benden esirgemeyen danışmanım sayın Doç. Dr. Mehmet KURT’a şükranlarımı sunarım. Üniversite hayatımdan yüksek lisansımın son dönemine kadar bana kattığı her bilgi için Prof. -

Ongka 1, Kemis Kaping 4 Januwari 1877 Punika Darmawasita Inggih
Ongka 1, Kemis kaping 4 Januwari 1877 Punika Darmawasita inggih punika iwulang sae anggitanipun tiyang wasis ing jaman kina. 1. Manahipun tiyang dursila makaten limrah boten kadunungankawicaksanan, punapa dene malih kawicaksanan wau, boten manggen ing badanipun tiyang kang sampu kawrat tanpi dosa. 2. Kaadilan makaten boten saged sirna 3. Durjana makaten wekasanipun tan prayogi 4. Pejahipun tiyang utama makaten minongka pangenget-enget kang maedahi. 5. Tiyang ingkang lampah tingkahipun prayogi, punika sanadyan pejah dene wayahipun inggih maksa saged wilujeng 6. Kapinteran makaten ngatasing janma, kengin gkaibarataken yuswa panjang, dene lampah nirmala,punika kenging kawastanan yuswa panjang ingkang temen. 7. Pejahipun tiyang utama, sasat anatrapi ukum dhumateng ingakng lampah kadursilan makaten ugi, gesangipun tiyang mursid ingkang cupet, punika yayah angukum dhateng durjana ingkang landhung umuripun. 8. Pidosaning tiyang duraka,punika prasasat satrunipun pyambak 9. Pejahipun durjana punika boten anuwuhaken sungkawaning kang tinilar,lir upaminpun lampahing baita kapal ingjaladri, ugi boten atilar labet 10. makaten ugi pangeling-eling pejahipun tiyang awon, punika kengingkasanepakaken wewayangan, utawi kados panggemboringjanma, lajeng ical tan kapireng malih. 11. Punapa dene kenging ugi, kaibarataken lir ibering peksi ing ngawang-awang, boten mawi anilar labet 12. Utawi kenging kaupamekaken lampahingjemparingingkangdipun lepasaken wonteningkangkaawis, ing atrap bilih sampun lumepas amiyak awing- awang,awing-awang wau lajeng tepang malih, -

Map 66 Taurus Compiled by S. Mitchell, 1995
Map 66 Taurus Compiled by S. Mitchell, 1995 Introduction The map covers three distinctive geographical areas. In the north is the steppic basin of Lycaonia and south-west Cappadocia. The rivers here drain towards the interior of the country and end in the shallow lakes and salty marshes of central Anatolia. To the south comes the semicircular sweep of the Taurus mountains, the ancient territory of Isauria and Cilicia Tracheia (“rugged”). The mountains are divided up by the deeply cut river-systems of the Calycadnus in the west, and by the Cydnus and (P)Saros in the east. The third area is the western half of Cilicia Pedias (“plain”), as far as the outlet of the R. Pyramos. In modern times elaborate dam and canalization schemes have been developed for the irrigation of the Lycaonian steppe south of Iconium and of Cilicia Pedias between the (P)Saros and Pyramos. These may have had predecessors in antiquity, but there is no reliable archaeological documentation for such systems. Deposits at the river mouths in Cilicia Pedias have pushed the modern coastline forward by as much as four miles in some locations, and the outlets of both the (P)Saros and Pyramos have altered substantially since the Roman period (see Map 67 Introduction). Relatively systematic information for the coastal topography of the region is available from the shipping manuals of coastal landmarks. These mainly comprise the work attributed to Scylax, which in its present form dates to the 330s B.C. (GGM I, xliii-xlv), an account in Strabo Book 14, and the StadMM compiled in the third or fourth century A.D., but drawing in part on the same sources as Strabo. -

The Acts of the Apostles
The Acts of the Apostles Introduction 1. The Criticism of Acts 2. Historical Writing in Antiquity 3. Kerygma and History in Acts 4. Luke’s Purposes in Writing Acts 5. The Sources of Acts 6. The Narrative of Acts 7. The Speeches in Acts 8. The Structure of Acts 9. Date of Composition 10. Authorship 11. Bibliography 12. Outline “The Acts of the Apostles” is the name given to the second part of a two-volume work traditionally identified as having been written by Luke, a companion of the apostle Paul. Originally the two volumes circulated together as two parts of one complete writing. But during the late first or early second century, the first volume became associated with the Gospels identified with Matthew, Mark, and John, thus forming the fourfold Gospel. Luke’s second volume was left to go its own way. It was at this time, it seems, that the second volume received its present title, with the word “Acts” (praxeis) evidently meant to suggest both movement in the advance of the gospel and heroic exploits by the apostles. The reference to “the Apostles,” however, is somewhat misleading, because the work deals almost exclusively with Peter and Paul and the persons and events associated with their ministries. Acts is the third longest of the NT writings, being about one-tenth shorter than its companion volume Luke (the longest NT book) and almost exactly the length of Matthew. Together Luke-Acts comprises almost 30 percent of the material in the NT, exceeding both the Pauline and the Johannine writings in size.