Práticas Colaborativas Em Música Experimental No Brasil Entre 2000 E 2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kayo Dot Coffins on Io Mp3, Flac, Wma
Kayo Dot Coffins On Io mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Rock Album: Coffins On Io Country: US Released: 2014 Style: Avantgarde, Goth Rock MP3 version RAR size: 1318 mb FLAC version RAR size: 1971 mb WMA version RAR size: 1321 mb Rating: 4.8 Votes: 267 Other Formats: XM AA MPC DTS VOX MOD APE Tracklist Hide Credits The Mortality Of Doves 1 11:54 Organ [Solo] – Tim Byrnes 2 Offramp Cycle, Pattern 22 9:25 3 Longtime Disturbance On The Miracle Mile 4:07 4 Library Subterranean 8:23 5 The Assassination Of Adam 5:47 Spirit Photography 6 10:06 Electric Piano [Rhodes] – Tim Byrnes Companies, etc. Mastered At – Chicago Mastering Service Pressed By – Rainbo Records Credits Design, Layout – Niels Geybels Drums, Percussion [Electric Percussion] – Keith Abrams Guitar – Ron Varod Lyrics By – Jason Byron Mastered By – Jason Ward Music By – Kayo Dot Recorded By, Mixed By – Marc Urselli Saxophone, Synth, Percussion [Electric Percussion] – Daniel Means Voice, Bass, Synth, Percussion [Electric Percussion], Guitar, Producer, Music By, Recorded By, Artwork – Toby Driver Notes Special thanks to those whose work has profoundly influenced this album: Peter Steele, Kazu Makino, Annie Lennox, Robert Smith, Peter Gabriel, Scritti Politti, Shannon Funchess, Bohren, Kings of Karaoke, Randall Dunn, Trey Spruance. Barcode and Other Identifiers Matrix / Runout: 8258 - FR49 081214 Mastering SID Code: IFPI LT05 Mould SID Code: IFPI A605 Barcode (Stickered): 7 23175 69931 1 Other (Mould ring): Rainbo CA Other versions Category Artist Title (Format) Label -
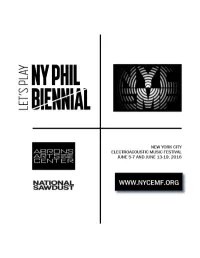
2016-Program-Book-Corrected.Pdf
A flagship project of the New York Philharmonic, the NY PHIL BIENNIAL is a wide-ranging exploration of today’s music that brings together an international roster of composers, performers, and curatorial voices for concerts presented both on the Lincoln Center campus and with partners in venues throughout the city. The second NY PHIL BIENNIAL, taking place May 23–June 11, 2016, features diverse programs — ranging from solo works and a chamber opera to large scale symphonies — by more than 100 composers, more than half of whom are American; presents some of the country’s top music schools and youth choruses; and expands to more New York City neighborhoods. A range of events and activities has been created to engender an ongoing dialogue among artists, composers, and audience members. Partners in the 2016 NY PHIL BIENNIAL include National Sawdust; 92nd Street Y; Aspen Music Festival and School; Interlochen Center for the Arts; League of Composers/ISCM; Lincoln Center for the Performing Arts; LUCERNE FESTIVAL; MetLiveArts; New York City Electroacoustic Music Festival; Whitney Museum of American Art; WQXR’s Q2 Music; and Yale School of Music. Major support for the NY PHIL BIENNIAL is provided by The Andrew W. Mellon Foundation, The Fan Fox and Leslie R. Samuels Foundation, and The Francis Goelet Fund. Additional funding is provided by the Howard Gilman Foundation and Honey M. Kurtz. NEW YORK CITY ELECTROACOUSTIC MUSIC FESTIVAL __ JUNE 5-7, 2016 JUNE 13-19, 2016 __ www.nycemf.org CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS 4 DIRECTOR’S WELCOME 5 LOCATIONS 5 FESTIVAL SCHEDULE 7 COMMITTEE & STAFF 10 PROGRAMS AND NOTES 11 INSTALLATIONS 88 PRESENTATIONS 90 COMPOSERS 92 PERFORMERS 141 ACKNOWLEDGEMENTS THE NEW YORK PHILHARMONIC ORCHESTRA THE AMPHION FOUNDATION DIRECTOR’S LOCATIONS WELCOME NATIONAL SAWDUST 80 North Sixth Street Brooklyn, NY 11249 Welcome to NYCEMF 2016! Corner of Sixth Street and Wythe Avenue. -

John Zorn Marathon Royce Triple Threat Featuring Abraxas, Secret Chiefs 3 & Bladerunner & the Hermetic Organ
John Zorn Marathon Royce Triple Threat featuring Abraxas, Secret Chiefs 3 & Bladerunner & The Hermetic Organ Sat, May 2 ROYCE TRIPLE THREAT 8pm – Abraxas: Psychomagia Royce Triple Threat Aram Bajakian Guitar Royce Hall Eyal Maoz Guitar 8pm Kenny Grohowski Drums RUNNING TIME: Shanir Blumenkranz Gimbri Approximately 3 hours; Two intermissions Intermission The Hermetic Organ 9pm – Secret Chiefs 3: Masada Book Two Royce Hall Trey Spruance Guitar Midnight Eyvind Kang Violin Ches Smith Drums RUNNING TIME: Approximately 45 minutes; Jason Schimmel Guitar No intermission Matt Lebofsky Keyboards Toby Driver Bass PRE-SHOW TERRACE EVENT: Round-Robin Duets: Intermission A Musical Improvisation 6:30 pm 10pm – Bladerunner Inspired by John Zorn’s improvisational John Zorn Sax techniques, a group of UCLA student Bill Laswell Bass musicians play a round-robin of s Dave Lombardo Drums pontaneous duets, culminating in a group imrov-jam session. THE HERMETIC ORGAN John Zorn Solo Organ Improvisations CAP UCLA SPONSOR: Supported in part by the Andrew W. Mellon Foundation ABOUT THE PROGRAM Although organ was Zorn’s first instrument (he often credits Lon Chaney MEDIA SPONSOR: in The Phantom of the Opera as a primal influence), in 2011 the saxophone great surprised even his hardcore fans by initiating a new series of solo organ concerts in churches around the world. The music is breathtaking, and distinguished by a spiritual mood that only a huge pipe organ like Royce Hall’s Skinner can create. A perfect outlet for Zorn’s dramatic sense of color and contrast, this performance reveals the composer’s mind at work in all its permutations. -

Interweavings.Towards a New View of The
1 INTERWEAVINGS Towards a new view of the relation between composition and improvisation by Nina Polaschegg Translated by Carl Bergstroem-Nielsen*) This article was first published as "Verflechtungen. Zur Neubestimmung des Verhältnisses von Komposition und Improvisation" in MusikTexte 114, August 2007. Our (German) official view of music history since 1945 is still centred on two paradigms which were developed within the Darmstadt Summer Courses. These are serialism on one hand including the reaction against it from the side of Cageians - and aleatorics and other strategies for opening up the musical work on the other. In composed music of today, aleatorics play only an insignificant role, just like strict serialism. Open structures in music works are exceptions within contemporary composition. Thus, the quasi official view of music concerns itself with positions stemming from the origin of New Music after 1950. They admittedly implied a radical thinking through of principal possibilities for employing a new view of the musical work. Consequently they also appeared necessary and revolutionary, but they have remained without a real succession. When employing this view, the dominant view of the developing new contemporary music represses or marginalises the fact that aleatorics and open work structures were only a small part of a diverse movement against the traditional notion of music, musician and musical work. And, remarkably, exactly these repressed dimensions of this reaction have lived on and unfolded a strong influence precisely in recent years. Improvisation plays a central role in these new views – and this is the case inside as well as outside the traditional context of New Music. -

Karis 2014 15 04
2 3 Letter from the Editor Karis team Well, that went fast, didn’t it? This year is Pedagóg Redakcia almost over with only one stack left to PhDr. Beáta Makovická Majka Sobčáková climb: Christmas. For me it is a particularly Radko Stolárik poignant time of year– a time to reflect on Šéfredaktor Marika Tisoňová the past 12 months, but also a chance to Mária Sobčáková Valentína Pechová look forward to new challenges. I must say Vanda Zaklaiová this year has been amazing and we have the Zástupca Adrián Mišala, readers, supporters and believers to thank for this. I loved 2014 but I am anticipating Lenka Rendková Martina Rievajová everything that 2015 has to offer. Ester Malá So there we have it, our last issue of the year. Korektori Alexandra Horkavá We hope you’ve enjoyed reading as much as Martin Hoľma Michaela Hanušiaková we have enjoyed making it! If you would like Ľubica Bystričanová Andrea Minichová to get involved putting it together please do Kristína Lukašíková Rebeka Niníková get in touch. We‘ll be taking a short break Alica Bednáriková now to put the lights on the tree and hide Grafici Denisa Schlossárová some gifts underneath it. But we‘ll be back Martin Miškolci Slávka Párovská Foto: Kristína Kocáková Kristína Foto: soon, promise. Rado Budoš Oh, and one more thing. Have a very merry Propagácia Helena Galbavá Christmas and remember to make 2015 your best year! Lenka Rendková (koordinátor) Natália Fačková Barbora Kačková Mária Rusnáková Marika Tisoňová Majka Sobčáková Michaela Hanušiaková Fotografi Editor-in-chief Radko Stolárik Juraj Pivoňka Andrea Minichová Peter Könyveš Miriama Bernátová Kristína Kocáková Lujza Kočíková Rebeka Niníková Katarína Cigániková Jana Kovácsová Jana Uhrinová 4 5 Názory „Tento rok už po druhýkrát pokračujeme v tradícii a vytvorili sme skvelé, nové číslo, ktoré je nadupané a preplnené zaujímavými článkami. -

Glasna Št. 2, Letnik 41 (Junij 2010)
revija Zveze Glasbene mladine Slovenije letnik 41, številka GlasbakotGlasbakot rrevolucija,evolu intervjuintervju z AlenkoAlenko PinteričPinte Skunk Anansie Anansie Niet Kino Šiška – urbano središče mladih Carmina slovenica Nina Prešiček, intervju Deep Purple 4,50 € JUNIJ 2010 9 771855 891006 Preden jo mahnemo Novice, Naši glasbeniki v tujini ............................................................................ 2 Pogovor z Dubravko Tomšič Srebotnjak ..................................................... 3 Pogledi skladatelja mlajše generacije na sedanjost na morje … in prihodnost glasbe ...................................................................................................... 5 Jules Massenet: Werther ............................................................................................. 6 Noctiferia in Erykah Badu .......................................................................................... 7 V času, ko smo priča vedno višjim temperaturam, ki kar vabijo v Novi profi li: Gašper Piano .......................................................................................... 8 južne in predvsem obmorske destinacije, se vzpenjajo tudi najra- Glasbeni dnevnik – Uroš Rojko .........................................................................10 zličnejše glasbene zvezde, med katerimi velja izpostaviti zlasti tri. Želim ti dober koncert! – intervju z Markom Soršakom ..........13 Najprej zmagovalko popularnega šova Slovenija ima talent, mlado Odkrito: Marko Letonja .............................................................................................14 -

Discographie
CHRISTIAN SCHOLZ UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE UND TYPOLOGIE DER LAUTPOESIE Teil III Discographie GERTRAUD SCHOLZ VERLAG OBERMICHELBACH (C) Copyright Gertraud Scholz Verlag, Obermichelbach 1989 ISBN 3-925599-04-5 (Gesamtwerk) 3-925599-01-0 (Teil I) 3-925599-02-9 (Teil II) 3-925599-03-7 (Teil III) [849] INHALTSVERZEICHNIS I. PRIMÄRLITERATUR 389 [850] 1. ANTHOLOGIEN 389 [850] 2. VORFORMEN 395 [865] 3. AUTOREN 395 [866] II. SEKUNDÄRLITERATUR 439 [972] III. HÖRSPIELE 452 [1010] ANHANG 460 [1028] IV. VOKALKOMPOSITIONEN 460 [1029] V. NACHWORT 471 [1060] [850] I. PRIMÄRLITERATUR 1. ANTHOLOGIEN Absolut CD # 1. New Music Canada. A salute to Canadian composers and performers from coast to coast. Ed. by David LL Laskin. Beilage in: Ear Magazine. New York o. J., o. Angabe der Nummer. Beiträge von Hildegard Westerkamp u. a. CD Absolut CD # 2. The Japanese Perspective. Ed. by David LL Laskin. Special Guest Editor: Toshie Kakinuma. Beilage in: Ear Magazine. New York o. J., o. Angabe der Nummer. Beiträge von Yamatsuka Eye & John Zorn, Ushio Torikai u. a. CD Absolut CD # 3. Improvisation/Composition. Beilage in: Ear Magazine. New York o. J., o. Angabe der Nummer. Beiträge von David Moss, Joan La Barbara u. a. CD The Aerial. A Journal in Sound. Santa Fe, NM, USA: Nonsequitur Foundation 1990, Nr. 1, Winter 1990. AER 1990/1. Mit Beiträgen von David Moss, Malcolm Goldstein, Floating Concrete Octopus, Richard Kostelanetz u. a. CD The Aerial. Santa Fe, NM, USA: Nonsequitur 1990, Nr. 2, Spring 1990. AER 1990/2. Mit Beiträgen von Jin Hi Kim, Annea Lockwood, Hildegard Westerkamp u. a. CD The Aerial. -

Aalborg Universitet Experimental Improvisation
Aalborg Universitet Experimental improvisation practise and notation. Addenda 2000- Bergstrøm-Nielsen, Carl Publication date: 2015 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Bergstrøm-Nielsen, C. (2015). Experimental improvisation practise and notation. Addenda 2000-: Pdf edition. Intuitive Music Homepage. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. ? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. ? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain ? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: juni 19, 2017 EXPERIMENTAL IMPROVISATION PRACTISE AND NOTATION. AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY. by Carl Bergstrøm-Nielsen. This is a pdf version. Please note that there is both the "old" department, 1945-1999 – and addenda for since then. Two separate volumes. The html editions may be slightly more updated. They can be found at http:/www.intuitivemusic.dk/iima/cbn.htm Please note that the hyperlinks in this version may not work because the document is converted from html. -

Jazz Inside NY
WWW.JAZZINSIDEMAGAZINE.COM APRIL 2012 Interviews Rudresh Mahanthappa Todd Barkan on Keystone Korner and More! Nick Moran Kate McGarry Romain Collin CD Reviews Comprehensive Directory of NY Club Concert & Event Listings Julian FeaturedJulian with the Jim Hall Quartet Blue Note, April 17-22 LageLage The Jazz Music Dashboard — Smart Listening Experiences www.CapriRecords.com www.WataruUchida.net www.MackAvenue.com www.boosweet.com Scan this with your mobile device for a great deal! Like Us facebook.com/JazzInsideMedia Follow Us twitter.com/JazzInsideMag Watch Us youtube.com/JazzInsideMedia TJC13_Ad_Main.pdf 1 2/14/12 4:45 PM 12TH ANNUAL SAIL WHERE ING OF THE LEGENDS HAVE PLA TH YED & E THE JA Ernie Adams Bruce Forman TRA ZZ DIT C John Allred • GOSPEL SHOW HOST I Wycliffe Gordon ON RU Karrin Allyson Trio Jimmy Greene CON I Shelly Berg • MUSIC DIRECTOR T S Jeff Hamilton INU E Wayne Bergeron Niki Harris ES Alonzo Bodden • COMEDIAN Tommy Igoe Sextet ! Randy Brecker Sean Jones C Ann Hampton Callaway Quartet Tom Kennedy M Anat Cohen Joe LaBarbera Y Emmet Cohen Trio Jay Leonhart CM Freddy Cole Andy Martin MY Bill Cunliffe New York Voices CY Gary Burton Quartet Dick Oatts CMY Clayton Brothers Quintet Eddie Palmieri-Brian Lynch Jazz Quartet K Pete Christlieb Ken Peplowski • SHOW HOST Joey De Francesco Trio Houston Person Quartet Kurt Elling Trio George Rabbai John Fedchock • BIG BAND DIRECTOR Eric Reed David Finck Ted Rosenthal Arturo Sandoval Gary Smulyan TO L L -FREE US & C ANADA Byron Stripling Quartet JAN. 27-FEB. 3 888.852.9987 Jennifer Wharton TOLL -FREE I NTERNA TIONAL Dennis Wilson 2013 800.852.99872 Steve Wilson THEJAZZCRUISE.COM Phil Woods Quintet FT. -
Kayo Dot Coyote Mp3, Flac, Wma
Kayo Dot Coyote mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Jazz / Rock Album: Coyote Country: US Released: 2010 Style: Avantgarde, Experimental, Prog Rock MP3 version RAR size: 1658 mb FLAC version RAR size: 1749 mb WMA version RAR size: 1622 mb Rating: 4.1 Votes: 810 Other Formats: WAV AIFF MMF MIDI MP1 VOC MP4 Tracklist In Five Parts A.I Calonyction Girl 7:55 A.II Whisper Ineffable 11:13 B.III Abyss Hinge 1: Sleeping Birds Sighing In Roscolux 3:44 B.IV Abyss Hinge 2: The Shrinking Armature 13:38 B.V Cartogram Out Of Phase 3:07 Companies, etc. Recorded At – Aleph Studios Mixed At – Aleph Studios Mastered At – Sinister Kitchen Laboratories Copyright (c) – Kayo Dot Phonographic Copyright (p) – Taiga Records Licensed From – Hydra Head Records Pressed By – GZ Digital Media – 89203E Credits Alto Saxophone – Daniel Means Artwork [Drawings & Paintings & Other Artworks] – Toby Driver Bass Guitar, Vocals – Toby Driver Composed By – Kayo Dot, Toby Driver Drums, Gong, Percussion [Other] – David Bodie Layout [Layout Construction] – Loaf Nest Lyrics By – Yuko Sueta Mastered By – Mell Dettmer Producer [Produced By], Recorded By, Mixed By – Randall Dunn, Toby Driver Synth [All Synths], Keyboards, Organ [Organs], Piano [Pianos], Tenor Saxophone – Terran Olson Trumpet, French Horn – Tim Byrnes Violin, Violin [Electric], Guitar – Mia Matsumiya Notes Recorded and mixed at Aleph. Mastered at Sinister Kitchen in Seattle, WA, June-July 2009. Special thanks to Matthew Welch for helping develop this piece. "Coyote" is dedicated to Yuko Sueta. © 2010 Kayo Dot ℗ 2010 TAIGA records Licensed from Hydra Head Records Limited edition of 400 copies, cut direct to metal and pressed on 200g black virgin vinyl, with full- color labels, housed in a printed 200lb art paper, and the letterpress jacket has notches at the opening where the ends of a 28 x 7 inch belt tuck in. -
Freakshow: THREE LEAPS to KAYO DOT
BAD 69 ALCHEMY 1 Für Listophile: www.discogs.com/lists/Bad-Alchemystic-Music-THE-BEST-OF-2004-2010/27060 Dank an LeLange 2 Freakshow: THREE LEAPS TO KAYO DOT Der kurze Winterschlaf der Würzburger Freaks endet am 7.2.2011, denn Charly Heidenspaß bietet im Cairo schon wieder Attraktionen mit Anwesenheitspflicht. Toby Driver & Co. aus New York sind ange- sagt, mit dem Versprechen, uns in drei Sprüngen in ‚düstere Gothic- Avantgardegefilde‘ mitzunehmen. Den Auftakt macht aber JERE- MIAH CYMERMAN (Simmer-man gesprochen), ein Mann mit ver- wegener Mütze und expressionistisch überproportionierten Holz- schnitt-Fingern, der den Sound seiner Klarinette durch einen Laptop jagt. Alles, was er da, teils ohne Mundstück, fiept und röhrt, balan- ciert auf messerscharfer Kakophonie. Das wurde nicht zufällig auf Tzadik präsentiert, der ersten Adresse für Jewish Avant Culture. Als Cybertech-Klezmer flatterzüngelt, kirrt und heult Cymerman mit lyrisch-melodischen und Dibbuk-Zungen zugleich. So eine radikale und doch beherrschte elektro-akustische Improvisation bekommt man nicht alle Tage geboten. Über verblüfft bis erschreckt aufge- rissene Augen hinaus bleibt der Eindruck eines Risses, der starke Magie von lauem Kinderkram scheidet. Cymerman bleibt nach seinen 20 Min. einfach sitzen für TARTAR LAMB 2, der nächsten Lektion in Sachen Jetzt-Musik. Tartar Lamb ist Kayo Dot ohne Schlagzeug, mehr oder weniger. Toby Driver wuchtet mit seinem E-Bass und zwei Saxophonisten zur Linken und einem Keyboarder im Hindergrund komponierte Bauteile. Die Durch- schlagskraft wird bewusst von träumerischen Abschweifungen gebremst und ungewollt vom übersteuerten Sound. Dennoch reizt dieser Nicht-Rock-Nicht-Jazz durch die eigenwillige Strenge und entfaltet durch das Unisono der Bläser und den gravitätischen Bass etwas Feierliches. -

The History of Rock Music: the 2000S
The History of Rock Music: The 2000s History of Rock Music | 1955-66 | 1967-69 | 1970-75 | 1976-89 | The early 1990s | The late 1990s | The 2000s | Alpha index Musicians of 1955-66 | 1967-69 | 1970-76 | 1977-89 | 1990s in the US | 1990s outside the US | 2000s Back to the main Music page (Copyright © 2006 Piero Scaruffi) Intellectuals (These are excerpts from my book "A History of Rock and Dance Music") As it is often the case with rock genres, "post-rock" had become a term encompassing more than one style, and sometimes simply differentiating the non-song format from the song format. There were three main schools: the "ebbing and flowing" style of post-rock (as in God Speed You Black Emperor and Mogwai), the brainy jazz-influenced style of post-rock (Tortoise), and the original style of post-rock, that was simply a form of non-linear instrumental music (Slint, Don Caballero). Prog-rock, by comparison, tended to be more exuberant (if not bombastic) and more about the technical skills of the musicians. Ambient, noise, glitch and world music all contributed to further confuse the tongue of post-rock. Post-rock in Chicago TM, ®, Copyright © 2008 Piero Scaruffi All rights reserved. Aesthetically speaking, being "post" something was the artistic manifesto of many in the 2000s. It was basically a generalization of post-modernism: not only pushing the boundaries of existing styles, but reinventing, reinterpreting, recontextualizing them and, ultimately, dismantling them. Chicago's school of post-rock was still alive and kicking in the 2000s, although its focus and scope was rapidly shifting towards the digital soundscape.