Os Diferentes Sentidos De Se Okupar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Claudio Cattaneo Can Masdeu, Camì De St.Latzer S/N Tel. +34 644116328
Claudio Cattaneo Can Masdeu, Camì de st.Latzer s/n Tel. +34 644116328 08035 Nou Barris – Barcelona / Spain E-mail: [email protected] Citizenship: Italian Actual positions: Visiting professor at LIUC university (undergraduate course Introduction of Ecological Economics) Visiting professor at University of Edinburgh (part of MSc course Applications in Ecological Economics) Researcher MOVOKEUR project (Analysis of the squatters' movement, case studies: Barcelona, Europe) Associate researcher ICTA-UAB Member of Research and Degrowth Catalonia Research Interests: urban movements, degrowth, self-organization, human ecology, political ecology, rural-urban interactions. Interested in sustainable lifestyles (i.e. self-organized communities, co-housing), with experience in energy and material analysis of social metabolisms. Wide use of participant observation methodology. Applied experience with rural organic agriculture (restoration of soil fertility and adoption of sustainable techniques) and management of rural-urban commons. Education and training: 2009 PhD in Environmental Sciences –Ecological Economics and Environmental Management Autonomous University of Barcelona, Catalonia Thesis: “The Ecological Economics of Urban Squatters in Barcelona”. Supervisors: Prof. Joan Martinez Alier and Dr. Lupicinio Iňiguez Final mark: Excellent 2007 DEA (Diploma of Advanced Studies) in Environmental Sciences Autonomous University of Barcelona, Catalonia Thesis: “El estilo de vida de los neorurales: esquemas de producciòn y consumo y anàlisis del discurso”. Supervisors: Prof. Joan Martinez Alier and Dr. Lupicinio Iňiguez Final mark: Excellent 2000-2001 MSc in Ecological Economics University of Edinburgh, Scotland Thesis: “Modelling Participatory Approaches in a Multi-Criteria Policy Issue. The Case of Wine Making in Cinque Terre National Park, Italy”. Supervisor: Dr. David Oglethorpe Final mark: 68% 1993-1997 Laurea in Business Administration Università Carlo Cattaneo, Italy Thesis: “Il fenomeno delle mode, un’analisi economica” (An economic analysis of fashion phenomena). -

Agroecologia Periurbana a Sant Cugat Document Base Per a La Redacció Del Pla De Gestió I Desenvolupament Del Parc Rural De La Torre Negra
Agroecologia periurbana a Sant Cugat Document base per a la redacció del Pla de Gestió i Desenvolupament del parc rural de la Torre Negra DIRECTORA AUTORA Mariona Espinet Aitana Martín-Aragón Departament d’educació de les Ciències Ambientals ciències experiemtals i les matemàtiques AMB LA COL·LABORACIÓ DE: German Llerena, Tècnic d’Educació Ambiental de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 26 de Setembre de 2007 L’agricultura del futur serà ecològica o no serà...assegurar aquesta agricultura és assegurar el nostre futur Guzman, J AGRAIMENTS La realització d’aquest projecte no hagués estat mai possible sense la participació, col·laboració i seguiment que han realitzat durant tot aquest període la Mariona Espinet com a Directora i el German Llerena com a col·laborador. També vull agrair a l’Ajuntament de Sant Cugat, en especial a l’Àrea de Medi Ambient, per haver-me brindat d’aquesta oportunitat, i als diversos tècnics de l’Àrea per les seves col·laboracions, molt especialment a la Meritxell, el Sergi i la Laura, per haver-me facilitat molta informació i els mapes que s’han fet servir. Es mereixen un agraïment especial el Guillem Herrera i a la Neus Branes, per la seva participació i implicació en el projecte, i també a la meva família per la seva comprensió. D’altra banda, vull agrair les diverses col·laboracions i atencions donades per: El Centre d’Estudis Ambientals de Vitoria-Gasteiz, el Josep Muntasell (president del parc agrari del Baix Llobregat), el Joan Villahonrat (president del Consorci de l’espai rural de Gallecs) el Miquel Baldi (gerent del parc agrari de Sabadell), la família Falappi (pagesos i promotors del parco di Ticinello (Andrea, Luisa, Avia Luisa, Manuela, Rosalinda i marco), en Cesare Salvetat, (Funcionari de la Direzziones Centrale de sviluppo del Territorio, Area urbanística, del Comune di Milano), Pedro Rocha i família (Lyra i Sara) del proyecto Raizes, Porto i al Joao Martin i la Mariana Peres de la associació “Tierra” que duen a terme el Proyecto Criando Raizes. -

Abstracts.Pdf
Abdelbary, Kareem Social Justice Platform (University of Manchester) Shokran Bank Misr: Inventing Egypt’s 20th Century Economic Nationalism Myth. Today, wandering through the streets of Cairo, one would take no time to notice the over-flooding of “Tal’at Harb raga’a” billboards. The campaign was launched in 2017 by Bank Misr, one of Egypt’s largest state-owned banks, propagating for its services in financing small and medium-sized enterprises. Historically, the bank was established by Harb in 1920 in the aftermath of events known as Egypt’s 1919 revolution. So, it continues to be held as a nationalist symbol. Indeed, the tactic of calling on Tala’at Harb [the godfather of Egypt’s economic nationalism] among the ‘ordinary’ citizen, is not unprecedented or alien and was used in earlier campaign titled “Shokran Bank Misr” among others. The popular narrative [found in official circulars and main sources written by both Egyptian liberal and leftist intellectuals] contends that 1919 was a movement uniting Egyptians of different classes, calling for independence from the British occupation. Further, is this narrative’s emphasis on 1919’s economic nationalism, embodied in projects such as Bank Misr, as the blueprint not just to prosperity and welfare but also to economic independence. Altogether, this depiction coincides with the current regime’s nationalistic rhetoric about mega-nationalist project. By presenting [read utilizing] that era’s model as inspiration, the regime is trying to legitimize its neoliberal inspirations while reviving a nationalistic sentiment among the masses to secure public consent. Analogously, it creates a propagandistic mirroring which fetishizes the 1919’s model. -

Llamadadelcuernonº30
! Nº30! https://colectivosrurales.wordpress.com! ! Boletin de Agitaciòn Rural !!!!!!! ! ! !…!Autonomía!campesina!desurbanizando!el!horizonte…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1! ! Editorial! inpuesto; creciendo commo patateras insumisas. Hay seguimos sin subbenciones, levantando pueblos por nosotr@s mismas proyectos veteranos proyectos Desde la redaccion en el exilio. 7 rurbanos proyectos que siguen en pie luchando dignamente contra la enero 2018 despoblacion otros que sin mas Otra vez resurguio la « llamada» desaparecieron ; quizas por falta de desde las cenizas de nuestras herramientas de comunicacion, por estufas fenixs. Nos tiremos al vacio su aislamiento o .... simplemente, con nuestro gran company martain a por el destino. Espacios que hay editar este nuevo numero, con una resisten abiertos a nuevas gran novedad para est que sera generaciones creando nuevas radiofonado, atraves de un nuevo formas de vidas. Mas libres mas proyecto de radio libre en el valle de solidarias, intentando hacer lo que caldearenas un proyecto colectivo una persona necesita para su donde gentes de sieso forman parte, emancipacion; sentirse realizada con poder agilizar noticias, buzon de nuestra relacion con la tierra la voz; entrevistas e.t.c en el valle de dignidad de tener una vivienda ; caldearenas en el 102 .2 en alimentacion; relacciones al margen cualquier parte del mundo a traves de este corrosivo sistema desde aqui de : dar animos aunque hayan momentos complicados momentos www.radioespiritrompa. en que el sistema ensenya su Y como no la gran celebracion -

Occupation Culture Art & Squatting in the City from Below
Minor Compositions Open Access Statement – Please Read This book is open access. This work is not simply an electronic book; it is the open access version of a work that exists in a number of forms, the traditional printed form being one of them. All Minor Compositions publications are placed for free, in their entirety, on the web. This is because the free and autonomous sharing of knowledges and experiences is important, especially at a time when the restructuring and increased centralization of book distribution makes it difficult (and expensive) to distribute radical texts effectively. The free posting of these texts does not mean that the necessary energy and labor to produce them is no longer there. One can think of buying physical copies not as the purchase of commodities, but as a form of support or solidarity for an approach to knowledge production and engaged research (particularly when purchasing directly from the publisher). The open access nature of this publication means that you can: • read and store this document free of charge • distribute it for personal use free of charge • print sections of the work for personal use • read or perform parts of the work in a context where no financial transactions take place However, it is against the purposes of Minor Compositions open access approach to: • gain financially from the work • sell the work or seek monies in relation to the distribution of the work • use the work in any commercial activity of any kind • profit a third party indirectly via use or distribution of the work • distribute in or through a commercial body (with the exception of academic usage within educational institutions) The intent of Minor Compositions as a project is that any surpluses generated from the use of collectively produced literature are intended to return to further the development and production of further publications and writing: that which comes from the commons will be used to keep cultivating those commons. -

Los Huertos Urbanos Y La Agricultura En La Construcción De La Ciudad Lineal....200 9.4 Semillas De Cambio En La Escuela: La Institución Libre De Enseñanza
Dedicamos este libro a todas las personas que han cultivado verduras y relacio- nes sociales en la periferia de la historia, en especial a las gentes del Centro Social SECO. Y también a nuestros familiares y amigos/as, a quienes les hemos sustraído parte del tiempo dedicado a redactarlo. Agradecemos a Yayo Herrero, Olga Abasolo y Edurne Errazkin los consejos y sugerencias, así como la ardua tarea de revisión y corrección de este libro. A Miguel Brieva le debemos el sugerente diseño de la portada. También queríamos destacar la colaboración de Gregorio Ballesteros, Luis Fernández, Felix López Rey y José Luis Oyón, por dejarse entrevistar y ofrecernos pistas para seguir con nuestras indagaciones. Esta segunda edición mejorada y corregida ha contado con las sugerencias y correciones de Uxue Arbe, una de las personas que con más cariño ha leído este texto. Agradecerle su inestimable complicidad con el libro. Consejo Editorial de Libros en Acción: Olga Abasolo, Miguel Brieva, José Luis Fernández-Casadevante, José García, Belén Gopegui, Yayo Herrero, Valentín Ladrero Raíces en el asfalto Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana José Luis Fernández Casadevante Kois y Nerea Morán Título: Raíces en el asfalto Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana Autores: José Luis Fernández Casadevante Kois y Nerea Morán Portada: Miguel Brieva Edita: Libros en Acción La editorial de Ecologistas en Acción, C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid, Tel: 915312739, Fax: 915312611, [email protected] www.ecologistasenaccion.org © Ecologistas en Acción y los autores/as Primera edición: febrero 2015 Segunda edición: mayo 2016 Impreso en papel 100% reciclado, ecológico, sin cloro. -

Landscape As a Resource for Squat Farming
DOI: 10.1515/ahr-2014-0009 Acta horticulturae et regiotecturae 2/2014 Attila TÓTH, Ľubica FERIANCOVÁ Acta horticulturae et regiotecturae 2 Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2014, p. 35–37 LANDSCAPE AS A RESOURCE FOR SQUAT FARMING Attila TÓTH*, Ľubica FERIANCOVÁ Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia The contemporary Urban Agriculture (UA) is represented by a range of diverse farming typologies taking place in the urban environment. Nowadays, there is an unconventional form of UA called squat farming. The research object of this paper is represented by the case study of Can Masdeu which stands for a squatted and cultivated land at the northern city border of Barcelona. The goal of our Short Term Scientific Mission carried out in the Barcelona Metropolitan Region was to define and study diverse typologies of UA at different levels and scales. One of these types is represented by the ongoing phenomenon of squat farming. Concerning this form, there are two main research questions: 1) How are landscape and urban structures influenced and formed by the activity of land cultivation? and 2) How is the social dimension of squat farming structured – who are the users, what is their motivation, aim and vision? To answer the first research question, we applied spatial and perceptual analyses, and concerning the second research question, the users have been interviewed within discussions and questionnaires. The results include characteristics of spatial and social dimensions of squat farming described on the case study of Can Masdeu. Keywords: squat farming, urban agriculture, spatial and perceptual analysis The occurrence of squatting in Barcelona has been Spatial and perceptual analysis noticeably increasing since the last decade as a reaction on Our analysis focuses on 1) spatial situations (how UA appears high real estate prices due to realty speculations. -

Squatting in Europe: Radical Spaces, Urban Struggles Edited by the Squatting Europe Kollective
Squatting in Europe: Radical Spaces, Urban Struggles Edited by the Squatting Europe Kollective <.:.Min0r.:.> .c0mp0siti0ns. Squatting in Europe: Radical Spaces, Urban Struggles Edited by the Squatting Europe Kollective ISBN 978-1-57027-257-8 Cover design by Haduhi Szukis Interior design by Margaret Killjoy Editorial Support: Joshua Eichen, VyVy, Miguel A. Martínez, Hans Pruijt, and Stevphen Shukaitis Cover Image: CSO Los Blokes Fantasma from the district Gracia in Barcelona Inside cover image: Tina Helen Released by Minor Compositions 2013 Wivenhoe / New York / Port Watson Minor Compositions is a series of interventions & provocations drawing from autonomous politics, avant-garde aesthetics, and the revolutions of everyday life. Minor Compositions is an imprint of Autonomedia www.minorcompositions.info | [email protected] Distributed by Autonomedia PO Box 568 Williamsburgh Station Brooklyn, NY 11211 www.autonomedia.org [email protected] Contents Preface . 1 Margit Mayer Introduction . 11 . Miguel Martínez, Gianni Piazza and Hans Pruijt Squatting in Europe . .17 . Hans Pruijt Resisting and Challenging Neoliberalism: . 61. Pierpaolo Mudu How do activists make decisions within Social Centres? . 89. Gianni Piazza The Squatters’ Movement in Spain . 113. Miguel A. Martínez López Urban squatting, rural squatting and the ecological-economic perspective . 139 Claudio Cattaneo Squatting And Urban Renewal . 161 Andrej Holm and Armin Kuhn Have squat, will travel . 185 Lynn Owens Configurations of squats in Paris and the Ile-de-France Region . 209 Thomas Aguilera What is a “good” squatter? . 231 . Florence Bouillon Moving towards criminalisation and then what? . .247 ETC Dee About the Authors . 269. About the Squatting Europe Kollective . 273. Preface Margit Mayer Thanks to the Occupy movement, the call to squat is once again raised more widely and acted upon with increasing frequency. -
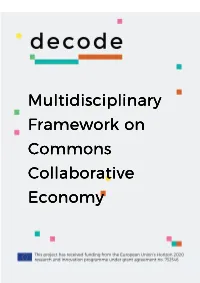
Multidisciplinary Framework on Commons Collaborative Economy
Multidisciplinary Framework on Commons Collaborative Economy H2020–ICT-2016-1 DECODE D.2.1 Multidisciplinary framework on commons collaborative economy 0 0 Project no. 732546 DECODE DEDEDEcentralisedDE centralised Citizens Owned Data Ecosystem D2.1 Multidisciplinary Framework on Commons Collaborative Economy Version Number: V1.3 Lead beneficiary: IN3 UOC Due Date: July 2017 Author(s): Mayo Fuster Morell (Principal investigator), Bruno Carballa Smichowski, Guido Smorto, Ricard Espelt, Paola Imperatore, Manel Rebordosa, Marc Rocas, Natalia Rodríguez, Enric Senabre (Dimmons IN3 UOC), Marco Ciurcina (NEXA) Editors and reviewers: Francesca Bria (IMI), Eleonora Bassi (NEXA), Marco Ciurcina (NEXA), and Stefano Lucarelli (CNRS). Dissemination level: PU Public PP Restricted to other programme participants (including the Commission Services) Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission RE Services) Confidential, only for members of the consortium (including the Commission CO Services) Approved by: Francesca Bria (IMI) Date: 31/07/2017 This report is currently awaiting approval from the EC and cannot be not considered to be a final version. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License . H2020–ICT-2016-1 DECODE D.2.1 Multidisciplinary framework on commons collaborative economy 1 Table of Contents Table of Contents ......................................................................................................................................... -

Urban Movements and Municipalist Governments in Spain: Alliances, Tensions, and Achievements
Social Movement Studies ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/csms20 Urban movements and municipalist governments in Spain: alliances, tensions, and achievements Miguel A. Martínez & Bart Wissink To cite this article: Miguel A. Martínez & Bart Wissink (2021): Urban movements and municipalist governments in Spain: alliances, tensions, and achievements, Social Movement Studies, DOI: 10.1080/14742837.2021.1967121 To link to this article: https://doi.org/10.1080/14742837.2021.1967121 © 2021 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. Published online: 22 Aug 2021. Submit your article to this journal View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=csms20 SOCIAL MOVEMENT STUDIES https://doi.org/10.1080/14742837.2021.1967121 Urban movements and municipalist governments in Spain: alliances, tensions, and achievements Miguel A. Martínez a and Bart Wissink b aIBF (Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden; bCity University of Hong Kong, Hong Kong, China ABSTRACT ARTICLE HISTORY In 2011 the 15 M movement occupied squares across Spain Received 30 October 2019 demanding true democracy. Four years later, bottom-up municip Accepted 11 June 2021 alist initiatives won the 2015 local elections in seven medium-size KEYWORDS and large cities. In coalition with traditional parties, these initiatives Urban movements; formed new left-wing governments that incorporated former acti municipalism; influence of vists as mayors and councilors. This history has sparked debates social movements; outcomes about the consequences of co-optation, institutional alliances, and of social movements; policy state openness to social movements. -

El Movimiento Okupa: Prácticas Y Contextos Sociales
¿Dónde están… M1 (filmar) 16/6/14 10:27 Página 3 ¿Dónde están… M1 (filmar) 16/6/14 10:27 Página 4 RAMÓN ADELL ARGILÉS PROFESOR TITULAR DE CAMBIO SOCIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE LA UNED. [email protected] HTTP://WWW.UNED.ES/DPTO- SOCIOLOGIA-I/ADELL/WEBRAMON.HTM JAVIER ALCALDE VILLACAMPA LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN. DOCTORANDO EN TEORÍA POLÍTICA, TEORÍA DEMOCRÁTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. [email protected] JAUME ASENS LLODRÀ LICENCIADO EN DERECHO Y FILOSOFÍA. DOCTORANDO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA DE BARCELONA. [email protected] ROBERT GONZÁLEZ GARCÍA LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y EN SOCIOLOGÍA. DOCTORANDO EN EL INSTITUTO DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. [email protected] VIRGINIA GUTIÉRREZ BARBARRUSA LICENCIADA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA Y MASTER EN INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO LOCAL POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. [email protected] TOMÁS HERREROS SALA PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y EN LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA. [email protected] MARTA LLOBET ESTANY PROFESORA DE SOCIOLOGÍA EN LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. [email protected] MARINA MARINAS SÁNCHEZ PROFESORA TITULAR DE SOCIOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN Y DE ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. [email protected] MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA Y DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS. INVESTIGADOR EN LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA. [email protected] HANS PRUIJT PROFESOR DE SOCIOLOGÍA EN LA ERASMUS UNIVERSITEIT RÓTTERDAM. -

Educación Y Soberanía Alimentaria” Barcelona, Octubre 13, 14 Y 15 Del 2011
2 Memoria del congreso ESF-AECID: “Educación y Soberanía Alimentaria” Barcelona, octubre 13, 14 y 15 del 2011. “Está publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de “NOMBRE ENTIDAD” y no refleja necesariamente la opinión de la AECID”. Comité de Redacción: Lourdes Lorente, Laia Farrera y Patrick Baneton. Congreso ESF “Educación y soberanía alimentaria” 3 Tabla de contenido 1.) Introducción ........................................................................................................................... 5 1.1) Antecedentes ................................................................................................................................. 6 1.2) Objetivos del congreso ............................................................................................................... 7 1.3) Resultados esperados ................................................................................................................ 7 1.4) Público del congreso ................................................................................................................... 8 1.5) Metodología ................................................................................................................................... 9 2.) El congreso ........................................................................................................................... 11 2.1) Ponencias plenarias