Universidade De Santa Cruz Do Sul Programa De Pós
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
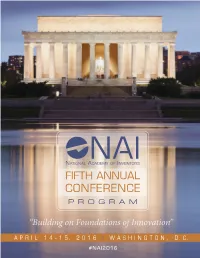
View Program
“Building on Foundations of Innovation” #NAI2016 Addressing Problems Worth Solving The challenges we are confronting worldwide are both complex and daunting. In the next 20 years, the most important inventions will be those that address critical social and environmental issues, reaching and serving communities with the greatest needs. These inventions will deliver meaningful change, solve urgent problems, and create sustainable economic value for all. The Lemelson Foundation focuses on problems that are worth solving—and not simply problems that can be solved. We recognize the need for a strong supportive invention ecosystem to make this happen. We seek to inspire inventors to know that they can make a difference. We work to ensure that the next generation of inventors can become agents of positive change. Find out more about how we provide support to foster inventions to improve lives at: www.lemelson.org/impactinventing TABLE OF CONTENTS Welcome Letter from the NAI President .......... 2 Summary Conference Agenda ........................... 3 Detailed Conference Agenda ..........................4-9 About the NAI ................................................... 10 NAI Board of Directors & Officers ................. 11 Conference Program Committee .................... 11 NAI Federal Charter ......................................... 12 Q & A About H.R. 849 ...................................... 13 Elected 2015 NAI Fellows ................................ 14 “Building on Presenter & Speaker Biographies .............. 15-28 Meet the NAI Staff ....................................... 29-30 Foundations of Innovation” Sustaining Member Institutions ................ 31-32 Member Institution Representatives ......... 33-35 or the fifth anniversary meeting, we celebrate the American spirit F Maps of Conference Venue Locations ...... 36-38 of ingenuity with the theme “Building on Foundations of Innovation.” Throughout the conference program, we will explore the interaction Thank you to Our Sponsors ...................... -

Inovação, Universidade E Relação Com a Sociedade = Innovation
INNOVATION, UNIVERSITY AND RELATIONSHIP WITH SOCIETY INOVAÇÃO, UNIVERSIDADE E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Chanceler: Dom Dadeus Grings Reitor: Joaquim Clotet Vice-Reitor: Evilázio Teixeira Conselho Editorial: Antônio Carlos Hohlfeldt Elaine Turk Faria Gilberto Keller de Andrade Helenita Rosa Franco Jaderson Costa da Costa Jane Rita Caetano da Silveira Jerônimo Carlos Santos Braga Jorge Campos da Costa Jorge Luis Nicolas Audy (Presidente) José Antônio Poli de Figueiredo Jussara Maria Rosa Mendes Lauro Kopper Filho Maria Eunice Moreira Maria Lúcia Tiellet Nunes Marília Costa Morosini Ney Laert Vilar Calazans René Ernaini Gertz Ricardo Timm de Souza Ruth Maria Chittó Gauer EDIPUCRS: Jerônimo Carlos Santos Braga – Diretor Jorge Campos da Costa – Editor-chefe Jorge Luis Nicolas Audy Marília Costa Morosini (Orgs.) INNOVATION, UNIVERSITY AND RELATIONSHIP WITH SOCIETY INOVAÇÃO, UNIVERSIDADE E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE PORTO ALEGRE 2009 © EDIPUCRS, 2009 Capa: Vinícius Xavier PREPARAÇÃO DE ORIGINAIS: Tradutores: Ana Maria Tramunt Ibaños Cristina Lopes Perna Erica Foerthmann Schultz Heloísa Orsi Koch Delgado Karina Veronica Molsing Simone Sarmento Vera Müller Diagramação: Gabriela Viale Pereira Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) I58 Innovation, university and relationship with society [recurso eletrônico] = Inovação, universidade e relação com a sociedade / Jorge Luis Nicolas Audy, Marília Costa Morosini (Orgs.). – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : EDIPUCRS, 2009. 281 p. Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web: http://www.pucrs.br/orgaos/edipucrs/ ISBN 978-85-7430-871-5 (on-line) 1. Ensino Superior. 2. Universidade – Aspectos Sociais. 3. Universidade e Sociedade. 4. Responsabilidade Social. I. Audy, Jorge Luis Nicolas. II. -

Report 2012 – 2014
Report 2012 – 2014 Max Planck Institute for Social Law and Social Policy Report 2012 – 2014 Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich CONTENT OVERVIEW Content Overview Preface 13 I. Foreign and International Social Law 15 1. Introduction 16 2. Projects 29 3. Promotion of Junior Researchers 57 4. Events 74 5. Publications 80 6. Papers and Lectures 89 7. Guests 98 8. Honours 101 9. Work of Institute Members in External Bodies 101 10. Expert Opinions 103 11. Alumni 104 II. Munich Center for the Economics of Aging (MEA) 107 1. MEA: Overview 108 2. Research Projects 122 3. Support of Junior Scientists 178 4. Public Policy Advice and Media Impact 189 5. Publications 195 6. Presentations 204 7. Teaching 219 8. Refereeing 220 9. Events Organized by MEA 221 10. Guests 224 11. Honours, Awards, Grants 228 12. Memberships, Editorships, other Academic Activities and Affiliations 230 13. Cooperations 230 14. Third Party Funding 240 III. Max Planck Fellow Group: Inclusion & Disability 241 1. Introduction 242 2. Projects 244 3. Events 253 4. Publications 256 5. Papers and Lectures 258 6. Honours 266 7. Work of Members of the Fellow Group in External Bodies 267 8. Expertises 268 9. Dissertation 268 1 REPORT 2012 – 2014 IV. Joint Projects 269 1. Portability Corridor Study 270 2. Population Europe Resource Finder and Archive (Perfar) 270 3. Annual Conferences 271 4. EU Commissioner László Andor Visits the Max Planck Institute for Social Law and Social Policy 275 5. Joint Social Law-MEA Seminars 276 6. Inclusion and Social Space – Disability Law and Disability Policy on the Communal Level 279 7. -

Tecno 1 P001-035 Fin.P65
Parque Científico e Tecnológico da PUCRS Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Chanceler: Dom Dadeus Grings Reitor: Joaquim Clotet Vice-Reitor: Evilázio Teixeira Conselho Editorial: Alice Therezinha Campos Moreira Ana Maria Tramunt Ibaños Antônio Carlos Hohlfeldt Draiton Gonzaga de Souza Francisco Ricardo Rüdiger Gilberto Keller de Andrade Jaderson Costa da Costa Jerônimo Carlos Santos Braga Jorge Campos da Costa Jorge Luis Nicolas Audy (Presidente) José Antônio Poli de Figueiredo Lauro Kopper Filho Maria Eunice Moreira Maria Helena Menna B. Abrahão Maria Waleska Cruz Ney Laert Vilar Calazans René Ernaini Gertz Ricardo Timm de Souza Ruth Maria Chittó Gauer EDIPUCRS Jerônimo Carlos Santos Braga – Diretor Jorge Campos da Costa – Editor-chefe TECNOPUC – Parque Científico e Tecnológico da PUCRS Roberto Astor Moschetta – Diretor Rui Jung Neto – Administrador Edemar A. W. de Paula – Gestor de Relacionamentos Sandra Becker – Relações Públicas Patrícia Casagrande – Apoio Administrativo INOVAPUC – Rede de Inovação e Empreendedorismo da PUCRS Gabriela Cardozo Ferreira – Coordenadora Deise Scheffel – Apoio Administrativo Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 96B – Sala 103 90619-900 – Porto Alegre – RS Tel.: +55(51) 3320-3694 E-mail: [email protected] www.pucrs.br Roberto Spolidoro Jorge Audy Parque Científico e Tecnológico da PUCRS APOIO FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS Ministério da Ciência e Tecnologia Porto Alegre 2008 © EDIPUCRS, 2008 CAPA: Arte de Vinícius Xavier Foto de Fernando Schmitt PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS: Patrícia Aragão EDIÇÃO: Vitor Necchi e Rodrigo Viana (bolsista) ILUSTRAÇÕES E REVISÃO: dos Autores REVISÃO TÉCNICA: Liziane Zanotto Staevie EDITORAÇÃO: Supernova Editora IMPRESSÃO E ACABAMENTO: Gráfica Epecê Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) S762p Spolidoro, Roberto Parque científico e tecnológico da PUCRS : TECNOPUC / Roberto Spolidoro, Jorge Audy. -
Annual Report 2000 RED ELECTRICA
Annual Report 2000 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA TABLE OF CONTENTS KEY INDICATORS 4 THE CHAIRMAN’S LETTER 6 BOARD OF DIRECTORS AND HIGHER MANAGEMENT 10 HIGHLIGHTS OF THE YEAR 2000 12 BUSINESS ACTIVITIES 15 DEVELOPMENT OF THE TRANSMISSION GRID 16 MAINTENANCE OF THE TRANSMISSION GRID FACILITIES 26 OPERATION OF THE POWER SYSTEM 30 OTHER BUSINESSES 35 TELECOMMUNICATIONS 36 INTERNATIONAL DEVELOPMENT 40 CORPORATE MANAGEMENT 45 HUMAN RESOURCES 46 ECONOMIC AND FINANCIAL MANAGEMENT 50 MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL ORGANISATIONS 56 CO-OPERATION AND SPONSORING ACTIVITIES 58 RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION 60 QUALITY 64 THE ENVIRONMENT 68 SHAREHOLDERS AND STOCK MARKET PERFORMANCE 73 STATUTORY INFORMATION 77 ANNUAL ACCOUNTS 78 BALANCE SHEETS 78 PROFIT AND LOSS ACCOUNTS 80 NOTES TO THE ANNUAL ACCOUNTS 82 DIRECTORS’ REPORT 124 PROPOSAL FOR DISTRIBUTION OF RESULTS 128 AUDITORS’ REPORT 129 CODE OF GOOD GOVERNANCE 130 3 KEY INDICATORS Operating Revenues Profit after Tax billions of pesetas / millions of euros % billions of pesetas / millions of euros % 100 16 16 14 95.7 90.8 92.0 € 88.0 574.90M 15 14 13 80 13.8 14.5% 14.4% 83.13M€ 14 12 12.5 12 60 13.6% 11.5 66.3 11.2% 13 10 10.5 11 12.7% 9.5 40 10.6% 12.0% 12 8 10 9.9% 20 11 6 9 8.9% 8.4% 0 10 4 8 1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000 ENERGY AND POWER SALES AND OTHER REVENUES PROFIT AFTER TAX (PAT) REVENUES FROM TRANSMISSION AND SYSTEM OPERATION ROE (PAT/EQUITY) MARGIN (PAT/OPERATING REVENUES) Cash-Flow after tax Tangible Fixed Assets billions of pesetas / millions of euros -

Partnership for Prosperity in the 21St Century | 1
® Partnership for Prosperity in the 21st Century | 1 PARTNERSHIP FOR PROSPERITY IN THE 21st CENTURY 2nd US-BRAZIL Innovation Summit ® © 2010 – Brazilian Agency for Industrial Development (ABDI) 2nd US-Brazil Innovation Summit – Partnership for Prosperity in the 21st Century The opinions expressed herein are the sole and entire responsibility of the author(s), expressing not necessarily the views of the Brazilian Agency for Industrial Development (ABDI). The texts and data contained in this publication may be reproduced provided the source is cited. Reproduction for commercial purposes is prohibited. ABDI - Brazilian Agency for Industrial Development - Responsible MBC - Brazilian Competitiveness Movement CoC - Council on Competitiveness Federative Republic of Brazil Luiz Inácio Lula da Silva President Ministry of Development, Industry and Foreign Trade Miguel Jorge Minister Brazilian Agency for Industrial Development (ABDI) Reginaldo Braga Arcuri President Maria Luisa Campos Machado Leal Director Clayton Campanhola Director Roberto dos Reis Alvarez International Affairs Manager ® Brazilian Agency for Brazilian Competitiveness Council on Industrial Development Movement Competitiveness Setor Bancário Norte Setor Bancário Norte 1500 K Street NW, Suite 850 Quadra 1 – Bloco B – Ed. CNC Quadra 1 – Bloco B Washington, DC 20005 70041-902 – Brasília – DF Ed. CNC - Sala 404 Tel.: +1 202 682 4292 Tel.: +55(61) 3962.8700 70041-902 – Brasília – DF www.compete.org www.abdi.com.br Tel.: +55(61) 3329.2101 www.mbc.org.br CONTENTS Building innovative and competitive economies Reginaldo Braga Arcuri, President, Brazilian Agency for Industrial Development 9 (ABDI) Strategic commitment to promote partnerships 12 Deborah L. Wince-Smith, President and CEO, Council on Competitiveness (CoC) Vision of the future shared by the three entities Jorge Gerdau, Founder and Emeritus Chairman of the Board of Brazilian 15 Competitiveness Moviment (MBC) US-Brazil Innovation Initiative 17 The path taken from 2007 to 2010 2nd US-Brazil Innovation Summit 27 Event Agenda 1. -

Shareholders
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Annual Report 2002 Contents 4 KEY INDICATORS 6 THE CHAIRMAN’S LETTER 10 BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 12 2002 YEAR´S REVIEW 15 THE GROUP’S ACTIVITIES 16 MANAGEMENT OF THE MAINLAND TRANSMISSION GRID 17 PLANNING AND DEVELOPMENT OF THE TRANSMISSION GRID 19 CONSTRUCTION OF NEW FACILITIES 22 FACILITIES´ MAINTENANCE 24 ACQUISITION OF TRANSMISSION ASSETS 26 OPERATION OF THE MAINLAND ELECTRICITY SYSTEM 30 TELECOMMUNICATIONS BUSINESS 34 INTERNATIONAL BUSINESS 37 CORPORATE AFFAIRS 38 HUMAN RESOURCES 42 ADMINISTRATION AND FINANCIAL MANAGEMENT 48 RESEARCH,DEVELOPMENT AND INNOVATION 52 QUALITY 56 INTERNATIONAL ORGANISATIONS´ MEMBERSHIP 58 COMMITMENT TO ENVIRONMENT 62 SHAREHOLDER AND STOCK EXCHANGE INFORMATION 69 LEGAL DOCUMENTATION 70 CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS 117 CONSOLIDATED DIRECTORS’ REPORT 128 PROPOSED DISTRIBUTION OF PROFIT 129 INDEPENDENT AUDITORS´ REPORT 131 CORPORATE GOVERNANCE REPORT millions of euros % Operating 750 553.1 573.6 602.8545.9 711.2 25 revenues 625 20 15 Sales of energy and power 500 14.5% 15.1% and other income 12.7% 13.6% 14.0% 375 10 Revenues from transmission and system operation 250 5 Margin (PAT/Operating revenues) 125 0 1998 1999 2000 2001 2002 consolidated figures millions of euros % 69.375.1 83.1 91.1 99.8 Profit after tax 110 16 95 14 11.7% 12.3% 80 11.2% 12 10.6% 65 10 9.9% Profit after tax (PAT) 50 8 ROE (PAT/equity) 35 6 1998 1999 2000 2001 2002 consolidated figures millions of euros % 180.3 185.1 183.8 195.0 224.7 Cash flow 240 65 after tax 220 55 200 45 180 35 Cash flow after -

Inovação E Empreendedorismo Na Universidade = Innovation and Entrepreneurialism in the University / [Org
INNOVATION AND ENTREPRENEURIALISM IN THE UNIVERSITY INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA UNIVERSIDADE PUCRS Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Chanceler Dom Dadeus Grings Reitor Joaquim Clotet Vice-Reitor Evilázio Teixeira Conselho Editorial Ana Maria Tramunt Ibaños Beatriz Franciosi Dalcídio Cláudio Draiton Gonzaga de Souza Elvo Clemente Ivan Izquierdo Jacques Wainberg Jerônimo Carlos Santos Braga Jorge Campos da Costa Jorge Luis Nicolas Audy (Presidente) Juremir Machado da Silva Lauro Kopper Filho Luiz Antonio de Assis Brasil Magda Lahorgue Nunes Maria Helena Abrahão Marília Gerhardt de Oliveira Mirian Oliveira Urbano Zilles Vera Lúcia Strube de Lima EDIPUCRS Jerônimo Carlos Santos Braga (Diretor) Jorge Campos da Costa (Editor-chefe) JORGE LUIS NICOLAS AUDY MARÍLIA COSTA MOROSINI (Orgs.) INNOVATION AND ENTREPRENEURIALISM IN THE UNIVERSITY INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA UNIVERSIDADE EDIPUCRS Porto Alegre 2006 © EDIPUCRS, 2006 CAPA: AGEXPP PREPARAÇÃO DE ORIGINAIS: Tradutores Ana Maria Tramunt Ibaños Cristina Lopes Perna Karina Veronica Molsing Vera Müller Aureliano Calvo Hernandez Beatriz Viégas-Faria Hedy Hoffmann Equipe Revisora Ana Maria Tramunt Ibaños Cristina Lopes Perna Erica Foerthmann Schultz EDITORAÇÃO: Supernova Editora IMPRESSÃO E ACABAMENTO: Gráfica Epecê Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) I58i Inovação e empreendedorismo na universidade = Innovation and entrepreneurialism in the university / [org. Jorge Luis Nicolas Audy, Marília Costa Morosini]. - Porto Alegre : EDIPUCRS, 2006. 461 p. ISBN -

Us-Brazil Innovation Learning Laboratory 13
U.S.-BRAZIL INNOVATION LEARNING LABORATORY 13 November 17-18, 2011 Porto Alegre, Brazil Participants Agenda Biographies 2 Council on Competitiveness U.S.-Brazil Innovation Learning Laboratory 13 Picking up the Pace Exploring New Sustainability Frontiers…Driving Entrepreneurship…and Innovating in Biosciences Research and new ideas will fuel an innovation economy that drives productivity growth and prosperity—and these key underpinnings for innovation capacity start from imagination, curiosity-based research, then move to application and finally to commercial exploitation. The United States and Brazil must certainly retain and enhance their research at the frontiers—a key theme in our 12 previous “US-Brazil Innovation Learning Laboratories” and 2 “US-Brazil Innovation Summits” in 2007 and 2010. But both nations must also improve the “platforms” that drive new products, services and solutions to the marketplace. And by many measures, the United States and Brazil lead the world in knowledge creation and entrepreneurship—but it is also clear that even in these robust innovation environments, good ideas are left on the shelf. This 13th US-Brazil Innovation Learning Laboratory will explore ways in which both nations can accelerate knowledge and technology transfer, spur entrepreneurship, and catalyze the next generation of innovators in the Western Hemisphere’s two largest economies. Attention will focus on innovation challenges and opportunities neither country can meet alone—as well as cross-sector learnings—particularly in: the nexus of strategic resources, like energy and water; scaling up the overall entrepreneurial environment for key, emerging sectors (IT, social media); and, meeting the health needs of rapidly urbanizing societies, while innovating at the frontiers of bioscience. -

Inovação E Qualidade Na Universidade = Innovation And
INNOVATION AND QUALITY IN THE UNIVERSITY INOVAÇÃO E QUALIDADE NA UNIVERSIDADE PUCRS Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Chanceler: Dom Dadeus Grings Reitor: Joaquim Clotet Vice-Reitor: Evilázio Teixeira Conselho Editorial: Alice Therezinha Campos Moreira Ana Maria Tramunt Ibaños Antônio Hohlfeldt Draiton Gonzaga de Souza Francisco Ricardo Rüdiger Gilberto Keller de Andrade Jaderson Costa da Costa Jerônimo Carlos Santos Braga Jorge Campos da Costa Jorge Luis Nicolas Audy (Presidente) José Antônio Poli de Figueiredo Lauro Kopper Filho Lúcia Maria Martins Giraffa Maria Eunice Moreira Maria Helena Abrahão Ney Laert Vilar Calazans René Ernaini Gertz Ricardo Timm de Souza Ruth Maria Chittó Gauer EDIPUCRS Jerônimo Carlos Santos Braga – Diretor Jorge Campos da Costa – Editor-chefe JORGE LUIS NICOLAS AUDY MARÍLIA COSTA MOROSINI (Org.) INNOVATION AND QUALITY IN THE UNIVERSITY INOVAÇÃO E QUALIDADE NA UNIVERSIDADE Porto Alegre Junho 2008 © EDIPUCRS, 2008 CAPA: Vinícius Xavier PREPARAÇÃO DE ORIGINAIS: Tradutores: Ana Maria Tramunt Ibaños Cristina Lopes Perna Hedy Foerthmann Schultz REVISÃO TÉCNICA: Liziane Zanotto Staevie EDITORAÇÃO: Supernova Editora IMPRESSÃO E ACABAMENTO: Gráfica Epecê Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) I58 Inovação e qualidade na Universidade = Innovation and quality in the University / Jorge Luis Nicolas Audy, Marilia Costa Morosini (Org.) – Porto Alegre : EDIPUCRS, 2008. 520 p. Seminário Internacional realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul nos dias 19 e 20 de junho de 2008. ISBN 978-85-7430-768-8 1. Educação Superior. 2. Educação – Qualidade. I. Seminário Internacional Inovação e Qualidade na Universidade (1. : 2008 : Porto Alegre, RS). II. Audy, Jorge Luis Nicolas. III. Morosini, Marilia Costa. IV. -

MAGAZINE Robot
Where fiction comes alive with projects of a bionic hand and a piano-playing MAGAZINE robot PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL No. 1 • Annual issue in English/2014 The future has arrived with the newborn Nanopuc PHOTO: JOÃO MARCELO KETZER MARCELO JOÃO PHOTO: Bubbles of gas hydrate, the energy source for the future PUCRS opens the Institute of Petroleum and Natural Resources in partnership with Petrobras.to exploit Research energy sources such as gas hydrates and Black petroleummomentum gathers gold CONTENTS PRESIDENT Joaquim Clotet VICE PRESIDENT Evilázio Teixeira VICE PRESIDENT 20 FOR ACADEMIC AFFAIRS Mágda Rodrigues da Cunha VICE PRESIDENT FOR RESEARCH, INNOVATION AND DEVELOPMENT Jorge Luis Nicolas Audy VICE PRESIDENT FOR EXTENSION AND COMMUNITY AFFAIRS Sérgio Luiz Lessa de Gusmão VICE PRESIDENT FOR ADMINISTRATION AND FINANCE Paulo Roberto Girardello Franco HEAD OF THE OFFICE OF COMMUNICATIONS Ana Maria Walker Roig 24 30 EXECUTIVE EDITOR Magda Achutti REPORTERS Ana Paula Acauan Vanessa Mello 3 With the Readers – Towards the future 28 Interview – The culture of smiling PHOTOGRAPHERS Universities and knowledge society, Philosopher Pascal Bruckner talks Bruno Todeschini by Joaquim Clotet about the discourse of happiness Gilson Oliveira 4 Cover Story – PUCRS opens the Institute 29 Through the Campus – PUCRS will ENGLISH TRANSLATION of Petroleum and Natural Resources have an aeromovel line Flávia Westphalen A partnership with Petrobras The vehicle will go across Ipiranga Tiago Cattani Avenue from the Event Hall 8 Research -

Prof. Joaquim Clotet Publicações
Prof. Joaquim Clotet Publicações Artigos completos publicados em periódicos 1. CLOTET. O respeito à autonomia e aos direitos dos pacientes. REVISTA AMRIGS. , v.53, p.433 - 435, 2009. Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Impresso 2. LOCH, J. A.; CLOTET; GOLDIM, J. R. Privacidade e confidencialidade da assistência à saúde do adolescente: percepções e comportamentos de um grupo de 711 universitários. Revista da Associacao Medica Brasileira, v.53, p.240 - 246, 2007. Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Vários 3. KIPPER, D.; CLOTET; LOCH, J. A. A autonomia na infância e na juventude. Scientia Medica (PUCRS. Impresso). , v.14, p.3 - 11, 2004. Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Impresso 4. CLOTET. A Indefinibilidad de 'Bueno'. ETHIC@ (UFSC). , v.2, p.34 - 57, 2003. Referências adicionais: Espanhol. Meio de divulgação: Meio digital 5. CLOTET. Acerca de Dignidade, Direito e Bioética. DIREITO & JUSTIÇA (PORTO ALEGRE. IMPRESSO). , v.25, p.5 - 7, 2002. Áreas do conhecimento: Ética Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Impresso 6. GOLDIM, J. R.; CLOTET; FRANCISCONI, C. F. Um breve histórico do consentimento informado. O MUNDO DA SAÚDE (CUSC. IMPRESSO). , v.26, p.71 - 84, 2002. Áreas do conhecimento: Ética Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Impresso 7. CLOTET . Ciência e Ética: onde estão os Limites?. Episteme (Porto Alegre). , v.10, p.23 - 29, 2000. Áreas do conhecimento: Ética Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso 8. CLOTET. Direitos Humanos e Biomedicina. Cadernos de Ética em Pesquisa (Brasília). , v.a.III, p.28 , 2000. Áreas do conhecimento: Ética Referências adicionais: Português. Meio de divulgação: Impresso 9. CLOTET.