Jose Leite Lopes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
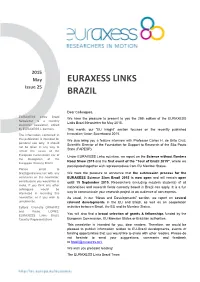
Brazil Links Newsletter
2015 May EURAXESS LINKS Issue 25 BRAZIL Dear Colleagues, EURAXESS Links Brazil We have the pleasure to present to you the 25th edition of the EURAXESS Newsletter is a monthly Links Brazil Newsletter for May 2015. electronic newsletter, edited by EURAXESS L partners. This month, our “EU Insight” section focuses on the recently published The information contained in Innovation Union Scoreboard 2015. this publication is intended for We also bring you a feature interview with Professor Carlos H. de Brito Cruz, personal use only. It should Scientific Director of the Foundation for Support to Research of the São Paulo not be taken in any way to State (FAPESP). reflect the views of the European Commission nor of Under EURAXESS Links activities, we report on the Science without Borders the Delegation of the Road Show 2015 and the first event of the “Tour of Brazil 2015”, where we European Union to Brazil. participated together with representatives from EU Member States. Please email to [email protected] with any We have the pleasure to announce that the submission process for the comments on this newsletter, EURAXESS Science Slam Brazil 2015 is now open and will remain open contributions you would like to until 15 September 2015. Researchers (including masters students) of all make, if you think any other nationalities and research fields currently based in Brazil can apply. It is a fun colleagues would be interested in receiving this way to communicate your research project to an audience of non-experts. newsletter, or if you wish to As usual, in our “News and Developments” section, we report on several unsubscribe. -

The Brazilian Policy of Funding Scholarships Abroad
THE BRAZILIAN POLICY OF FUNDING SCHOLARSHIPS ABROAD: THE CASE OF CAPES Denise de Menezes Neddermeyer Thesis Submitted to the University of London for the Degree of Ph.D. 2002 University of London Institute of Education School of Culture, Language and Communication 1 ABSTRACT This thesis is a study on the Brazilian policy of funding scholarships abroad for postgraduate studies. The main purpose of this research is to analyse the changing rationale for this type of investment over time. The focus of the investigation is on the Programme of Scholarships Abroad of CAPES, a major funding agency of scholarships for postgraduate studies in Brazil and abroad. To do this, the research was conceptualised in two distinct layers of investigation. The first layer referred to the historical processes that have shaped the issue of education abroad in Brazil. In the other layer of investigation, the way the policy of CAPES was and is put into practice was examined. To link these two layers of investigation, research interviews with people who know the Brazilian academic environment well were conducted. In order to develop these themes, the thesis has been strategically divided into six chapters. Chapter One is the Introduction when the problem is located, the strategy adopted to develop the topic is explained, and the concepts most used in the research are defined. Chapter Two provides a historical review of the custom of studying abroad among Brazilian upper classes, from colonial times up to the early 2 twentieth century. Chapter Three describes the emergence of an institutional infrastructure to build up high-level personnel, from the fifties onwards. -

(HOPOS) Working Group ISSN 1527-9332
Fall-Winter 2000 Volume VI, Issue 1 Newsletter of The History of Philosophy of Science (HOPOS) Working Group ISSN 1527-9332 Logic, Logic, and Logic From the Editor (focusing primarily on the second element of the title), Inside this issue: The current Newsletter is a ganizing committee, Andrew Alex Levine’s critique of bit later to press than recent Wayne (Université de Mon- Nick Huggett’s Space from previous issues but reflects tréal). Zeno to Einstein, and Ken From the Editor 1 the hard work of our stalwart A further indication of the Jacobs’ review of Jan Go- contributors. linski’s Making Natural burgeoning international This very spirit of hard work character of HOPOS-related Knowledge. While only HOPOS 2002 in 1 Huggett's volume is purely Montréal was much in evidence in Vi- studies is found in the latest enna this past July, when travelogue, dedicated to Bra- HOPOS material, Boolos HOPOS held its third inter- zil (p 7). To adequately addresses Frege’s philoso- Impressions of 2 national meting. That story summarize the history and phy of logic in historical HOPOS 2000: is briefly recounted in Don philosophy of science re- terms, and Golinski’s medi- A Report Howard’s report (p 2). [The sources in that gargantuan tation on method in history Editor could only corrobo- nation required the Hercu- of science draws on various rate this story second-hand, lean efforts of three au- themes in philosophy of sci- News of the Profession 3 due to the birth of a second thors— Eduardo Barra and ence from the recent past. -
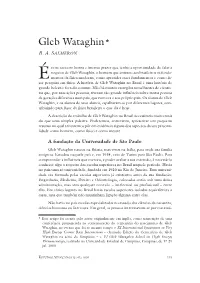
Gleb Wataghin*
G LEB W ATAGHIN Gleb Wataghin* R. A. SALMERON COM GRANDE honra e imenso prazer que tenho a oportunidade de falar a respeito de Gleb Wataghin, o homem que ensinou aos brasileiros os funda- É mentos da física moderna, como aprender esses fundamentos e como fa- zer pesquisa em física. A história de Gleb Wataghin no Brasil é uma história de grande beleza e fora do comum. Não há muitos exemplos semelhantes de cientis- tas que, por suas ações pessoais, tiveram tão grande influência sobre tantas pessoas de gerações diferentes num país, que nem era o seu próprio país. Os alunos de Gleb Wataghin, e os alunos de seus alunos, espalharam-se por diferentes lugares, con- tribuindo para fazer da física brasileira o que ela é hoje. A descrição do trabalho de Gleb Wataghin no Brasil necessitaria muito mais do que uma simples palestra. Poderemos, entretanto, apresentar um pequeno resumo no qual tentaremos pôr em evidência alguns dos aspectos da sua persona- lidade como homem, como físico e como mestre. A fundação da Universidade de São Paulo Gleb Wataghin nasceu na Rússia, mas viveu na Itália, para onde sua família emigrou. Estudou naquele país e, em 1934, veio de Turim para São Paulo. Para compreender a influência que exerceu, e poder avaliar a sua extensão, é necessário conhecer algo a respeito das escolas superiores no Brasil naquele período. Havia no país uma só universidade, fundada em 1920 no Rio de Janeiro. Esta universi- dade era formada pelas escolas superiores já existentes antes da sua fundação: Engenharia, Medicina, Direito e Odontologia, colocadas então sob uma única administração, mas sem qualquer conexão – intelectual ou profissional – entre elas. -

My Work in Meson Physics with Nuclear Emulsions Cesar Lattes
'Sgaa»_ &>***- &Lj d~^tZL, f F. Caruso, A. Marques & A. Troper (Eds.), Cesar Latias, a descoberta do méson ne outras histórias, pp. 9-11. My Work in Meson Physics I decided that the time allotted to me at the Cambridge Cockroft-Walton accelerator, which with Nuclear Emulsions provided artificial disintegration particles as probes for the shrinkage factor, was sufficient for a study of the reactions: Cesare Mansueto Giulio Lattes 7 D(d,p)H\ Belt'd, pin)Be\ Li\(d,p)Li] B\()(d, p)B \1 Li\ (d, p)Li\ B\}(d,p)B \2 At the end of the Second World War, I was working at the University of S. Paulo, Brazil, with a slow meson triggered cloud chamber, which I had Through analysis of the tracks, we obtained a built in collaboration with Ugo Camerini and A. range-energy relation for protons up to about 10 Wataghin. I sent pictures obtained with this cloud MeV, which was used for several years in research chamber to Giuseppe P.S. Occhialini, who had where single charged particles were detected, e.g., recently left Brazil and had joined Cecil F. Powell pions and muons.1 at Bristol. Upon receiving from Occhialini positive In the same experiment, I placed borax- prints of photomicrographs of tracks of protons and loaded plates, which Ilford had prepared, at my a-particles, obtained in a new concentrated request, in the direction of the beam of neutrons emulsion just produced experimentally by Ilford from the reaction Ltd., I immediately wrote to him asking to work with the new plates, which obviously opened great nQ, possibilities. -

Maria Lucia De Camargo Linhares
Maria Lucia de Camargo Linhares ELISA FROTA-PESSOA: A TEXTUALIZAÇÃO DE SUAS (AUTO)REPRESENTAÇÕES E QUESTÕES DE GÊNERO NAS CIÊNCIAS Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Prof. Dr. Henrique César da Silva. Florianópolis 2018 Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC. Linhares, Maria Lucia de Camargo Elisa Frota-Pessoa : a textualização de suas (auto)representações e questões de gênero nas ciências / Maria Lucia de Camargo Linhares ; orientador, Henrique César da Silva, 2018. 170 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Florianópolis, 2018. Inclui referências. 1. Educação Científica e Tecnológica. 2. Elisa Frota-Pessoa. 3. Relações de Gênero. 4. Escrita de Si. 5. Física. I. Silva, Henrique César da. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica. III. Título. Dedico este trabalho a todas as cientistas brasileiras que lutaram e ainda lutam para conquistar seu espaço como produtoras de conhecimentos científicos. AGRADECIMENTOS Agradeço a todos que de alguma forma estiveram presentes em minha trajetória, desde a infância até aqui, me transformando e me fazendo pensar sobre o que é ser mulher, brasileira, professora e física. Tenho a certeza de que este trabalho não foi construído sozinho, foi feito, mesmo que indiretamente, por todos que me sensibilizaram de alguma forma, sejam as professoras e professores, colegas, amigas e amigos e familiares. Até mesmo você, leitor deste trabalho, contribui para a constante construção desta dissertação, pois cada olhar e leitura, a constrói de um jeito diferente, a partir de suas vivências e trajetórias. -

Via Issuelab
ROCKEFELLER ARCHIVE CENTER RESEARCH REPO RTS The Rockefeller Foundation (Non) Policy Toward Physics Research and Education in Latin America by Adriana Minor García Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México © 2019 by Adriana Minor García Abstract This report provides an overview of the history of physics in Latin America through the intervention of the Rockefeller Foundation. It is mainly based on reports and correspondence located at the Rockefeller Archive Center, documenting the interaction of Rockefeller Foundation officers with Latin American physicists, providing insight into how these scientists represented themselves. It focuses on the policies of the Rockefeller Foundation behind its support for physics communities and institutions in Latin America from the 1940s to the 1960s. It provides a panoramic – but not exhaustive – view about how these orientations changed according to the group, the topic, and the geopolitical context. 2 RAC RESEARCH REPORTS Introduction An inspiring corpus of works about the role of the Rockefeller Foundation (RF) in Latin America exists nowadays. Among such works, the book edited by Marcos Cueto in the 1990s, Missionaries of Science, is still one of the most representative, with a remarkable focus on medicine and agriculture. These areas were in fact the priority of the RF for decades in Latin America. However, other scientific disciplines were also supported by the foundation, such as physics and mathematics. For sure, the funds provided and the consistency of the institutional agenda for these areas were not as impressive as in the case of medicine and agriculture, but as this report demonstrates, they had, nonetheless, important impacts for this region. -

Entrevista Roberto Salmeron “ENSINO PAGO NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS SERIA UM CRIME” Por Lighia B
OS CIENTISTAS ERGUEM A VOZ Uma coincidência reuniu, nas páginas da Revista Adusp, dois dos maiores físicos brasileiros. Roberto Salmeron, que vive na França há muitos anos, veio ao Brasil para lançar seu livro sobre a UnB, e passou pela USP, de modo que não perdemos a oportunidade de entrevistá-lo. José Leite Lopes, por sua vez, re- cebera o Prêmio Unesco de Ciências 1999 quando a edição anterior da revista já estava fechada. Indis- pensável, assim, buscar seu depoimento. Ambos reivindicam para a educação e a ciência a grandeza que o neoliberalismo dominante tem negado a uma e outra. Ambos conferem à universidade pública (e à pesquisa a ela vinculada) papel central na produção do conhecimento. Ambos saem em defesa da ciência brasileira, acuada pelo colapso dos programas de financiamento da pesquisa, intimidada pelos ataques à autonomia universitária, ameaçada pelo desmonte do sistema público de ensino em todos os níveis. Ainda que em tom mais contido, a SBPC também reage ao desmantelamento do saber nacional, partindo para a “cartografia” da C&T nas diferentes regiões do país, em inédita maratona que entu- siasma Glaci Zancan, nova presidente da entidade. Por fim, este bloco de matérias é enriquecido por artigo de Romualdo Portela e Sandra Zákia sobre critérios e métodos de avaliação da produção dos docentes universitários, tema muito pertinente quando se sabe que a elaboração de rankings da ciên- cia pode resultar desastrosa. ✦✦✦ Acumulam-se os sintomas de uma crise generalizada do capitalismo. Tensões, conflitos, uma reto- mada sob novas vestes de práticas e discursos (como o darwinismo social) que pareciam sepultados ao final da Segunda Guerra Mundial. -

Pos(CRA School)032
Cosmic Ray Physics in Brazil Carola Dobrigkeit 1 PoS(CRA School)032 Instituto de Física Gleb Wataghin – Universidade Estadual de Campinas Campinas, Brazil E-mail: [email protected] Cosmic rays have long been a topic of intense research activities in Brazil. Due to the contagious enthusiasm and excellence of the men who introduced this field in the country around 1930, a tradition in cosmic ray physics was built and over the past eighty years there have always been one or more groups of scientists dedicating their efforts building detectors, performing experiments and obtaining top results in this research area. Although many physicists spent their lives working in cosmic ray physics in Brazil, one must acknowledge the enormous contribution of Gleb Wataghin and Cesar Lattes to making this one of Brazil’s most traditional areas of research in Physics. Wataghin and Lattes are the main protagonists of the story of cosmic ray physics in Brazil. 4th School on Cosmic Rays and Astrophysics São Paulo, Brazil August 25- September 04, 20 1 Speaker Copyright owned by the author(s) under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Licence. http://pos.sissa.it Cosmic Ray Physics in Brazil Carola Dobrigkeit 1. Introduction The story of research in cosmic ray physics in Brazil over almost eighty years can be best followed by telling it over four successive periods. Even if the limits of these periods are sometimes blurred in time and part of the periods overlap, each one has its own characteristics and peculiarities. The seeds of cosmic ray research were sown almost simultaneously by Bernhard Gross, in Rio de Janeiro and by Gleb Wataghin, in São Paulo. -

UFRJ Instituto Alberto Luiz Coimbra De Pós-Graduação E Pesquisa De
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia – COPPE Instituto de Química – IQ Instituto de Matemática – IM Programa de Pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia – HCTE Estilo de pensamento em física nuclear e de partículas no Brasil (1934-1975): César Lattes entre raios cósmicos e aceleradores Heráclio Duarte Tavares Julho de 2017 Estilo de pensamento em física nuclear e de partículas no Brasil (1934-1975): César Lattes entre raios cósmicos e aceleradores Heráclio Duarte Tavares Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós- graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de doutor em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia. Orientador: Drº Carlos Ziller Camenietzki Orientador: Drº Antonio Augusto Passos Videira Rio de Janeiro Julho de 2017 CIP - Catalogação na Publicação Tavares, Heraclio Duarte T231e Estilo de pensamento em física nuclear e de partículas no Brasil (1934 – 1975): César Lattes entre raios cósmicos e aceleradores / Heraclio Duarte Tavares. -- Rio de Janeiro, 2017. 260 f. Orientador: Antonio Augusto Passos Videira. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Decania do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, 2017. 1. César Lattes. 2. Raios cósmicos. 3. Aceleradores de partículas. 4. CNPq. 5. Nacionalismo científico. I. Videira, Antonio Augusto Passos, orient. II. Título. Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a). -

Gleb Wataghin
-1- CBPF-CS-001/01 Gleb Wataghin R. A. Salmeron Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes Energies Ecole Polytechnique - 91128 Palaiseau Cedex - France It is an honour and a pleasure to speak about Gleb Wataghin, the man who taught Brazilians the foundations of modern physics, how to learn it and how to do physics. The history of Gleb Wataghin in Brazil is a very nice and unusual history. There are not many similar examples of scientists who have had, by their own personal actions, such a strong influence on so many people of different generations in a country, which furthermore was not his own. The students of Gleb Wataghin and the students of his students spread out over different places, contributing to make Brazilian physics what it is today. The description of Gleb Wataghin’s work in Brazil would require much more than a lecture. We shall present a short summary, trying to show some aspects of his personality as a man, as a physicist and as a master. The foundation of the University of São Paulo Gleb Wataghin, Russian born who studied in Italy and became Italian, came from Torino to São Paulo in 1934. In oder to understand and properly evaluate his influence one must know a little about Brazilian schools for higher education at _______________ Talk delivered at the commemoration of the centenary of Gleb Wataghin’s birthday at the meeting which was at the same time the XI International Symposium on Very High Energy Cosmic Rays Interactions - named Gleb Wataghin Centennary Edition of the Symposium series - and the VI Gleb Wataghin School on High Energy Phenomenolgy, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, Brazil, 17 - 21 July 2000. -

Working Papers
LATIN AMERICAN PROGRAM THE WIwLSON CENTER SMITHSONIAN INSTITUTION BUILDING WASHINGTON, D.C. WORKING PAPERS Number 8 SCIENCE Ai~D HIGHER EDUCATION IN BRAZIL: AN HISTORICAL VIEW by Simon Schwartzman Instituto Universitario de Pesquisas de Rio de Janeiro Number 8 SCIENCE Ai.~D HIGHER EDUCATION IN BRAZIL: AN HISTORICAL VIEW by Simon Schwartzman Instituto Universitario de Pesquisas de Rio de Janeiro April 1979 Author's note: This text was written while the author was a Fellow of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C. He is personally responsible for all opinions, evaluations and interpretations expressed here. Previous versions of this text received detailed comments and criticisms from Joseph Ben-David, James Lang, Abraham Lowenthal, Aluisio Pimenta, Helio Pontes, Paulo Sergio Pinheiro, John D. Wirth, and others. Unfortunately, it was impossible to do justice to all their suggestions and criticisms, as they deserved. This essay is· one of a series of Working Papers being distributed by the Latin American Program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars . This series will include papers by Fellows, Guest Scholars, and interns within the Program and by members of the Program staff and of its Academic Council, as well as work presented at, or resulting from seminars, workshops, colloquia, and conferences held under the Program's auspices. The series aims to extend the Program's discussions to a wider community throughout the Americas, and to help authors obtain timely criticism of work in progress .. Support to make distribution possible has been provided by the Inter- American Development Bank. Single copies of Working Papers may be obtained without charge by writing to: Latin American Program, Working Papers The Wilson Center Smithsonian Institution Building Washington, D.C .