Do Minho Ao Mandovi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Boletim Da Sociedade De Geografia De Lisboa
BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA SÉRIE 133 - N.OS 1-12 JANEIRO - DEZEMBRO - 2015 SUMÁRIO A SOCIEDADE DE GEOGRAFIA E O CONCEITO ESTRATÉGICO NACIONAL // LUCIANO CORDEIRO NO CONTEXTO DA ÉPOCA DA FUNDAÇÃO DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA // O PAPEL DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA NA DELIMITAÇÃO DAS FRONTEIRAS DAS ANTIGAS COLÓNIAS PORTUGUESAS EM ÁFRICA E DE TIMOR // A SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA E AS EXPLORAÇÕES GEOGRÁFICAS DE ANGOLA À CONTRA COSTA // A SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA E AS CIÊNCIAS SOCIAIS // O VALOR DO BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA PARA A HISTÓRIA DE PORTUGAL // A SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA, A MARINHA E O MAR // O ESPÓLIO CULTURAL DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA: A BIBLIOTECA, A CARTOTECA, A FOTOTECA E O MUSEU ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO // OS LITERATOS NA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA // OS 140 ANOS DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA // CONDECORAÇÃO // PRÉMIO GAGO COUTINHO // IN MEMORIAM ÓSCAR SOARES BARATA // A ALEGRIA DE CONHECER // DOCUMENTOS SOLTOS INÉDITOS SOBRE GAGO COUTINHO // ACTIVIDADES DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA // ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA // ACTIVIDADES DO MUSEU ETNOGRÁFICO REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO NA S.G.L., RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO LISBOA-PORTUGAL BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA Esta publicação contou com o apoio do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português do Secretário de Estado da Cultura – Fundo de Fomento Cultural e da Fundação Eng. António de Almeida Série 133 - N.os 1-12 Janeiro - Dezembro - 2015 SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA Direcção PRESIDENTE Prof. Cat. Luis António Aires-Barros VICE-PRESIDENTES Comandante Filipe Mendes Quinto Almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias TGen. -

A Revolta Mendes Norton De 1935
A REVOLTA MENDES NORTON DE 1935 LUÍS MIGUEL PULIDO GARCIA CARDOSO DE MENEZES INTRODUÇÃO Manuel Peixoto Martins Mendes Norton (1875-1967), natural de Via- na do Castelo, teve um percurso militar - profissional brilhante, com provas dadas. Foi o caso da organização do serviço de socorro ao nau- frágio do paquete inglês “Veronese” (1913); o grande impulso que deu à obra de farolagem, deixando a costa portuguesa de chamar-se a “costa negra” (1918-1929); a participação e colaboração na revolta monárquica de Monsanto (1919) e na revolução de 28-5-1926; a organização da Con- ferência Internacional de Farolagem em Lisboa (1930), etc. etc. Activista político empenhado, foi o principal chefe operacional das revoltas de 20-5-1935 e da revolta «Mendes Norton» de 10-9-1935, esta última considerada por Medeiros Ferreira, uma das mais importantes revoltas militares entre 1933-1961, que ousaram agitar o Estado Novo. Foi também, uma das figuras de maior relevo do governo dos ge- nerais António Óscar Fragoso Carmona-Sinel Cordes (de 9-7-1926 a 18-4-1928), e a este propósito George Guyomard, considerava Mendes Norton, então Capitão de Fragata, um dos quatro homens que deti- nham o verdadeiro poder político em Portugal. Até 1934, Mendes Norton está com o regime, tendo aliás sido amiúde nomeado para diversos cargos e comissões de serviço; a partir de então e à medida que se acentua o autoritarismo politico, demarca-se da situação e revela-se um opositor feroz ao regime de Oliveira Salazar, tendo sido consequentemente exonerado dos inúmeros cargos e comissões que deti- nha, bem como lhe foi negado o requerimento em que pedia para fazer o tirocínio para o posto de Contra-Almirante. -

Universidade De São Paulo Faculdade De Educação Reverberações Do Debate Decadência
Universidade de São Paulo Faculdade de Educação Reverberações do debate decadência/atraso em Portugal e no Brasil em fins dos Oitocentos: histórias conectadas Roni Cleber Dias de Menezes São Paulo 2011 Reverberações do debate decadência/atraso em Portugal e no Brasil em fins dos Oitocentos: histórias conectadas Roni Cleber Dias de Menezes Tese de doutorado apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Doutor em Educação, , sob a orientação da Profª. Drª. Maria Lúcia Spedo Hilsdorf. São Paulo 2011 AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. Catalogação na Publicação Serviço de Biblioteca e Documentação Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 371.305 Menezes, Roni Cleber Dias M543r Reverberações do debate decadências/atraso em Portugal e no Brasil em fins dos oitocentos: histórias conectadas. orientação Maria Lúcia Spedo Hilsdorf São Paulo: s.n., 2011. 232 p.; Dissertação (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de Concentração: História da Educação e Historiografia) - - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. 1. Intelectuais 2.Decadência (Portugal) I.Hilsdorf, Maria Lúcia Spedo orient. MENEZES , Roni Cleber Dias de. Reverberações do debate decadência/atraso em Portugal e no Brasil em fins dos Oitocentos: histórias conectadas . São Paulo, FEUSP, -

Dissertação Versão Final
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE HISTÓRIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA MESTRADO JANAINA FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA BIANCHI OS ESCRITOS POLÍTICOS DE CUNHA LEAL E OS IMPASSES DO COLONIALISMO PORTUGUÊS EM ÁFRICA (1961-1963) Goiânia 2020 SEI/UFG - 1586547 - Termo de Ciência e de Autorização (TECA) 14/10/2020 15:16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE HISTÓRIA TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO (TECA) PARA DISPONIBILIZAR VERSÕES ELETRÔNICAS DE TESES E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei 9.610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. O conteúdo das Teses e Dissertações disponibilizado na BDTD/UFG é de responsabilidade exclusiva do autor. Ao encaminhar o produto final, o autor(a) e o(a) orientador(a) firmam o compromisso de que o trabalho não contém nenhuma violação de quaisquer direitos autorais ou outro direito de terceiros. 1. Identificação do material bibliográfico [ x ] Dissertação [ ] Tese 2. Nome completo do autor JANAINA FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA BIANCHI 3. Título do trabalho Os escritos políticos de Cunha Leal e os impasses do colonialismo português em África (1961-1963) 4. Informações de acesso ao documento (este campo deve ser preenchido pelo orientador) Concorda com a liberação total do documento [ x ] SIM [ ] NÃO¹ [1] Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. -

The Book of Burtoniana
The Book of Burtoniana Letters & Memoirs of Sir Richard Francis Burton Volume 2: 1865-1879 Edited by Gavan Tredoux i [DRAFT] 8/26/2016 4:36 PM © 2016, Gavan Tredoux. http://burtoniana.org. The Book of Burtoniana: Volume 1: 1841-1864 Volume 2: 1865-1879 Volume 3: 1880-1924 Volume 4: Register and Bibliography Contents. LIST OF ILLUSTRATIONS. .................................................................................... VIII 1865-1869. ........................................................................................................... 1 1. 1865/—/—? RICHARD BURTON TO SAMUEL SHEPHEARD....................................... 1 2. 1865/01/01? ISABEL BURTON TO MONCKTON MILNES. ........................................ 1 3. 1865/01/03. KATHERINE LOUISA (STANLEY) RUSSELL............................................ 2 4. 1865/01/07. LORD JOHN RUSSELL..................................................................... 3 5. 1865/01/08. LORD JOHN RUSSELL..................................................................... 4 6. 1865/01/09. LORD JOHN RUSSELL..................................................................... 5 7. 1865/01/09. KATHERINE LOUISA (STANLEY) RUSSELL............................................ 5 8. 1865/02/09. ISABEL BURTON TO MONCKTON MILNES. ......................................... 5 9. 1865/04/22. RICHARD BURTON TO FRANK WILSON. ............................................ 6 10. 1865/05/02? RICHARD BURTON TO JAMES HUNT. ........................................... 7 11. 1865/06/02. FREDERICK HANKEY TO MONCKTON -

Rapport Burundi & Rwanda 2013
CONFERENCE OLIVAINT DE BELGIQUE Association Royale OLIVAINT GENOOTSCHAP VAN BELGIE Koninklijke Vereniging APERCU GENERAL DU BURUNDI ET RWANDA ALGEMENE BENADERING VAN BURUNDI EN RWANDA RAPPORT DE LA SESSION D’ÉTUDE 2013 RAPPORT VAN DE STUDIESESSIE 2013 2 Association Royale sans but lucratif – Koninklijke Vereniging zonder winstoogmerk rue d’Egmontstraat 11 1000 Bruxelles - Brussel Tél. +32.476.49.04.96 E-mail : [email protected] B.D. 21.365/13 www.olivaint.be BE73 3101 6608 0860 (BIC: BBRU BEBB) Editeur responsable - Verantwoordelijke uitgever : Jean Marsia rue d’Egmontstraat 11 1000 Bruxelles Avertissement - Waarschuwing Le contenu des articles n'engage que les auteurs. Les données reprises dans ce rapport sont à jour en date de la fin de la session d'étude. De auteurs dragen de verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun artikels. De gegevens van dit verslag zijn geldig op datum van het einde van de studiesessie. 3 4 Préambule - Voorwoord Le présent rapport fait suite au voyage d'étude que la Conférence Olivaint de Belgique a effectué au Burundi et au Rwanda du 1er au 21 juillet 2013, sous le haut patronage du Service public fédéral Affaires étrangères. Voorliggend rapport brengt verslag uit over de studiesessie van het Olivaint Genootschap van België in Burundi en Rwanda van 1 tot 21 juli 2013, die plaatsvond onder de hoge bescherming van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Cette session d'étude n'aurait pas été possible sans les conseils, la collaboration et le mécénat de nombreuses personnes, entreprises et organismes. Nous tenons ici à les en remercier et notamment : Zonder de raadgevingen, de samenwerking en het mecenaat van talrijke personen, bedrijven en organismen zou deze reis nooit werkelijkheid zijn geworden. -

The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa
The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa Nathan Nunn∗‡ Harvard University and NBER Leonard Wantchekon∗§ New York University November 2009 ABSTRACT: We investigate the historical origins of mistrust within Africa. Combining contemporary household survey data with historic data on slave shipments by ethnic group, we show that individuals whose ancestors were heavily raided during the slave trade today exhibit less trust in neighbors, relatives, and their local government. We confirm that the relationship is causal by using the historic distance from the coast of a respondent’s ancestors as an instrument for the intensity of the slave trade, while controlling for the individ- ual’s current distance from the coast. We undertake a number of falsification tests, all of which suggest that the necessary exclusion restriction is satisfied. Exploiting variation among individuals who live in locations different from their ancestors, we show that most of the impact of the slave trade works through factors that are internal to the individual, such as cultural norms, beliefs, and values. ∗We thank the editor Robert Moffitt and two referees for comments that substantially improved the paper. We are also grateful to Daron Acemoglu, Michael Bratton, Alejandro Corvalan, William Darity, William Easterly, James Fenske, Patrick Francois, Avner Greif, Joseph Henrich, Karla Hoff, Joseph Inikori, Petra Moser, Elisabeth Ndour, Ifedayo Olufemi Kuye, Torsten Persson, Warren Whatley, and Robert Woodberry for valuable comments, as well as seminar participants at Boston University, Columbia University, Dalhousie University, Dartmouth College, Georgia Tech, Harvard Business School, Harvard University, LSE, MIT, Simon Fraser University, UCL, University of Michigan, Universitat Pompeu Fabra-CREI, University of Alberta, University of British Columbia, Warwick University, Yale University, ASSA Meetings, EHA meetings, NBER Political Economy Program Meeting, and Sieper’s SITE conference. -

O Partido Republicano Nacionalista 1923-1935 «Uma República Para Todos Os Portugueses» ANEXOS 07 PRN Anexos Intro.Qxp Layout 1 11/02/15 17:59 Page 2
07 PRN Anexos Intro.qxp_Layout 1 24/01/15 12:24 Page 1 Manuel Baiôa O Partido Republicano Nacionalista 1923-1935 «Uma República para Todos os Portugueses» ANEXOS 07 PRN Anexos Intro.qxp_Layout 1 11/02/15 17:59 Page 2 Imprensa de Ciências Sociais Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa Av. Prof. Aníbal de Bettencourt, 9 1600-189 Lisboa – Portugal Telef. 21 780 47 00 – Fax 21 794 02 74 www.ics.ul.pt/imprensa E-mail: [email protected] Instituto de Ciências Sociais — Catalogação na Publicação BAIÔA , Manuel , 1969 - O Partido Republicano Nacionalista (1923-1935) : «uma república para todos os portugueses» (anexos) [documento eletrónico]/ Manuel Baiôa. - Lisboa : ICS. Imprensa de Ciências Sociais, 2015 ISBN 978-972-671-347-0 CDU 329 Concepção gráfica: João Segurado Revisão: Autor 1.ª edição: Janeiro de 2015 07 PRN Anexos Intro.qxp_Layout 1 24/01/15 12:24 Page 3 Índice Anexo 1 Partidos e sistemas partidários na Europa do pós-I Guerra Mundial............................................................... 7 A adaptação dos partidos aos novos tempos................................. 7 França e Reino Unido...................................................................... 10 Itália e Alemanha.............................................................................. 15 Espanha ............................................................................................. 25 Portugal.............................................................................................. 33 O sistema político-partidário português no contexto -

A Ideologia Do Partido Republicano Nacionalista (1923-1935). a Construção De Uma «República Para Todos Os Portugueses»
A IDEOLOGIA DO PARTIDO REPUBLICANO NACIONALISTA (1923-1935). A CONSTRUÇÃO DE UMA «REPÚBLICA PARA TODOS OS PORTUGUESES» Manuel Baiôa CIDEHUS - Universidade de Évora Polis: Revista de Estudos Jurídico-Políticos, N.OS 18/21 (2012) 239 A Ideologia do Partido Republicano Nacionalista (1923-1935). A construção de uma ..., pp. 239-270 RESUMO O Partido Republicano Nacionalista insere-se numa linha política repu- blicana conservadora alternativa ao Partido Republicano Português, que repre- sentava a corrente radical e histórica do republicanismo português. O Partido Republicano Nacionalista apostou na ordem, na moderação e na reconciliação com a sociedade tradicionalista portuguesa, tentando criar uma “República para todos os portugueses”. O Partido Republicano Nacionalista defendia o laicismo do Estado, mas não da sociedade. Procurou compatibilizar o tradicionalismo e o nacionalismo moderado com o republicanismo histórico. Palavras-chave Portugal – Primeira República Portuguesa – Partido Republicano Naciona- lista – ideologia – conservador – partido de notáveis. ABSTRACT The Nationalist Republican Party represented the conservative republican alternative to the Portuguese Republican Party which represented the radical and historic line of the Portuguese republicanism. The Nationalist Republican Party defended order, moderation and reconciliation with the traditionalist Por- tuguese society, trying to create a “Republic for all Portuguese”. The Nationalist Republican Party supported a secular state, but not a secular society. This party aimed the balance between traditionalism, moderate nationalism and republica- nism. Key-words Portugal – Portuguese First Republic – Nationalist Republican Party – ideo- logy – conservative – party of notables. Polis: Revista de Estudos Jurídico-Políticos, N.OS 18/21 (2012) 241 Manuel Baiôa 1. INTRODUÇÃO O Partido Republicano Nacionalista (PRN) insere-se numa linha política republicana conservadora alternativa ao Partido Republicano Português (PRP), que representava a linha radical e histórica do republicanismo português. -
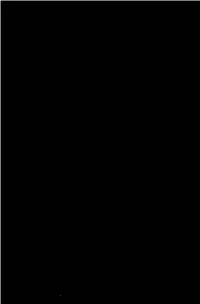
Hg-15911-V 0000 1-352 T24-C-R0150.Pdf
EXPOSIÇÃO HISTÓRICA DA OCUPACÃO / II VOLUME agência geral das colónias 19 3 7 da EXPOSIÇÃO HISTÓRICA DA OCUPAÇÃO DEP. LEG. ' ;ír 0 \\ km s REPÚBLICA PORTUGUESA MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS /V r,,i t EXPOSIÇÃO HISTÓRICA DA OC UPAÇAO II VOLUME AGÊNCIA GERAL DAS COLÓNIAS 19 3 7 ? 6 IC O 1.A GALERIA PENETRAÇÃO E POVOAMENTO ENETRAÇÃO, povoamento... — mas é tôda a coloni- zação! Obra que não é de hoje, nem de um século, — mas que começa no próprio dia da invenção pelos portu- gueses do Mundo até at ignorado. Chegados os navegadores até às novas paragens povoa- das, logo a ânsia lusíada buscava inquietamente descobrir, depois das terras, as riquezas, as gentes e os costumes; e nunca houve curiosidade mais viva e audaz, nem sensações mais frescas e perturbantes que as dos soldados, dos missio- nários, dos aventureiros portugueses entranhados na rudeza da barbarie ou no mistério subtil de milenárias civilizações. Levados pelo espirito de aventura, pelo ardor evan- gélico ou pela cobiça do oiro, ei-los que navegam rios e esca- lam montes, que travam relações com indígenas, que se em- brenham em florestas inexploradas, que palmilham a Pérsia, a China e o Japão, vivendo incríveis lances e triunfando por admiráveis rasgos. 7 Assim correu a fase heróica da penetração, de carácter sobretudo individual: quantas vezes um só português não conquista, pela persuação e pelo prestígio pessoal, tribus e reinos para os vir depor aos pés do seu rei! É que no cora- ção de cada um dêsses arrojados exploradores iam, inteiras, as aspirações imperiais e os ideais da civilização da sua pátria! Mas a penetração não se féz só assim, caprichosamente, ao sabor da imaginação e da vontade de portugueses isolados: também revestiu outras vezes aspecto metódico, seguindo um plano, ora por meio de entendimentos diplomáticos com os soberanos locais, ora por lenta infiltração pacífica, ora sob a forma de expedições punitivas ou visando a mera afirmação de poderio. -

The Effects of the 1925 Portuguese Bank Note Crisis
Working Paper No. 82/04 The Effects Of The 1925 Portuguese Bank Note Crisis Henry Wigan © Henry Wigan Department of Economic History London School of Economics February 2004 Department of Economic History London School of Economics Houghton Street London, WC2A 2AE http://www.lse.ac.uk/collections/economichistory Tel: +44 (0) 20 7955 7110 Fax: +44 (0) 20 7955 7730 The Effects of the 1925 Portuguese Bank Note Crisis Henry Wigan ‘The country is sick.’ General Oscar Carmona, 1925.1 1. Introduction On 5 December 1925, the ‘Portuguese Bank Note Bubble’ burst. The Lisbon daily newspaper, O Século (The Century), revealed the swindle in the headline ‘O Pais em Crise’ (The Country in Crisis). The article describes how twenty-eight year old white-collar worker, Artur Virgilio Alves Reis, had deceived civil servants both abroad and in Portugal, convinced the English security printing company Waterlow and Sons that he was a representative of the Bank of Portugal, and created his own bank through which he concealed over £3m in counterfeit money.2 Artur Reis was so successful in eluding the authorities that he came very close to buying the Bank of Portugal. A little over six months later, on 28 May 1926, President Bernardino Machado’s democratic government was removed in a golpe (military take over, sometimes referred to as the overthrow of the Republic, sometimes as its collapse or fall, and still other times as its dissolution), which ushered out the democratic Primeira República (First Republic) and ushered in an Authoritarian regime.3 The First Portuguese Republic did not, as its supporters had hoped it would, result in the dawn of a better age for Portugal; rather it perpetuated the political instability and general 1 Cited in F.C. -

Parties and Political Identity: the Construction of the Party System of the Portuguese Republic (1910-1926)1
Parties and Political Identity: the Construction of the Party System of the Portuguese Republic (1910-1926)1 Ernesto Castro Leal Faculty of Letters of Lisbon University History Centre of Lisbon University [email protected] Abstract The revolution of 5 October 1910, brought a political change in the form of a republican parliamentary regime, which required another kind of party system. Out of the fragmentation of the historical Portuguese Republican Party, in 1911-1912 there emerged a new structure of parties and political groups. During the First World War, the party system evolved in a relatively normal manner, but after 1919 it changed completely, with a series of dissidences, splits, and mergers. Throughout the First Portuguese Republic, the Portuguese Republican Party (the “Democratic Party”), which was reformed in 1911-1912, asserted its political leadership, with the great exception of the period of the republican presidential regime of Sidónio Pais. Keywords Contemporary History, Republicanism, First Portuguese Republic, Political Parties, Political Programs. Resumo A revolução de 5 de Outubro de 1910 originou uma alteração política sob a forma de um regime parlamentar republicano que exigia um diferente sistema de partidos políticos. Da fragmentação do histórico Partido Republicano Português em 1911-1912, emergiu uma nova estrutura de partidos e grupos políticos. Durante a I Guerra Mundial, assistiu-se à evolução do sistema de partidos mas, após 1919, esta situação altera-se profundamente com uma série de dissidências, cisões e fusões. Ao longo da Primeira República Portuguesa, o partido Republicano Português (o "Partido Democrático"), reformado em 1911-1912, afirma a sua liderança política, com excepção para o período do regime republicano presidencial de Sidónio Pais.