Hober Alves Lopes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Metaphysics of Being in Aristotle Thales: an Analytical Study
COMPETITIVE STRATEGY MODEL AND ITS IMPACT ON MICRO BUSINESS UNITOF LOCAL DEVELOPMENT BANKSIN JAWAPJAEE, 17 (7) (2020) The Metaphysics of Being in Aristotle Thales: An Analytical Study Marwan Ali Hussein1 1College of Education, University of Kufa, Iraq Marwan Ali Hussein . The Metaphysics of Being in Aristotle Thales: An Analytical Study - Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology 17(7), 3713-3721. ISSN 1567-214x Keywords: Metaphysics; Being; Philosophy; Aristotle Thale. ABSTRACT The problem of existence is one of the most important problems that have plagued philosophers since ancient times. Research and studies have continued on this issue, which philosophers have made one of the main topics of philosophy in addition to the theory of knowledge and values to this day. Heidegger, for example, wonders, in the twentieth century, why was there and was not nothing? This question revealed the crisis of existence among philosophers, until a whole philosophy became stained in the twentieth century in the name of existential philosophy. Hence, this research comes to shed light on this problem through the vision of the first teacher, Aristotle, Thales.The Aristotelian vision was distinguished in the search for existence, as we find a mixture of logical research, cognitive research and natural research that was characterized by the nature of biological studies.The Aristotelian vision was also distinctive because it corrected what had been missed from previous philosophers of Aristotle, especially in the research of causes and their diversity, in addition to the fact that the evidence that Aristotle leads to prove the existence of God, which is the evidence of movement, will appear strongly in Islamic philosophy, especially among the owners of the peripheral philosophy. -
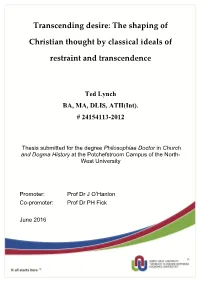
Educational Management Tasks
Transcending desire: The shaping of Christian thought by classical ideals of restraint and transcendence Ted Lynch BA, MA, DLIS, ATII(Int). # 24154113-2012 Thesis submitted for the degree Philosophiae Doctor in Church and Dogma History at the Potchefstroom Campus of the North- West University Promoter: Prof Dr J O’Hanlon Co-promoter: Prof Dr PH Fick June 2016 DEDICATION For my late father, Ted Lynch and Triestino father Nino Sterle —un abbraccione con tutta l’anima, per sempre. ii ACKNOWLEDGMENTS Professors Joseph O‘Hanlon and Rikus Fick; Peg Evans and Tienie Buys: I can never thank you enough for your patience, solid criticism and equally solid support. Bless you all many times. Also Dean Maria Jannsen, Christchurch, Waterford; Abbado Magris, Trieste; Biblioteca del Dipartimento di Filosofia dell‗Università degli Studi di Padova: Anna Khorda; Bibliothèque Nationale de France (Morland): Justina Konin. Malina above all. Shane, Mam, Niall, Anne and Ashling. Thank you all. iii ABSTRACT Transcending sexual desire in favour of spiritual goals, while valuing the latter above the former in terms of importance and virtue, is a defining feature of early Christian theology. Some biblical scholars interpret the body and divinity in early Christianity as integrative— sublimation of sexuality was seen as liberation from the prevailing ethos of the body, or a form of promotion of the spiritual within the human dimension. By contrast, the current research will attempt to demonstrate that the symbiosis of Platonism and dualistic thought shapes the concept of sublimation in early Christian writers in a powerful and consistent way; further, the residual legacy of this continues to guide Christian perceptions and concerns on human sexuality. -

A British Reflection: the Relationship Between Dante's Comedy and The
A British Reflection: the Relationship between Dante’s Comedy and the Italian Fascist Movement and Regime during the 1920s and 1930s with references to the Risorgimento. Keon Esky A thesis submitted in fulfilment of requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Arts and Social Sciences. University of Sydney 2016 KEON ESKY Fig. 1 Raffaello Sanzio, ‘La Disputa’ (detail) 1510-11, Fresco - Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican. KEON ESKY ii I dedicate this thesis to my late father who would have wanted me to embark on such a journey, and to my partner who with patience and love has never stopped believing that I could do it. KEON ESKY iii ACKNOWLEDGEMENTS This thesis owes a debt of gratitude to many people in many different countries, and indeed continents. They have all contributed in various measures to the completion of this endeavour. However, this study is deeply indebted first and foremost to my supervisor Dr. Francesco Borghesi. Without his assistance throughout these many years, this thesis would not have been possible. For his support, patience, motivation, and vast knowledge I shall be forever thankful. He truly was my Virgil. Besides my supervisor, I would like to thank the whole Department of Italian Studies at the University of Sydney, who have patiently worked with me and assisted me when I needed it. My sincere thanks go to Dr. Rubino and the rest of the committees that in the years have formed the panel for the Annual Reviews for their insightful comments and encouragement, but equally for their firm questioning, which helped me widening the scope of my research and accept other perspectives. -

Plato: Bibliographical Resources on Selected Dialogues
Plato: Bibliographical Resources on Selected Dialogues https://www.ontology.co/biblio/plato-editions.htm Theory and History of Ontology by Raul Corazzon | e-mail: [email protected] Plato: Bibliographical Resources on Selected Dialogues GENERAL BIBLIOGRAPHICAL RESOURCES ON PLATO 1. Cherniss, Harold. 1959. "Plato's Bibliography 1950-1957 (First Part)." Lustrum.Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen Altertums no. 4:5-308. 2. ———. 1960. "Plato's Bibliography 1950-1957 (Second Part)." Lustrum.Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen Altertums no. 5:321-618. Register to the Plato-Report ( Lustrum 4/5) pp. 619-648. 3. Brisson, Luc. 1977. "Plato's Bibliography 1958-1975." Lustrum.Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen Altertums no. 20:5-304. 4. Brisson, Luc, and Ioannidi, Hélène. 1983. "Plato's Bibliography 1975-1980." Lustrum.Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen Altertums no. 25:31-320. Corrigenda à Platon 1975-1980 - Lustrum 26, 1984 pp. 205-206. 5. ———. 1988. "Plato's Bibliography 1980-1985." Lustrum.Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen Altertums no. 30:11-294. Corrigenda à Platon 1980-1985 - Lustrum 31, 1989 pp. 270-271. 6. ———. 1992. "Plato's Bibliography 1985-1990." Lustrum.Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen Altertums no. 34:7-338. 7. Brisson, Luc, and Plin, Frédéric. 1999. Platon 1990-1995. Bibliographie. Paris: Vrin. Table des Matières: Introduction P. 7; 1. Listes des périodiques et des ouvrages comprenant une collection d'articles mentionnés dans cette bibliographie p. 15; Périodiques p. 15; Actes de congrés, mélanges, recueils p. 27; 2. Platon et ses œuvres p. 47; œuvres complètes p. -
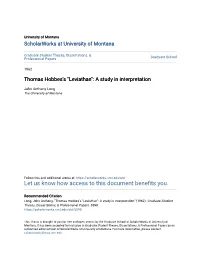
Thomas Hobbes's "Leviathan": a Study in Interpretation
University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 1962 Thomas Hobbes's "Leviathan": A study in interpretation John Anthony Long The University of Montana Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/etd Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Long, John Anthony, "Thomas Hobbes's "Leviathan": A study in interpretation" (1962). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 5590. https://scholarworks.umt.edu/etd/5590 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. THOMAS HOBBES*S LEVIATHAN: A STUDY IN INTERPRETATION by JOHN ANTHONY LONG B*A., Montana State University, 1961 Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts MONTANA STATE UNIVERSITY 1962 Approved by: hairman, Board of Examiners Dean, Graduate School SEP 1 8 1962 Date UMI Number: EP41054 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI EP41054 Published by ProQuest LLC (2014). Copyright in the Dissertation held by the Author. -

The Library of Rudolf Steiner: the Books in English Paull, John
www.ssoar.info The Library of Rudolf Steiner: The Books in English Paull, John Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Paull, J. (2018). The Library of Rudolf Steiner: The Books in English. Journal of Social and Development Sciences, 9(3), 21-46. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-59648-1 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur This document is made available under a CC BY Licence Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden (Attribution). For more Information see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Journal of Social and Development Sciences (ISSN 2221-1152) Vol. 9, No. 3, pp. 21-46, September 2018 The Library of Rudolf Steiner: The Books in English John Paull School of Technology, Environments and Design, University of Tasmania, Hobart, Australia [email protected], [email protected] Abstract: The New Age philosopher, Rudolf Steiner (1861-1925), was the most prolific and arguably the most influential philosopher of his era. He assembled a substantial library, of approximately 9,000 items, which has been preserved intact since his death. Most of Rudolf Steiner’s books are in German, his native language however there are books in other languages, including English, French, Italian, Swedish, Sanskrit and Latin. There are more books in English than in any other foreign language. Steiner esteemed English as “a universal world language”. The present paper identifies 327 books in English in Rudolf Steiner’s personal library. -

Happiness: a Psycho-Philosophical Appraisal Shagufta Begum ∗, Shaista Jabeen ∗∗ & Aneeqa Batool Awan ∗∗∗
Happiness: A Psycho-Philosophical Appraisal Shagufta Begum ∗, Shaista Jabeen ∗∗ & Aneeqa Batool Awan ∗∗∗ Abstract The concept of happiness has been under consideration among philosophers, psychologists, theologians and mystics since a long time. These disciplines have tried to explain the concept in their own respective manners. The purpose of this paper is to examine the theoretical and practical aspects of the notion of happiness. This would explicate two approaches to the problem of happiness: philosophical and psychological to know how to achieve happiness and avoid unhappiness. We claim that happiness is not merely a matter of fate but a skill that can be learnt to groom one’s personality and to lessen pains. This paper deals with following core questions: Is the term ‘happiness’ definable? Is happiness an internal state of mind or the result of external state of affairs? Keywords: Happiness, Pleasure, Eudemonia, Positive psychology, Nirvana, Positive emotions, Wellbeing, Summum Bonum. Introduction The concept of happiness has been the core subject right from hedonism to utilitarianism, from liberalism to positive psychology, and from religious judgments to mystic experiences. Many philosophical and psychological systems regard happiness as the summum bonum of life. What happiness is? Many scholars consider happiness as the fulfillment of desires, passions, whims, and aims. There are two senses of the term ‘happiness’: first, happiness in the sense of wellbeing or flourishing, and secondly, happiness in the sense of psychological aspects. Mostly joy, pleasure, satisfaction and contentment are the terms considered synonymous with happiness. Many philosophers and psychologists have attempted to define the term happiness but they could not succeed in finding an ∗ Shagufta Begum, Associate Professor/Chairperson, Department of Philosophy, University of the Punjab, Lahore. -

New Europe College Ştefan Odobleja Program Yearbook 2013-2014
New Europe College Ştefan Odobleja Program Yearbook 2013-2014 FILIP ALEXANDRESCU FLORIN GEORGE CĂLIAN IONUŢ EPURESCU-PASCOVICI ANDREI GORZO ALEXANDRU IONIŢĂ VERONICA LAZĂR ALEXANDRU MATEI IOANA MĂGUREANU Editor: Irina Vainovski-Mihai This volume was published within the Human Resources Program – PN II, implemented with the support of the Ministry of National Education - The Executive Agency for Higher Education and Research Funding (MEN – UEFISCDI), project code PN–II– RU–BSO-2013 Copyright – New Europe College ISSN 1584-0298 New Europe College Str. Plantelor 21 023971 Bucharest Romania www.nec.ro; e-mail: [email protected] Tel. (+4) 021.307.99.10, Fax (+4) 021. 327.07.74 FLORIN GEORGE CĂLIAN Born in 1978, in Bucharest, Romania Ph.D. Candidate, Department of Philosophy, Central European University, Budapest Dissertation: Plato’s Philosophy of Mathematics in the Late Dialogues Scholarships, Grants, and Research grants: Department of Incunabula, Old and Precious Books, Österreichische Nationalbibliothek (2009) Robarts Library, University of Toronto (2012) Departement für Philosophie, Universität Freiburg (2012) Plato Center, Trinity College Dublin (2013) Trinity College, University of Oxford (2014) Talks and conferences in Czech Republic, Hungary, Portugal, Slovakia, Switzerland, UK, etc. Articles on history of philosophy, historiography of science, philosophy of religion, Plato, Proclus ONE, TWO, THREE… A DISCUSSION ON THE GENERATION OF NUMBERS IN PLATO’S PARMENIDES Abstract One of the questions regarding the Parmenides is whether Plato was committed to any of the arguments developed in the second part of the dialogue. This paper argues for considering at least one of the arguments from the second part of the Parmenides, namely the argument of the generation of numbers, as being platonically genuine. -

Paintings Conservation in Australia from the Nineteenth Century to The
Paintings Conservation in Australia from the Nineteenth Century to the Present: Paintings Conservation in Australia from the Nineteenth Century to the Present: !"##$!%&#' %($ )*+% %" %($ ,-%-.$ Essays, Recollections and Historical Research on Paintings Conservation and Conservators, from the Nineteenth Century to the Present. Contributions to the Eleventh AICCM Paintings Group Symposium, held at the National Gallery of Victoria in Melbourne, October 9th & 10th, 2008. !"#%.&0-%".+ Allan Byrne Anne Carter Paula Dredge Catherine Earley Kate Eccles-Smith Alexandra Ellem Sarah Fisher John Hook Deborah Lau !"##$!%&#' Alan Lloyd Holly McGowan-Jackson Jacqueline Macnaughtan Catherine Nunn %($ Gillian Osmond Chris Payne )*+% John Payne %" Robyn Sloggett Michael Varcoe-Cocks %($ ,-%-.$ Contributions to the Eleventh AICCM Paintings Group Symposium National Gallery of Victoria, Melbourne 2008 $/&%$/ 01 !*.2 3&22&+ *#/ *2$4*#/.* $22$5 Alan Lloyd Paintings Conservation in Australia from the Nineteenth Century to the Present: Connecting the Past to the Future Essays, Recollections and Historical Research on Paintings Conservation and Conservators, from the Nineteenth Century to the Present. Contributions to the Eleventh AICCM Paintings Group Symposium, held at the National Gallery of Victoria in Melbourne, October 9th & 10th, 2008. "#$%"# &' ()*+ ,$++$- ).# )+"/).#*) "++"0 1 Contents Director’s Foreword i Preface iii Copyright © Australian Institute for the Conservation of Cultural Material Inc. 2008 Acknowledgments xi ISBN 978-0-9580725-2-6 Part I Stories of Early Years Edited by Carl Villis and Alexandra Ellem Design: Jessica Gommers and Elizabeth Carey Smith 1. Catherine Nunn 1 “Benign Neglect” and Australian Conservation History: Published by AICCM Inc. An Unlined Eighteenth-century British painting in Australia GPO Box 1638 Canberra ACT 2601 2. Alex Ellem 11 Printed in Melbourne by Impact Digital Pty. -

Americana, Travel, Atlases Section III: Literature, Art, Photography
Full collations, descriptions, and bibliographical details are available for all items listed. Section I: Human Sciences & Natural History Section II: Americana, Travel, Atlases Section III: Literature, Art, Photography 1 NEWTON, No. 62 2 THE STATE OF CHEMISTRY NEW TECHNOLOGY FOR THE FARMER 1. AIKIN, Arthur & AIKIN, Charles Rochemont 2. ANDERSON, James A dictionary of chemistry and mineralogy, with an account of the processes Essays relating to agriculture and rural affairs. Edinburgh: William Cheech, employed in many of the most important Chemical Manufactures. To which 1775, 1777; Bell & Bradfute, 1796. Three volumes (Volume I in two parts). are added a description of chemical apparatus, and various useful tables of 8vo. Complete with all half-titles, folding engraved plates, errata and weights and measures, chemical instruments, &c. &c. London: John and publisher’s advertisements. Contemporary calf. Arthur Arch and William Phillips, 1807. Two volumes 4to. With 15 engraved plates. Full calf, rebacked with the original spine laid down. First editions. The essays which make up the first volume include treatment of enclosures and fencing, draining bogs and swampy ground, on leveling ridges, on the proper method of sowing grass seeds, on hay-making, and a lengthy one entitled “Miscellaneous disquisitions, doubts and queries relating to agriculture.” This essay was supplemented in the 1777 printing by a treatise on quick-lime. The third volume contains three essays, the first “On the obstacles to the advancement of agriculture in England, and the means of removing them”; the second “On waste lands, and the means of their improvement”; and the third “Hints on the economical consumption of the produce of a farm”. -

Plato As Teacher of Socrates?
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2016 Plato as Teacher of Socrates? Ferber, Rafael Abstract: What distinguishes the Socrates of the early from the Socrates of the middle dialogues? Ac- cording to a well-known opinion, the “dividing line” lies in the difference between the Socratic and the Platonic theory of action. Whereas for the Platonic Socrates of the early dialogues, all desires are good- dependent, for the Platonic Socrates of the middle dialogues, there are good-independent desires. The paper argues first (I) that this “dividing line” is blurred in the ”Symposium”, and second (II) thatwehave in the ”Symposium” a more distinctive dividing line, namely the introduction of the separate existence of the idea of beauty. This introduction by Diotima/Plato of separate ideas and the lack of (noetic) understanding of separate ideas – here the idea of beauty – by Socrates may have been the limit not only of the Socrates of the early Platonic dialogues, but of the historical Socrates as well. Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: http://doi.org/10.5167/uzh-124688 Published Version Originally published at: Ferber, Rafael (2016). Plato as Teacher of Socrates? In: Tulli, Mauro; Erler, Michael. Plato in Sym- posium : Selected Papers from the tenth Symposium Platonicum. St. Augustin: Academia Verlag, 443-448. Mauro Tulli / Michael Erler (eds.) Plato in Symposium International Plato Studies Published under the auspices of the International Plato Society Series Editors: Franco Ferrari (Salerno), Lesley Brown (Oxford), Marcelo Boeri (Santiago de Chile), Filip Karfik (Fribourg), Dimitri El Murr (Paris) Volume 35 PLATO IN SYMPOSIUM SELECTED PAPERS FROM THE TENTH SYMPOSIUM PLATONICUM Edited by MAURO TULLI AND MICHAEL ERLER Academia Verlag Sankt Augustin Illustration on the cover by courtesy of the Bodleian Library, Oxford, MS. -

Building the Conservation Discipline in Australia
Tradition and Innovation: Building the Conservation Discipline in Australia Marcelle Marea Scott ORCID ID: 0000-0003-0869-0678 Submitted in total fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy January 2016 The Grimwade Centre for Cultural Materials Conservation School of Historical and Philosophical Studies Faculty of Arts The University of Melbourne Produced on archival quality paper ABSTRACT The modern discipline of cultural materials conservation can trace its practice-based roots to the artist-restorer’s workshops of the Renaissance. Its theoretical roots lie in Enlightenment thinking and the treasure house museum collections built in that time. Its cultural and philosophical roots, and the desire to leave an authentic record of our actions, beliefs, and values go back millennia. Yet, despite being recognised as a socially relevant and technically advanced field, conservation has recently been problematically viewed through a crisis lens, evidenced in a crisis in conservation education. This thesis reconsiders that analysis, showing that crises in conservation are a normative part of disciplinary development. Thomas Kuhn’s ‘essential tension’ between tradition and innovation provides a conceptual device through which to locate the essential interdisciplinary nature of conservation and restoration as its unique strength; one that draws on and maintains a sense of pride in its traditions, and embraces innovation through the incorporation of new knowledge domains. An overview of the history and development of cultural materials conservation, from a craft-based practice to an interdisciplinary academic discipline, provides evidence of the ways in which various essential tensions and crises in conservation have led to disciplinary and professional growth.