Ronaldo Moreira Ribas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A New Species from Cerro De La Neblina, Venezuela Lucas C
ACTA AMAZONICA http://dx.doi.org/10.1590/1809-4392202000072 ORIGINAL ARTICLE Tovomita nebulosa (Clusiaceae), a new species from Cerro de la Neblina, Venezuela Lucas C. MARINHO1,2* , Manuel LUJÁN3, Pedro FIASCHI4, André M. AMORIM5,6 1 Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Biologia, Av. dos Portugueses 1966, Bacanga 65080-805, São Luís, Maranhão, Brazil 2 Universidade Estadual de Feira de Santana, Programa de Pós-Graduação em Botânica, Av. Transnordestina s/n, Novo Horizonte 44036-900, Feira de Santana, Bahia, Brazil 3 California Academy of Sciences, 55 Music Concourse Drive, Golden Gate Park, San Francisco, California 94118, USA 4 Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Botânica, Trindade 88040-900, Florianópolis, Santa Catarina, Brazil 5 Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciências Biológicas, Km 25 Rodovia Ilhéus-Itabuna 45662-900, Ilhéus, Bahia, Brazil 6 Centro de Pesquisas do Cacau, Herbário CEPEC, Km 16 Rodovia Itabuna-Ilhéus 45650-970, Itabuna, Bahia, Brazil * Corresponding author: [email protected]; https://orcid.org/0000-0003-1263-3414 ABSTRACT Although the number of recently described Tovomita species is relatively high, much more remains to be done, given that each new survey of representative Amazonian collections reveals many potentially undescribed taxa. In the treatment for Tovomita published in Flora of the Venezuelan Guayana, at least six distinct morphotypes did not match any previously described species. -

Victor Py-Daniel (1951-2021) Jansen Fernandes De Medeiros1 , Herbet Tadeu De Almeida Andrade2 & Felipe Arley Costa Pessoa3
doi: 10.12741/ebrasilis.v14.e956 e-ISSN 1983-0572 Creative Commons License v4.0 (CC-BY) Copyright © Author(s) Article Full Open Access Obituary Victor Py-Daniel (1951-2021) Jansen Fernandes de Medeiros1 , Herbet Tadeu de Almeida Andrade2 & Felipe Arley Costa Pessoa3 1. Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz Rondônia, Porto Velho - RO, Brazil. 2. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências, Natal – RN, Brazil. 3. Instituto Leônidas e Maria Deane, Fiocruz Amazônia, Manaus – AM, Brazil. EntomoBrasilis 14: e956 (2021) Edited by: Alberto Moreira Silva-Netto Article History: Received: 14.vii.2021 Accepted: 15.vii.2021 Published: 23.vii.2021 Corresponding author: Felipe Arley Costa Pessoa [email protected] Português English aleceu em 22 de junho de 2021, em Brasília/DF, aos he researcher Victor Py-Daniel passed away on 69 anos, o pesquisador Victor Py-Daniel que dedicou 22 June of 2021, in Brasilia/DF, at the age of 69. He cerca de 50 anos da sua vida em atividades de pesquisa, dedicated about 50 years of his life to research, ensino e formação de recursos humanos. Victor era um teaching, and training human resources. Victor was intelectual que se interessava sobre aspectos de biologia an intellectual interested in several aspects of classical clássica, como taxonomia, sistemática, biodiversidade, biology, such as taxonomy, systematics, and biodiversity, assim como o ser humano nesse contexto, dedicou-se including the human being in this context. He also dedicated também em estudos sobre doenças transmitidas por insetos himself to studying insect-borne diseases in vulnerable em populações amazônicas vulneráveis, índios isolados, Amazon populations, isolated Indian populations, isolated ribeirinhos e comunidades isoladas. -

Brazil Country Handbook 1
Brazil Country Handbook 1. This handbook provides basic reference information on Brazil, including its geography, history, government, military forces, and communications and trans- portation networks. This information is intended to familiarize military personnel with local customs and area knowledge to assist them during their assignment to Brazil. 2. This product is published under the auspices of the U.S. Department of Defense Intelligence Production Program (DoDIPP) with the Marine Corps Intel- ligence Activity designated as the community coordinator for the Country Hand- book Program. This product reflects the coordinated U.S. Defense Intelligence Community position on Brazil. 3. Dissemination and use of this publication is restricted to official military and government personnel from the United States of America, United Kingdom, Canada, Australia, NATO member countries, and other countries as required and designated for support of coalition operations. 4. The photos and text reproduced herein have been extracted solely for research, comment, and information reporting, and are intended for fair use by designated personnel in their official duties, including local reproduction for train- ing. Further dissemination of copyrighted material contained in this document, to include excerpts and graphics, is strictly prohibited under Title 17, U.S. Code. CONTENTS KEY FACTS. 1 U.S. MISSION . 2 U.S. Embassy. 2 U.S. Consulates . 2 Travel Advisories. 7 Entry Requirements . 7 Passport/Visa Requirements . 7 Immunization Requirements. 7 Custom Restrictions . 7 GEOGRAPHY AND CLIMATE . 8 Geography . 8 Land Statistics. 8 Boundaries . 8 Border Disputes . 10 Bodies of Water. 10 Topography . 16 Cross-Country Movement. 18 Climate. 19 Precipitation . 24 Environment . 24 Phenomena . 24 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION . -

“A Oncocercose Humana No Brasil E Sua Dispersão”
MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ INSTITUTO OSWALDO CRUZ Curso de Pós-graduação em Biologia Parasitária “A ONCOCERCOSE HUMANA NO BRASIL E SUA DISPERSÃO” MARILZA MAIA HERZOG Tese submetida ao Instituto Oswaldo Cruz como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em Biologia Parasitária Rio de Janeiro 29 de dezembro de 1999 Marilza Maia Herzog “A ONCOCERCOSE HUMANA NO BRASIL E SUA DISPERSÃO” Orientador: Prof. Dr. Anthony John Shelley Departamento de Entomologia do Museu de História Natural de Londres ii MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto Oswaldo Cruz CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA “A ONCOCERCOSE HUMANA NO BRASIL E SUA DISPERSÃO” por MARILZA MAIA HERZOG Avaliada pela banca examinadora composta pelos seguintes membros: .................................................................... Prof. Dr. Rubens Pinto de Mello (presidente) .................................................................... Prof. Dr. Sixto Coscarón .................................................................... Prof. Dr. Otílio Machado Pereira Bastos .................................................................... Prof. Dr. Octávio Fernandes .................................................................... Prof. Dr. Anthony Érico G. Guimarães Dissertação defendida em 29 de dezembro de 1999 iii MAIA-HERZOG, Marilza A Oncocercose Humana no Brasil e sua Dispersão. vii,92f. Rio de Janeiro, IOC, FIOCRUZ, 1999 Tese: Doutor em Ciências (Biologia Parasitária) 1.Oncocercose 2.Simulídeos 3.Epidemiologia 4.Dispersão -
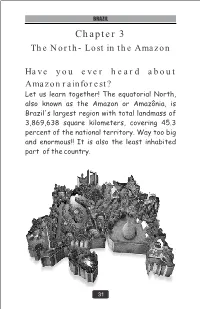
Chapter 3 the North- Lost in the Amazon
BRAZIL Chapter 3 The North- Lost in the Amazon Have you ever heard about Amazon rainforest? Let us learn together! The equatorial North, also known as the Amazon or Amazônia, is Brazil's largest region with total landmass of 3,869,638 square kilometers, covering 45.3 percent of the national territory. Way too big and enormous!! It is also the least inhabited part of the country. 31 BRAZIL The region has the largest rainforest of the world and is called Amazon. The word Amazon refers to the women warriors who once fought in inter-tribe in ancient times in this region of today's North Region of Brazil. It is also the name of one of the major river that passes through Brazil and flows eastward into South Atlantic. This river is also the largest of the world in terms of water carried in it. There are also numerous other rivers in the area. It is one fifth of all the earth's fresh water reserves. There are two main Amazonian cities: Manaus, capital of the State of Amazonas, and Belém, capital of the State of Pará. 32 BRAZIL Over half of the Amazon rainforest( more than 60 per cent) is located in Brazil but it is also located in other South American countries including Peru, Venezuela, Ecuador, Colombia, Guyana, Bolivia, Suriname and French Guiana. The Amazon is home to around two and a half million different insect species as well as over 40000 plant species. There are also a number of dangerous species living in the Amazon rainforest such as the “Onça Pintada” (Brazilian Puma) and anaconda. -

The Genus Plagiochila (Marchantiophyta) in Colombia Robbert Gradstein
Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 40(154):104-136, enero-marzo de 2016 doi: http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.272 Review article Natural Sciences The genus Plagiochila (Marchantiophyta) in Colombia Robbert Gradstein Museum National d’Histoire Naturelle, Dept. Systématique et Evolution, Paris, France Abstract Plagiochila is the largest genus of bryophytes of Colombia. A total of 175 species have been recorded from the country but the majority of these are synonyms. In this paper 57 species are accepted for Colombia. A key to the Colombian species of Plagiochila is provided and each species is briefly described, with data on types, synonyms, published illustrations, morphology, geographical distribution and habitat, as well as a brief discussion of differentiating characters and taxonomic affinity. Among the countries of tropical America, Colombia has the highest diversity of Plagiochila followed by Ecuador (53 species) and Costa Rica (50 species). More than half of the Colombian species are widely distributed throughout tropical America and seven of them occur also in Africa and/or Western Europe. About one fourth of the species are restricted to the northern Andes, which is the centre of diversity of Plagiochila in the New World. The majority of the species grow as epiphytes in humid Andean forests. Diversity peaks in the upper montane forest belt between 2000-3000 m. Sixteen species occur in the páramo belt and five are exclusive to páramo. Eighteen species occur in lowland rainforest.Plagiochila eggersii, recorded from lowland rainforest of the Chocó, is new to Colombia. Key words: Andean forest, bryophytes, Colombia, elevational distribution, liverworts, páramo, Plagiochila, taxonomy. -

Habilidades Desenvolvidas: Ef06ma14
Matemática 6º ANO E. F. HABILIDADES DESENVOLVIDAS: EF06MA14 – Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. EF06MA32 – Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões ATIVIDADES 1. Que número deve ser colocado no lugar de para que cada lado da igualdade tenha o mesmo valor? a) 5 + 7 = – 15 c) 20 – 15 = – 18 e) 45 – = 7 + 8 g) ( )2 = 9 + 7 b) 28 : = 10 – 6 d) 13 + = 5∙4 f) 90 + = 77 + 19 h) 6∙3 = – 3 2 - Observe a tabela a seguir Picos Culminantes do Brasil Nome Altura Localização Pico da Neblina 2.994 m Amazonas . Disponível . em:Disponível Pico 31 de Março 2.973 m Amazonas Pico da Bandeira 2.892 m Minas Gerais e Espírito Santo Pedra da Mina 2.798 m Minas Gerais e São Paulo Acesso em: 21 nov. nov. 21 Acessoem:2014. Pico das Agulhas Negras 2.792 m Minas Gerais e Rio de Janeiro Anuário Anuário do Estatístico2012 Brasil Pico do Cristal 2.770 m Minas Gerais Fonte: Fonte: IBGE. Monte Roraima 2.739 m Roraima <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/20/aeb_2012.pdf>. Analise a tabela e faça o que se pede a seguir. a) Qual é a diferença, em metros, entre a altura do pico mais alto e a do pico mais baixo? b) Determine a diferença entre a altura do Pico da Bandeira e a do Pico das Agulhas Negras. -
Revista Brasileira De B10logia
Philip M. Fearnside. Ph. 0 . ISSN 0034-7108 ln~tituto Naci orial de Pesquisa1 Ja Amazuni a UN PA) ~.:;.' Caixa Postal 4 7 8 :; 69011 M" naus. Ama2GM• ··;, EJR~. Slt... :~3~~.tA • · '-.\ -~.. :~ .. ... .., REVISTA BRASILEIRA DE B10LOGIA ( ' I1 MCMXVI ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS 1997 • :R~ista; ·:ai:~s.:Ue.:tra; :de ~OlCXJia 57 (41: 531-549. LIMITING FACTORS FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RANCHING IN BRAZILIAN AMAZONIA* PHILIP M. FEARNSIDE** Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA), C.P. 478, 69011-970 Manaus, Arnazonas, Brazil (With 3 figures) ABSTRACT Limiting factors restrict both the intensification of agriculture and ranching uses and the scale to which these land uses can be expanded. The expression of limiting factors on development is mediated through human planning: the perception of. limits to agricultural yields and of the severity and probability of environmental impacts can lead to decisions to limit agricultural expansion. Limits to intensification of agriculture include agronomic limits on per-hectare yields, technological limits and research, and cultural limits. Limits to expansion of agricul tural areas include physical resource limits such as phosphate deposits, limits of social values, institutional limits (including the credibility of institutions), limits on human habitation (such as health), and limits to environmental risks. Limits from considerations in political and mili tary spheres often override "rational" decisions based on land capability and environmental consequences. This kind of "interference," however, can cause a variety of impacts that, if properly evaluated, would likely make the net result of such development projects a negative one for Brazil's national interests. Key words: carrying capacity, limiting factors, Amazonia, deforestation, cattle ranching, eco nomic development. -

PROPONENTE Associação Yanomami Do Rio Cauaburis E Afluentes (AYRCA) E Associação Das Mulheres Yanomami Kumirayoma (AMYK)
PROPONENTE Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes (AYRCA) e Associação das Mulheres Yanomami Kumirayoma (AMYK) Plano Plano Planode Visitação de Visitação Ecoturismo (3173026) Yaripo (1630858) SEI 02070.012217/2017-11 SEI 02120.000767/2017-54 / pg. 1 / pg. 1 PÚBLICO BENEFICIADO 2.749 pessoas pertencentes às comunidades yanomami de Ariabú, Ayari, Inambú, Maiá, Maturacá e Nazaré REGIÃO ALVO Terra Indígena Yanomami – Região do rio Cauaburis, próxima ao pico da Neblina, municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, Amazonas, Brasil. ASSOCIAÇÃO YANOMAMI DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES (AYRCA) Região de Maturacá – Terra Indígena Yanomami Município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. CNPJ: 04.293.182/0001-97 Diretoria (mandato 2015-2017) Presidente: Francisco Xavier da Silva Figueiredo Vice-Presidente: Marcos Figueiredo da Silva Secretário: Anderson Luiz Brazão Góes Secretário Adjunto: Calixto Alves Tesoureiro: Severo Braulino Conselho Fiscal: Salomão Mendonça Ramos e Roberval Figueiredo Mendonça Conselheiros: Maria Auxiliadora Ribeiro Maia, Nilse Barbosa Leite e Vicente Vilela Figueiredo ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES YANOMAMI KUMIRAYOMA – AMYK Região de Maturacá – Terra Indígena Yanomami Município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Diretoria (mandato 2015-2019) Presidente: Floriza da Cruz Pinto Vice-Presidente: Margarida Góes Secretária: Lidia dos Santos Tesoureira: Maria Cléia Conselheiras: Maria Ilda, Luiza Góes, Maria de Jesus, Bernadete Lacerda e Maria Gama Plano Plano Planode Visitação de Visitação Ecoturismo (3173026) Yaripo (1630858) SEI 02070.012217/2017-11 SEI 02120.000767/2017-54 / pg. 2 / pg. 2 VERSÃO DE 3 DE JULHO DE 2017 PROPONENTE APOIO Plano Plano Planode Visitação de Visitação Ecoturismo (3173026) Yaripo (1630858) SEI 02070.012217/2017-11 SEI 02120.000767/2017-54 / pg. -

A Review of the Genus Tanytarsus Van Der Wulp, 1874 (Insecta, Diptera, Chironomidae) from the Neotropical Region
A review of the genus Tanytarsus van der Wulp, 1874 (Insecta, Diptera, Chironomidae) from the Neotropical Region Angela Manzolillo Sanseverino München 2006 A review of the genus Tanytarsus van der Wulp, 1874 (Insecta, Diptera, Chironomidae) from the Neotropical Region Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität München Durchgeführt an der Zoologischen Staatssammlung München vorgelegt von Angela Manzolillo Sanseverino aus Rio de Janeiro, Brasilien München, Oktober 2005 Erstgutachter: Prof. Dr. Ernst Josef Fittkau Zweitgutachter: Prof. Dr. Klaus Schönitzer Abgabetag: 20.10.2005 Tag der mündlichen Prüfung: 23.2.2006 Hinweis Hiermit erkläre ich, dass die nomenklatorisch relevanten Handlungen in dieser Arbeit im Sinne von Artikel 8 des Internationales Kodes für Zoologische Nomenklatur als unpubliziert zu gelten haben (ICZN 1999). Sie werden ausschließlich durch die entsprechenden Publikationen verfügbar gemacht. Disclaimer I herewith declare that the nomenclaturally relevant acts in this thesis have to be regarded as unpublished according to article 8 of the International Code of Zoological Nomenclature (ICZN 1999), and will only become availabe by the referring publications. iii CONTENTS 1. Introduction ........................................................................................................................ 1-5 1.1. The family Chironomidae ................................................................................................. 1 1.2. The genus Tanytarsus -

New Record and Range Extension of the Horned Toad, Rhinella Ceratophrys (Boulenger, 1882) (Anura: Bufonidae), in Venezuela, and Confirmation of Its Presence in Brazil
13 1 2035 the journal of biodiversity data 12 January 2017 Check List NOTES ON GEOGRAPHIC DISTRIBUTION Check List 13(1): 2035, 12 January 2017 doi: https://doi.org/10.15560/13.1.2035 ISSN 1809-127X © 2017 Check List and Authors New record and range extension of the Horned Toad, Rhinella ceratophrys (Boulenger, 1882) (Anura: Bufonidae), in Venezuela, and confirmation of its presence in Brazil Fernando J. M. Rojas-Runjaic1, 2, 7, Edward Camargo3, Vinícius T. de Carvalho4, 5 & Enrique La Marca6 1 Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Museo de Historia Natural La Salle, Apartado Postal 1930, Caracas 1010-A, Venezuela 2 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Laboratório de Sistemática de Vertebrados, Av. Ipiranga 6681, Porto Alegre, RS, 90619-900, Brazil 3 Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande (EBRG), Apartado Postal 184, Maracay 2101, estado Aragua, Venezuela 4 Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Laboratório de Evolução e Genética Animal, Av. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000, Mini-Campus Setor Sul, Manaus, AM, 69077-000, Brazil 5 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coleção de Anfíbios e Répteis, Campus II, Av. André Araújo, 2936, Aleixo, Manaus, AM, 69060-000, Brazil 6 Universidad de Los Andes, Laboratorio de Biogeografía, Colección de Anfibios y Reptiles, Mérida 5101, Venezuela 7 Corresponding author. E-mail: [email protected] Abstract: The Horned Toad, Rhinella ceratophrys, is widely sternosignata (Günther, 1859) (Barrio-Amorós et al. distributed in the northwestern part of the Amazon region. 2009; Acevedo et al. 2016). It is known from Venezuela by only a single juvenile from Rhinella ceratophrys is the most striking and easily dis- the base of Cerro Marahuaca, Amazonas state. -

A Cobertura Natural, O Potencial Paisagístico E O Turismo No Parque Nacional Do Caparaó (Es-Mg) Segundo a Hierarquia De Paisagens De Georges Bertrand (1972)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM GEOGRAFIA A COBERTURA NATURAL, O POTENCIAL PAISAGÍSTICO E O TURISMO NO PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ (ES-MG) SEGUNDO A HIERARQUIA DE PAISAGENS DE GEORGES BERTRAND (1972). VICTOR SILVEIRA MASSINI VITÓRIA 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM GEOGRAFIA A COBERTURA NATURAL, O POTENCIAL PAISAGÍSTICO E O TURISMO NO PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ (ES-MG) SEGUNDO A HIERARQUIA DE PAISAGENS DE GEORGES BERTRAND (1972). Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo como requisito para obtenção do título de Mestre em Geografia, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Cláudia Câmara do Vale. VICTOR SILVEIRA MASSINI VITÓRIA 2017 AGRADECIMENTOS Agradeço À Deus, ao Sol, à Lua e às Estrelas. Aos meus pais e meus avós. À Professora e amiga Dr.ª Cláudia Câmara do Vale, pela confiança, apoio e dedicação de sempre. À Universidade Federal do Espírito Santo e ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, seus docentes e colaboradores. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio à pesquisa. Ao Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). Ao Parque Nacional do Caparaó, seus gestores e colaboradores. Aos colegas do Programa, em especial a Carlos Alberto Kuster Pinheiro, Wesley de Souza Campos Correa, Fabrício Holanda do Nascimento e Luana Zadorosny, por todas as colaborações à esta pesquisa. E à toda natureza. RESUMO Este trabalho tem por objetivo estudar a Unidade de Conservação (UC) denominada Parque Nacional do Caparaó (PNC), situado na divisa entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais (Brasil), inspirado pela Teoria Geral do Sistema para a ciência Geográfica.