Wagner Barge Belmonte.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
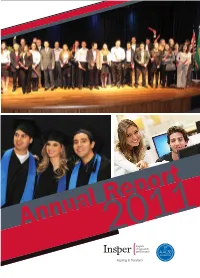
Annual Report 2011
Rua Quatá, 300 | 04546-042 Vila Olímpia | São Paulo | SP | Brasil T (11) 4504-2400 | F (11) 4504-2350 [email protected] www.insper.edu.br t Annual Repor2011 For Insper, the year 2011 was replete with I am also happy to note that our research professors important achievements, some of which, to our great had a high number of papers accepted for publication satisfaction, are highlighted on the following pages. in international journals with an “A” classification. Ten of them received awards for best paper presented at a In the College, one of these was the Effective Problem conference or published in a technical journal, one of Solving program (REP), which was launched in early 2010 whom also placed second in the Jabuti Award, which is as a series of activities that culminated, in the second a prestigious Brazilian literary award for best book in the semester of 2011, in an experience conducted in the fields of economics and business administration. field for the Business Administration students. In the sixth We made progress on the campus-expansion project, semester of the program, they were divided into 16 groups with construction of the building on a lot adjacent to our of five students each, who worked together on real-world campus on schedule for delivery in the first half of this unstructured problems presented by 13 companies. The year. With the eight floors to be occupied by Insper, our projects counted as one course and the curriculum was floor space will expand by 80%, which will improve the adjusted so students could take advantage of this field quality of the educational experience offered at Insper. -

Análise Das Estratégias Argumentativas De Veja E Cartacapital Sobre O Processo De Impeachment De Dilma Rousseff
Foi golpe ou não foi golpe? Análise das estratégias argumentativas de Veja e CartaCapital sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff Rejane de Oliveira Pozobon Jornalista. Doutora em Ciências da Comunicação. Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. Carolina Siqueira de David Jornalista. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. Resumo Este artigo analisa, a partir de estratégias argumentativas (BRETON, 1999, 2012), as construções dos discursos de Veja e Carta Capital sobre a nomenclatura do acontecimento impeachment de Dilma Rousseff. São quatro as estratégias elencadas com o propósito de identificar como as revistas reforçam o ponto de vista que defendem: autoridade, comunidade, reenquadramento e analogia. Outros conceitos angariados são o de acontecimento (FRANÇA, 2012; REBELO, 2006) e as especificidades do jornalismo de revista (SCHWAAB; TAVARES, 2013). Como conclusão, observam-se que as duas revistas se diferenciam quando argumentam sobre a nomenclatura do acontecimento impeachment: enquanto Carta Capital utiliza a denominação golpe, Veja rechaça essa nomenclatura. Palavras-chave Argumentação; acontecimento; Veja; CartaCapital; impeachment Dilma Rousseff. Abstract This article analyzes, based on the argumentative strategies (BRETON, 1999, 2012), the constructions of the discourses of Veja and CartaCapital on the nomenclature of Dilma Rousseff’s impeachment. There are four strategies listed with the purpose of identifying how magazines reinforce their point of view: authority, community, reframing and analogy. Other concepts raised are about the event (FRANÇA, 2012; REBELO, 2006) and the specificities of magazine journalism (SCHWAAB; TAVARES, 2013). As a conclusion, it can be observed that the two magazines differ when they argue about the nomenclature of impeachment process: while CartaCapital uses the denomination coup, Veja rejects this nomenclature. -

From Inside Public Disclosure Authorized Brazil DEVELOPMENT in a LAND of CONTRASTS Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized DEVELOPMENT IN A DEVELOPMENT LAND OF Brazil From Inside Vinod Vinod Thomas CONTRASTS FROM INSIDE BRAZIL Development in a Land of Contrasts VINOD THOMAS A COPUBLICATION OF STANFORD ECONOMICS AND FINANCE, AN IMPRINT OF STANFORD UNIVERSITY PRESS, AND THE WORLD BANK © 2006 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 Telephone: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org E-mail: [email protected] All rights reserved. 123409080706 A copublication of Stanford Economics and Finance, an imprint of Stanford University Press, and the World Bank. Stanford University Press The World Bank 1450 Page Mill Road 1818 H Street, NW Palo Alto, CA 94304 Washington, DC 20433 The findings, interpretations, and conclusions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of the International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judg- ment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Rights and Permissions The material in this publication is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be a violation of applicable law. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank encourages dissemination of its work and will normally grant permis- sion to reproduce portions of the work promptly. -

Os Valores-Mesmos De Veja
DOI: http://dx.doi.org/10.22484/2177-5788.2017v43n1p71-97 Os valores-mesmos de veja Wagner Belmonte Resumo: Esta pesquisa investiga como o enunciador Veja apresenta a sociedade norte-americana como modelo a ser seguido e de que forma ela seleciona seus valores-mesmos. Os Mesmos são figuras enunciadas que reúnem as séries de paisagens socioculturais e políticas construídas pela mídia e homólogas à valorização média de seus públicos. Nos valores-mesmos estão as diretrizes do pensamento liberal norte-americano: capitalismo, liberalismo econômico e os pontos nodais liberdade e prosperidade. São afastadas do espaço dos valores-mesmos de Veja, por exemplo, as figuras do criminoso, sem-terra, árabe, do excluído e do miserável. O objetivo da pesquisa é compreender como a revista constrói, através dos pontos nodais, a ideia de que os EUA são um referencial para inspirar o Brasil como nação. Nossa tese é a de que o enunciador se apoia no espectro ideológico do liberalismo econômico para adotar posições conservadoras e tradicionais, sobretudo politicamente. Quanto à metodologia de pesquisa, ela se baseia na análise de discurso proposta por Laclau, Mouffe, Prado, e Charaudeau. A expectativa é que este trabalho contribua para aprofundar o debate sobre a forma como a relação Brasil- Estados Unidos é apresentada, às vésperas de o título completar 50 anos. Palavras-chave: Veja. Relação Brasil-Estados Unidos. Discurso. Veja’s same values Abstract: This paper investigates how the enunciator of Veja presents the American society as a model to be followed, and in what way it selects its self-values. The same values are enunciated figures that gather a series of sociocultural and political scenarios constructed by the media, according to their public's average valuation. -

A Autorreferencialidade No Discurso De Veja Sobre a Prisão De Lula
Interin ISSN: 1980-5276 [email protected] Universidade Tuiuti do Paraná Brasil Jornalismo de revista: a autorreferencialidade no discurso de Veja sobre a prisão de Lula de Oliveira Pozobon, Rejane; Siqueira de David, Carolina Jornalismo de revista: a autorreferencialidade no discurso de Veja sobre a prisão de Lula Interin, vol. 24, núm. 2, 2019 Universidade Tuiuti do Paraná, Brasil Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=504459802007 PDF gerado a partir de XML Redalyc JATS4R Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa acesso aberto Jornalismo de revista: a autorreferencialidade no discurso de Veja sobre a prisão de Lula Magazine journalism: the self-referentiality in Veja's speech about Lula's arrest Rejane de Oliveira Pozobon [email protected] Universidade Federal de Santa Maria, Brasil Carolina Siqueira de David [email protected] Universidade Federal de Santa Maria-RS, Brasil Resumo: Este artigo analisa a estratégia de autorreferencialidade no discurso da revista Veja sobre a prisão do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Visa-se entender os efeitos de sentido presentes nas frases em que a revista escreve sobre si mesma como alguém que “investigou” e “revelou” esquemas de corrupção envolvendo o político brasileiro. Para tanto, além da teorização sobre a autorreferencialidade, com base em Interin, vol. 24, núm. 2, 2019 Schwaab e Fausto Neto, outro conceito discutido é o de jornalismo de revista, em Universidade Tuiuti do Paraná, Brasil Benetti e Scalzo. Sendo assim, esse percurso possibilita entender o jornalismo como uma instituição que, entre outras funções, cumpre a de revelação pública dos fatos. -

A Trajetória Da Cultura Jovem Nas Páginas Da Revista Veja (1968/2006)
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL DA CONTESTAÇÃO AO CONSUMISMO: A TRAJETÓRIA DA CULTURA JOVEM NAS PÁGINAS DA REVISTA VEJA (1968/2006) PAULO CIRNE DE CALDAS Porto Alegre, março de 2007 Volume 1 de 2 1 DA CONTESTAÇÃO AO CONSUMISMO: A TRAJETÓRIA DA CULTURA JOVEM NAS PÁGINAS DA REVISTA VEJA (1968/2006) PAULO CIRNE DE CALDAS Professor Dr. Francisco Rüdiger Orientador 02/março/2007 Instituição depositária: Biblioteca Ir. José Otão Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 2 AGRADECIMENTOS Ao professor orientador Dr. Francisco Rüdiger, que me ajudou a concretizar esta dissertação; Também meus agradecimentos aos professores Dr. Juremir Machado da Silva e Drª Rosa Fischer pelas observações apontadas durante a banca de qualificação. À CAPES, pela ajuda financeira. 3 RESUMO Palavras-chave : juventude, consumismo, estilos de vida, mídia. Nesta tese, tencionamos pensar como a revista Veja trata a questão da juventude durante sua história. A partir de um registro historiográfico, nós queremos saber como os jovens são chamados nesta revista. Nós resgatamos a história da juventude em Veja . Com os textos selecionados para a análise, a tese toma a produção jornalística como uma referência para verificar como Veja se apropria da cultura jovem. O corpus da tese é formado por 99 textos, de outubro de 1968 a dezembro de 2006. Também analisamos as três edições especiais de Veja sobre a juventude brasileira. Este trabalho resulta de um estudo baseado em pesquisa histórica, que visa examinar e discutir criticamente como esta revista mediou a construção dos estilos de vida da juventude no Brasil. -

JORNALISMO E IMAGEM DE SI:1 O Discurso Institucional Das Revistas Semanais
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação JORNALISMO E IMAGEM DE SI:1 o discurso institucional das revistas semanais Marcia Benetti2 3 Sean Hagen Resumo: Este artigo aborda parte da condição de identidade – “quem diz” – do contrato de comunicação que define o jornalismo como um gênero discursivo. Bus- camos identificar o ethos jornalístico construído pelo discurso institucional de qua- tro revistas semanais de informação (Veja, Época, IstoÉ e Carta Capital). Tendo como objetivo compreender os sistemas de representação de si do jornalismo, iden- tificamos quatro núcleos de sentidos: a defesa da democracia; a independência; a competência; o compromisso com o leitor. Palavras-Chave: Jornalismo; Representação; Revistas; Contrato de Comunicação 1. Introdução O jornalismo, como campo complexo, estabelece uma agenda de questões teóricas. Uma dessas questões diz respeito aos sistemas de representação de si, que exibem, para o outro, os referenciais de uma poderosa voz institucional. Para tratar desses sistemas de repre- sentação, que contribuem para determinar o lugar do jornalismo junto aos demais campos sociais, partimos de alguns pressupostos teóricos. Primeiro, o jornalismo é um gênero discursivo (BENETTI, 2008). Isso significa que ele possui características singulares, que podem ser aprendidas e reconhecidas pelos diversos atores sociais. São estas características que permitem estabelecer a diferença do jornalismo em relação a outras práticas discursivas midiáticas. Segundo, o jornalismo, sendo um discur- so, só existe na relação entre sujeitos. Terceiro, as relações de poder entre os sujeitos envol- 1 Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho “Estudos de Jornalismo”, do XVIII Encontro da Compós, na PUC-MG, Belo Horizonte, MG, em junho de 2009. -

Annual Report 2006
ANNUAL REPORT 2006 EXCELLENCE IN TEACHING AND RESEARCH Rua Quatá, 300 - Vila Olímpia - 04546-042 - São Paulo - SP - Brazil Tel.: 55 11 4504-2400 - www.ibmecsp.edu.br E-mail: [email protected] Ibmec São Paulo in Numbers Financial Indicators (in thousand reais)* 2004 2005 2006 Gross Revenue 38,131 47,828 62,601 Direct Expenses 18,360 21,259 24,625 Operational Margin 16,163 21,945 31,988 Indirect Expenses 5,763 7,594 10,580 General and Institutional Expenses 6,834 9,669 13,698 Administrative Surplus 4,896 7,666 9,795 Cash Position 5,328 12,305 17,656 Scholarship Fund (3) 2,138 2,178 Annual Report 2006 Investments – Total 1,115 10,768 15,028 Donations – Scholarship Fund - 2,089 314 Donations – Other - 8,725 1,740 Donations – Total - 10,814 2,054 * Administrative View, not considering accounting adjustments New group of accounts, adopted in 2006 Revenues in 2006 Total Revenue per Business Unit, in R$ million 80,000 62,601 Undergraduate Graduate 60,000 48% 35% 47,828 40,000 38,131 Executive Education 1% 20,000 Distance Learning 2% Corporate Programs 14% 0 2004 2005 2006 Monitoring of Goals - 2006 Description Goal Accomplished % Variation Total Revenues (R$ 000) 62,100 62,601 1% Managerial Surplus (R$ 000) 8,200 8,120 -1% Managerial Surplus / Total Revenues (%) 15% 14.3% -4% New Students in Graduate Programs 1,080 1,168 8% Scholarship Fund 2004 2005 2006 Starting Balance (-) Scholarship Awarded (28) (1) 2,170 Scholarship Awarded (85) (217) (495) Refund 16 49 44 Investiments 95 2,307 502 Ending Balance (Remunerated) (1) 2,170 2,550 Scholarship -

“The Role of the Press in an Emerging Democracy”
“The Role of the Press in an Emerging Democracy” Address by Roberto Civita, W’57 Chairman & EditorinChief of the Abril Group Wharton Global Alumni Forum Hotel Copacabana Palace Rio de Janeiro, August 11 th , 2006. Dean Harker, Dean Sheehan, Chairman Mangels President Fonseca Distinguished Members of the Wharton Faculty Fellow Wharton Alumni Ladies and Gentlemen: It is a great pleasure for me to have been invited to speak to the participants of the Wharton Global Alumni Meeting in Rio for the second time in five years. As a “paulista”, I’m a trifle jealous. But as a Brazilian, I wholeheartedly agree with your choice of venue. Rio is indeed a splendid city and I am sure you will all enjoy being here. I was originally scheduled to talk about the role of the press regarding business, but I have taken the liberty of expanding this to include the role of the press in an emerging democracy. Brazil is not only one of the economic BRICs made famous by Goldman Sachs, but also – and fortunately – a great emerging democracy. Over the past four decades, two of which under military rule, the Brazilian press has played a key role in first clamoring for and then contributing enormously to the strengthening of our democratic institutions. 2 As soon as censorship was lifted in the mid seventies, Brazilian media – and especially the printed media – inspired, mirrored, echoed and amplified the popular movements which led to the election of our first civilian president in over twenty years in 1985, and to the direct election of a president by popular vote in 1990. -

MARANHÃO, Carlos. Roberto Civita. O Dono Da Banca. a Vida E As Ideias Do Editor Da Veja E Da Abril
MARANHÃO, Carlos. Roberto Civita. O dono da banca. A vida e as ideias do editor da Veja e da Abril. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Carla Luciana Silva1 Uma pessoa que escreve na sua agenda “coitus interruptus: FHC phone call” tem a certeza de que esse registro vai figurar em sua biografia. Tem também um ego inflado, e uma grande satisfação na vida, aquela de quem tem certeza de que é influente e que, portanto, seus objetivos de vida foram atingidos. Ajudou a eleger o presidente. Recebe suas ligações e atende em qualquer momento, mesmo que isso interrompa seu ato sexual, afinal, as ligações sempre vêm atrás de um conselho. É isso que se depreende no livro: “os políticos e o presidente da República vivem me chamando” (MARANHÃO, 2016, p. 406). À historiadora couberam páginas e páginas tentando mostrar essa simbiose entre o presidente e o editor, sempre com cuidados e senões (SILVA, 2009), para agora, em poucas linhas, aparecer essa síntese brilhante: Roberto Civita amava FHC e tudo que ele representava no Brasil. Mas dito por um historiador, pode ser acusado de teoria da conspiração. Contado como uma bela biografia, talvez seja levado mais a sério como indício das relações entre imprensa e poder no Brasil. A biografia de Roberto Civita nas suas primeiras dezenas de páginas parece que não vai passar de uma hagiografia. Elogios e admiração transparecem a todo momento. Mas o texto surpreende. Não que passe a ser crítico, mas por ser um trabalho bem feito, muito rico, de grande valor para qualquer pesquisador da história da imprensa brasileira recente. -

A Trajetória Da Abril Cultural (1968-1982)
A trajetória da Abril Cultural (1968-1982) Mateus H. F. Pereira RESUMO A Editora Abril, via Abril Cultural, de 1968 até 1982, lançou mais de 200 fascículos, livros e discos no mercado editorial brasileiro. Este texto pretende narrar a trajetória desta empresa, procurando apresentar alguns elementos para se pensar a produção cultural durante a Ditadura Militar. Neste sentido, analisa-se o contexto de desenvolvimento da referida empresa, a dinâmica editorial de uma coleção e alguns prefácios de fascículos e coleções. PALAVRAS-CHAVES: Mercado editorial. Abril Cultural. Fascículos. Ditadura Militar. 239-258, jul./dez. 2005. Em Questão, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. n. 2, 11, Alegre, v. Porto Questão, Em 239 1. Introdução A Abril Cultural, de 1968 até 1982 (data que esta empresa deixa de exis- tir), lançou mais de 200 fascículos, livros e discos no mercado editorial brasi- leiro.1 Foram vendidos mais de um bilhão de fascículos, 30 milhões de ro- mances e 11 milhões de enciclopédias (MARKUN, 1987). Este texto preten- de narrar a trajetória desta empresa, procurando apresentar alguns elementos para se pensar a produção cultural durante a Ditadura Militar (1964-1985). Boa parte do sucesso dos fascículos da Abril Cultural se deve à estrutura de distribuição da Editora Abril. Para Victor Civita, a criação da Distribuido- ra Abril, em 1961, era o grito de independência: “Eu queria ter a gráfica, a redação e a distribuição para conquistar independência” (Abril: os primeiros 50 anos, 2000, p. 22). A principal estratégia foi a utilização das bancas de jornal para a venda dos produtos, resolvendo o problema do baixo número de pontos de comercialização de livros e congêneres no Brasil. -

Vol. 6 Num. 3 SEPTIEMBRE0DICIEMBRE 2012 ISSN: 1988-7116
R!"#$%& '(&%)#*!$%)&+ F,()-*,-%.+/ J,()-&+ R!"#$%& C(&%)#*!$%)&+ Vol. 6 Num. 3 SEPTIEMBRE0DICIEMBRE 2012 ISSN: 1988-7116 http://gcg.universia.net Technological Innovation Strategy: A Case Is there scope for a new project bond market Study in Brazilian Subsidiaries of MNCs in Europe? A promising opportunity '4%($-#&>?&@A%B"1&'/./+$-&!?&C?&3*&>*(-&D/#"-01& for promoting transnational infrastructure E-F*0$-&2F0%."%&G&74/%04-&5?&H?&3*&I%+<-#<*((-+ E%R(&!?&E-+%(*+&G&D-+N&>?&I%++%((- Sustentabilidade organizacional e gestão Implantação do escritório de processos: por processos de negócios: uma integração um estudo de caso necessária !"#$"%&'()*+&,-./*"0%1&2"()"%&3%((%)%((*&4*&564/%1&7("+%& 3"*.-&E-40"./*+&J0"$%#"1&2"()"%&J#K+&3%((%)%((*&4*&564/%1& 80%#9%&:*;#<"-&'()*+&*&5%$0=<"%&8/0(%#&>-#$*"0- '(4-&E-F*0$-&@L*$$-&*&!M%0F*(&D-+N&!M"%OO*$$%&D%FF-/0 Limite do risco positivo ao crescimento das Is it possible to upgrade in global value atividades de crédito de cooperativas de chains? A comparison between industrial crédito policy in Mexico and the Asian experience P%0<=+"-&5*40-&4%&2"()%&*&,*(+-#&Q*"# E%R(&I6AS/*A&:TO*A Hortalizas en México: competitividad frente Determinantes y modelización de los tipos a EE.UU. y oportunidades de desarrollo de interés: Euribor '(L%&I*("%&'U%(%&H%0%U1&E"$%&2<MV*#$*+"/+&E"#4*0L%##& E-40".-&XF"*0#%&C*./"# U&C*#W%LT#&!%00*0%&!M6)*A SUMARIO SUMMARY SUMÁRIO Technological Innovation Strategy: A Case Study in Brazilian Subsidiaries of MNCs !&'## ! Estrategia de innovación tecnológica: un estudio de caso en filiales brasileñas de empresas multinacionales Estratégia de inovação tecnológica: um estudo de caso em subsidiárias brasileiras de companhias multinacionais Adalton M.