Texto Completo (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Officiai Journal of the International Society Revue Officielle De La Société International
Officiai journal of the International Society Revue officielle de la Société International June 2001 Officiai journal of the International Society for the History of Medicine Vesalius Revue officielle de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine Acta Internationalia Historiae Medicinae EDITORS - EDITEURS EDITORIAL BOARD Thierry Appelboom COMITE DE REDACTION Editorîal John Cule John Blair Athanasios Diamandopoulos ASSOCIATE EDITORS Gary Ferngren Older members of the profession are sometimes EDITEURS ASSOCIES John Ford puzzled by today's apparent changes in the traditio Samuel Kottek Chester Burns nal doctor patient relationship. Is it due to an overem Alfredo Musajo-Somma Alain Lellouch Jean-Pierre Tricot Regis Olry phasis on the scientific advances in treatment at the Ynez Viole O'Neill expense of personal patient care ? Does it result from John Pearn MANAGING EDITOR Robin Price a change in the balance between medical ethics and COORDINATION Hans Schadewaldt medical commerce ? The competition between the Diana Gasparon Alain Segal respect desired by the doctors and the publicly Michel Thiery perceived status of the profession has persisted for ADDRESS- ADRESSE Fernando Vescia Secrétariat "Vesalius" Sue Weir centuries. What have patients sought ? Joseph Médical Muséum David Wright Needham FRS, Master of Gonville and Caius Col 808 route de Lennik lege, an eminent scientist and historian of Chinese B - 1070 Brussels, Belgium JOURNAL SUBSCRIPTION Phone : 32 / 2 / 555.34.31 ABONNEMENT A LA REVUE medicine, had asked in the 1980's why do doctors Fax : 32 / 2 / 555.34.71 2 issues per year - 2 numeros par an when patients themselves always choose a kind doctor e-mail : dgasparo® ulb.ac.be Annual rate : 50 Eur rather than a clever one ? http//medicmuseum.org Each issue : 25 Eur Free to ISHM members Each historical epoch produces new problems. -

(Multilingual Tour) Itinerary
Palace Tours 12000 Biscayne Blvd. #107 Miami FL 33181 USA 800-724-5120 / 786-408-0610 Call Us 1-800-724-5120 Porto and Lisbon from Madrid (Multilingual Tour) Get a taste of Portugal on this enchanting 5 day journey. The tour starts in Madrid and brings you over the border, touring the historical city of Trujillo on the way. You will have free time to explore the fascinating birthplaces of the explorers of the New World. Continue to Lisbon, where you spend a day exploring this glorious city. You will see Belem Tower, Jeronimos Monastery, the Coach Museum, and many other sites. Afterward, you will have free time to enjoy yourself. Then, you visit small towns and cities like Nazere, Alcobaça, and Óbidos. You will then travel to Fatima, the site of the apparition of the Virgin Mary. Your last city tour will be Caceres, before returning to Madrid. Highlights: Plaza Mayor in Trujillo Jeronimos Monastery Coach Museum Monument to the Discoverers Pousada do Castelo in Óbidos Tombs of Pablo and Inês de Castro Basilica and Cova da Iria in Fatima Itinerary Day 1 - Tuesday: Cross the border into Portugal Departure from bus terminal, located in the underground parking of the Plaza de Oriente at 08:30 a.m. Drive to Avila. A city that preserves its medieval wall. Short stop to know its walled and old town. Then to Salamanca. Free time in this University City Heritage of Humanity of great architectural and artistic wealth. Departure to the Portuguese border until you reach Porto. Accommodation and overnight in Porto. -

Master Thesis La Face Giulia Final Version
UNIVERSITY OF NOVA GORICA GRADUATE SCHOOL UNIVERSITY IUAV OF VENICE MANAGEMENT PLAN OF HISTORIC CENTRE OF OPORTO - WORLD HERITAGE II. LEVEL MASTER'S THESIS Giulia La Face Architect Mentor/s: Professor Falini Paola Venice, 2009 TO MY FRIEND JESSICA 2 THANKS TO A SPECIAL THANKS TO PROFESSOR PAOLA FALINI , WHO TAUGHT ME A RIGOROUS WORK METHOD AND SUGGESTED VALUABLE REVISIONS TO MY TEXT TO PORTO VIVO SRU ENTERPRISE AND IN PARTICULAR TO THE PHILOSOPHER - ARCHITECT RUI RAMOS LOZA OF WHOM I ADMIRE THE DAILY WORK FOR THE RECOVERY OF THE HISTORICAL CENTER OF THE CITY OF PORTO TO MR. CARLOS MARTINS WHOSE PERSEVERANCE , STRENGTH AND RIGOR HAVE INSPIRED MY CREATIVITY TO MY FAMILY , FOR ALL 3 This experimental thesis is applied to a practical case study on the Management Plan of the Historic Centre of Porto World Heritage, which was sent to UNESCO on 5 th December 2008, and in which I actively participated in the analysis drafting and in the composition of texts. It was very useful for me to make a comparison with the Italian method learned during the master course. My supervisor, Professor Falini, during the year of study, showed us her excellent work. My contribution to the work done has helped me to decide which topic I would deal with and to find the enthusiasm to develop a possible model of management for the historic centre of Porto. Most of the supporting materials for the analysis is part of a bibliographic research; although my personal preparation leads me naturally to focus on architecture component of the city system, I will shortly comment some/many of the studies developed by citizens of Porto that I have analyzed about other areas of influence such as engineering, economic, socio- anthropological, environmental, infrastructure. -

Impressions of the Art at the Panama-Pacific Exposition
W m it-: l^t:'^,l:^l "vP^' "^/^m^ c.y ^^ J ••>' /'..^./'*. '^^j.^ '^o.^-?•^-o^ oV'^^ia*- ^^&^ ^^m^^^ 4 o »\y X'-^-^v V'^-'.*^ ;* . V 'o. *.t:t'' a 1-^ y^j,^^- "t. -n^^o^ », < O •' T' o-) .^^ <S^. '..o' * ^^ ^L'A y ... -. v.^ .S^-^. '^.^W/ ^-'^ " 4 ir^ -fL 'bV •a.^ O -'^Wi'^^s* ^0 ,0' ^5, A." -^ ^/v'^v %5<^"/ V^v' %/-^£^^'>^^ V^^.^' .* «0 < o -^v^O^ »- '^l*!^' •^i'^'^ v^ '^Sfe' '^^^° .. M 'bv .„c^^ ^*>#" J>^^ .^''^^ ^'•"^'^- '-^^^° ^'" ,,.^^ "\ ''^: ^^'\ S . 'WWS .J' . .-v'.v . X'2 *'t:t' .'v <^> .^ ^ ^.>.^ o 4> 5°. 4^°^ V 1. O 5 " • A v^^ <. /.. :. '-^0^ 1^ * O B O ° ^.^ o^.i^';%'°""V\...^"--:o^;s..,'v^-\/lO* ,= v^^ .*'% 0^ v;^ •^ ^'T.s* A <^ .^" A^ 'is •' .^^ % -J." . <>^ ^' "^"^ *- <fi '' i\^^ A"' ' . • s 4 > Cj. o • » «U O C 4- <K ,0 ^ '^. A** v^- '•''" *' = ^^ . • ** .-. '»- ^^ A" * ^°-^^. ^-1°^ .-iq* * "q,*^^'\o^ <^. o.^' Oj," <?>„ c'* V- 0^ Off '^o^ ^bV-" •^o^ ^^-^^^^ r^0 ^V^ v-^ 0° t ^ .4,^^ .-s.'^ ^ta V,. ".. IMPRESSIONS OF THE ART AT THE PANAMA-PACIFIC EXPOSITION OTHER WORKS BY CHRISTIAN BRIXTON, M.A.. Litt. D. Modern Artists. The Baker ami Taylor Coinpanv. New York, 1!I(IS Catalogue of Paintings by Ignacio Zi'loaga. The Hispanic Society of Amerifa, New ^'ork, 190!l AuSSTELLUNG AmERIKANISCHER KuNST. Konigliche Akademie tier Kiinste zu Berlin, IIUO Die Entwicklung der Amerikanischen Malerei. F. Bruekmann. Miinehen-Berlin. litlc Masterpieces of American Painting. The Berlin Photographic Company, New York ami Berlin, I'JIO Catalogue of Sculpture by Prince Paul Troubetzkoy. The American Numismatic Society, New York, 1911 Walter Greaves, Pupil of Whistler. Cottier and Company, New York, 191i The Scandinavian Exhibition. -
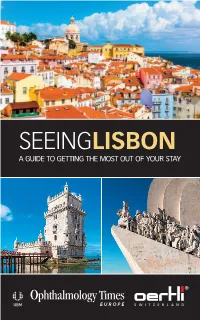
Seeinglisbon a Guide to Getting the Most out of Your Stay
SEEINGLISBON A GUIDE TO GETTING THE MOST OUT OF YOUR STAY magentablackcyanyellow ES959734_OTECG0817_cv1.pgs 08.22.2017 19:44 ADV It‘s Better, It‘s Different – Welcome to the city of discoverers Vasco da Gama began his ingenious discovery tours in the city on the western edge of Europe and greatly enhanced people’s conception of the world. He strongly questioned some approaches to knowledge and paved the way for trade with India. Following his achievements, Lisbon enjoyed a time of great prosperity that came to a sudden end following the disastrous earthquake in 1755. What we experience as an impressive city image today, especially the Baixa, was created in the 18th century. Only the Torre de Belém still reminds us of the time of great sailors and their untiring spirit of discovery. Of course, the time of individual explorations is long past, but the urge for new knowledge has remained unchanged. Today, it is a great number of people who work on the front lines with curiosity, diligence and persistence to bring about progress. They have come to Lisbon as well, to make new discoveries by sharing scientific and practical approaches. Not only in lectures, workshops and discussions but also in dialogues with industry, at the Oertli booth for example. Discover the total range of cataract and posterior segment surgical platforms, the latest functions of the OS4 device, an amazingly simple MIGS method and the new FEELceps line, or simply discover the friendliness and competence of our employees at booth no P263. We warmly welcome you! magentablackcyanyellow -

Miguel Nuno Santos Montez Leal Tese De
O Ressurgimento da Pintura Decorativa nos Interiores Palacianos Lisboetas: da Regeneração às Vésperas da República (1851-1910) Miguel Nuno Santos Montez Leal Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea Orientação científica: Professora Doutora Joana Esteves da Cunha Leal Co-orientação científica: Professora Doutora Ana Margarida Duarte Brito Alves Com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia Agosto de 2014 Dedicatória À minha querida Mãe, Maria Teresa de Victoria Pereira Ribeiro Santos Leal, pelo amor, pela amizade, cumplicidade, admiração, respeito e carinho. “Querer é Poder!”, foi sempre o que me ensinou e o que me tem ensinado E também ao meu trisavô José Maria Pereira Cão, pintor-decorador e pintor ceramista, ao meu querido bisavô, que tanto gostaria de ter conhecido, o Coronel José Estevão Cacella de Victoria Pereira, cartógrafo e pintor ceramista, e à minha querida avó, Maria Adelaide de Victoria Pereira, Directora fundadora da Biblioteca Municipal de Marcelino Mesquita, no Cartaxo, e pintora. Agradecimentos À minha orientadora Professora Doutora Joana Esteves da Cunha Leal, por todo o seu acompanhamento, apoio, rigor, e exigência; à minha co-orientadora Professora Doutora Ana Margarida Duarte Brito Alves, por todo o seu apoio, rigor, exigência, e pelas sugestões. À Fundação para a Ciência e a Tecnologia pelo apoio e pela bolsa de doutoramento de que usufrui entre 2007 e 2010 - e sem a qual poder fazer e terminar este trabalho teria sido muito mais difícil – e à Universidade Nova de Lisboa, casa que comecei a -

The Jewel City
The Jewel City Ben Macomber The Project Gutenberg EBook of The Jewel City, by Ben Macomber Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws for your country before downloading or redistributing this or any other Project Gutenberg eBook. This header should be the first thing seen when viewing this Project Gutenberg file. Please do not remove it. Do not change or edit the header without written permission. Please read the "legal small print," and other information about the eBook and Project Gutenberg at the bottom of this file. Included is important information about your specific rights and restrictions in how the file may be used. You can also find out about how to make a donation to Project Gutenberg, and how to get involved. **Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts** **eBooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971** *****These eBooks Were Prepared By Thousands of Volunteers!***** Title: The Jewel City Author: Ben Macomber Release Date: January, 2005 [EBook #7348] [Yes, we are more than one year ahead of schedule] [This file was first posted on April 18, 2003] Edition: 10 Language: English Character set encoding: ASCII *** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK THE JEWEL CITY *** Produced by David Schwan Panama-Pacific International Exposition Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. The Jewel City: Its Planning and Achievement; Its Architecture, Sculpture, Symbolism, and Music; Its Gardens, Palaces, and Exhibits By Ben Macomber With Colored Frontispiece and more than Seventy-Five Other Illustrations Introduction No more accurate account of the Panama-Pacific International Exposition has been given than one that was forced from the lips of a charming Eastern woman of culture. -

Otiumleilões
otiumleilões LEILÃO arte | livros | fotograa | manuscritos Textos e organização do Catálogo Nuno Gonçalves Capa, Grafismo & Fotografias Nuno Gonçalves © Todos os direitos reservados ISBN - 978-989-96670-0-6 Depósito Legal - 307466/10 Tiragem - 1 000 exemplares Lisboa, Março de 2010 ® Nuno Gonçalves, Leiloeiro, Livreiro, Unip., Lda Rua de O Século, 7 3 1200-433 Lisboa (Portugal) tel 3 fax. + (351) 21 346 31 11 [email protected] 3 [email protected] www.otiumcumdignitate.pt Durante os dias de exposição e leilão contactar Hotel Fénix - tel. + (351) 21 386 21 21 3 fax. + (351) 21 386 01 31 Nuno Gonçalves + (351) 96 21 29 995 Exposição: 23, 24 e 25 de Março, das 15h às 19h | Leilão, 23, 24 e 25 de Março, 21h 30m Hotel Fénix | Praça Marquês de Pombal, 8 | Lisboa & 1.ª SESSÃO | 23 DE MARÇO | LOTES 1 A 355 & 1 A. (RUBEN). - O Outro que era Eu: Novela. - Lisboa: Livraria Portugal, 1966. - 136 pp.; 220 mm. 15,00€ Brochado. Primeira edição. Raro. 2 ADOLFO Casais Monteiro / selecção de poemas por João Rui de Sousa. - Lisboa: Assírio e Alvim, 1973. - 176 pp.; 190 mm. - (Documenta Poética, 1) 15,00€ Brochado. Primeira edição desta antologia poética de Adolfo Casais Monteiro com textos introdutórios de António Ramos Rosa, João Rui de Sousa e E.M. de Melo e Castro. Raro. 3 AFONSO (NADIR). - O Sentido da Arte. - Lisboa: Livros Horizonte, 1999. - 120 pp.: il.; 240 mm. 10,00€ Brochado; dedicatória da autora no frontispício. Interessante obra de reflexão estética, profusamente ilustrado nas abordagens à percepção Pré-consciente e Objecto Geométrico. -

Antonio Ribeiro Sanches a Portuguese Doctor in 18Th Century Europe
Antonio Ribeiro Sanches, Vesalius, VII, 1, 27 - 35, 2001 Antonio Ribeiro Sanches A Portuguese doctor in 18th century Europe José Luis Doria Summary Antonio Ribeiro Sanches was born in Portugal in 1699 and died in Paris in 1783. After his medical studies in Salamanca, he practised for a short while in Portugal. From there, he fled from the Inquisition, never to return. He passed through Italy, England, and France, enrolling afterwards in the University of Ley den to study with Boerhaave. Through this master he was referred to the Russian tsarina to handle important medical functions. He stayed in Russia for more than 16 years, exiled afterwards to Paris, where he lived the last 36 years of his life. He wrote intensely and actively; he kept in contact with the European masters and influenced the cultural environment of his time. In medicine, he is remembered primarily by the studies he developed on venereal diseases (syphilis), and the exchange he established with Chinese medicine; by the reorganization of medical studies in Russia (Moscow and St Petersburg) and at the University of Strasburg. However his main contribution was his role in the reformation of the Portuguese University. In addition, his interests extended into cultural aspects such as the arts, social and commercial issues, politics and religion. Some of his works were included in The Methodical Encyclopaedia by Diderot and in Natural History by Buffon. Résumé Antonio Ribeiro Sanches est né en 1699 au Portugal et est mort à Paris en 1783. Après des études médicales à Salamanque, il exerça pendant une courte période dans son pays natal d'où il s'enfuit poursuivi par l'Inquisition et ne revint jamais. -

History in Times of Fascism
History in Times of Fascism Discipline and Practices of History during the Beginning of the Portuguese New State. Masters Thesis Research Masters in History: Political Culture and National Identities Supervised by: Prof. dr. H.J. Paul António Renato Castelo Branco da Silva Rêgo – s1102990 [email protected] Leiden, July the 12 th , 2015 1 Table of Contents Introduction 3 Conceptual Framework 6 Literature Review 11 Source Material 17 An Overview 19 Chapter I: Performance and the ideal of the Historian 23 A Commitment to Knowledge 25 Science 25 Documents and Documentalism 30 Objectivity 39 A Commitment to the Nation 45 A Commitment to Unity 55 Chapter II: the Final Product 68 Realism 71 Metonymy and Synecdoche 83 Irony 96 A conservative realism 105 Anti-Realism 113 Metaphor 116 Romance 121 Conclusion 133 Annexes 140 List of Images 146 Bibliography 150 2 Introduction "In the pages that follow shall be written the history of a great People, of a great Nation: candidly — the History of Portugal!" 1 So ends the preface of the History of Portugal, Monumental Edition, commemorative of the 8th centennial of the foundation of the nationality , commonly called the Portuguese History of Barcelos. This was, perhaps, the most emblematic work of historical scholarship of the early New State. Without a shadow of a doubt, if ever there was a piece of writing that represents historical scholarship at the highest level produced in the context of a fascist dictatorship, this was it. And that is precisely what this thesis will focus on: how scholars conducted their academic activities and production within and throughout fascism. -

2011-2017 UCL Report
2011-2017 Urbanization and Cultural Landscape 2011 . 2017 UrbaNization and Cultural- Landscape II.TED School of Heritage Management "1 2011-2017 Urbanization and Cultural Landscape II.TED School of Heritage Management "2 2011-2017 Urbanization and Cultural Landscape International Institute on Territorial and Environmental Dynamics School of Heritage Management II.TED School of Heritage Management "3 2011-2017 Urbanization and Cultural Landscape DISCLAIMER Published in 2018 by II.TED International Institute on Territorial and Environmental Dynamics. Via Napoleone Bonaparte, 52 Florence (50135) ITALY [email protected] © II.TED 2018 ISBN: 978-88-945025-0-3 (PDF) Lead author and coordination: Siavash Laghai Copyediting and proofreading: Marianna Bacci Tamburlini Reviewers and other contributors: Alessio Re, Angioletta Voghera, Gabriele Corsani, Jukka Jokilehto and Frédéric Vidal. Cover photo: Stairs reaching the surface, Portimão, Portugal Design and photo credits: Siavash Laghai Acknowledgment We gratefully acknowledge the partnership and support of the Italian Consulate in Tehran, in particular Mr. MASSIMO PALOZZI and Mr. ROBERTO TARADDEI, the UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe, in particular Mr. PHILIPPE PYPAERT and Mr. LUDOVICO F. CALABI and Mr. MATTEO ROSATI. Ms. ATTILIA PEANO†, Mr. WALTER SANTAGATA†, Ms. MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA Universidade Nova de Lisboa, Mr. GIANLUCA SIMONETTA Center for Generative Communication, Mr. Francesco Bastagli. DIST-Interuniversity Department of Regional and Urban Studies and Planning, -

JUDAÍSMO E JUDEUS NA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA Da Medievalidade À Contemporaneidade
UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA JUDAÍSMO E JUDEUS NA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA Da Medievalidade à Contemporaneidade Emílio Manuel da Silva Corrêa MESTRADO EM HISTÓRIA E CULTURA DAS RELIGIÕES 2012 UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA JUDAÍSMO E JUDEUS NA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA Da Medievalidade à Contemporaneidade Emílio Manuel da Silva Corrêa MESTRADO EM HISTÓRIA E CULTURA DAS RELIGIÕES Dissertação orientada pelo Prof. Doutor Paulo Fernando de Oliveira Fontes 2012 JUDAÍSMO E JUDEUS NA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA Da Medievalidade à Contemporaneidade RESUMO Tem este trabalho como objectivo a análise das repercussões ocorridas no seio das comunidades judaicas e no do judaísmo, com a entrada em vigor da legislação portuguesa de carácter religioso que, em nosso entender, maior influência exerceu. Dividimos as matérias abordadas em cinco capítulos: “Os judeus na cristandade portuguesa”, “A construção do estado confessional”, “A revolução liberal de 1820, a liberdade religiosa e a confessionalidade do Estado”, “A separação do Estado das Igrejas” e “As sinagogas”. Começamos por uma introdução e pelos antecedentes históricos desde a chegada dos judeus à Península Ibérica até à publicação das Ordenações Afonsinas. A abordagem, de forma cronológica, aos diversos diplomas legislativos, é iniciada com aquelas Ordenações; seguem-se-lhes o Édito de expulsão de D. Manuel I e a Inquisição, as leis do Marquês de Pombal, as três constituições da monarquia liberal e os códigos penais que lhes estiveram subjacentes, uma síntese do constitucionalismo moderno, a Lei da Separação do Estado das Igrejas de 11 de Abril de 1911, as Constituições de 1911 e 1933, a Concordata com a Santa Sé de 1940, a Constituição de 1976, o Código Penal de 1982, a Lei da Liberdade Religiosa e três convenções internacionais ratificadas por Portugal.