Daniel Barile Da Silveira Terrie Ralph Groth
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Curriculum Vitae Enrique Ricardo Lewandowski Julho
CURRICULUM VITAE ENRIQUE RICARDO LEWANDOWSKI JULHO DE 2021 1. Qualificação - ENRIQUE RICARDO LEWANDOWSKI, brasileiro, magistrado, nascido em 11.05.1948, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, casado com Yara de Abreu Lewandowski, com a qual tem os filhos Ricardo, Livia e Enrique. O casal tem três netos e uma neta, Philip, Mark, Martin e Betina. 2. Formação Militar - Segundo-tenente da Reserva do Exército, da Arma de Cavalaria, formado no Curso Preparatório de Oficiais da Reserva de São Paulo - CPOR/SP, em 1967, com estágio no 17º Regimento de Cavalaria de Pirassununga, São Paulo, em 1968. 3. Títulos Universitários - Bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1971). - Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, autarquia municipal (1973). - Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a dissertação Crise Institucional e Salvaguardas do Estado (1980). - Master of Arts em Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy, da Tufts University, administrada em cooperação com a Harvard University, mediante a dissertação International Protection of Human Rights: A study of the brazilian situation and the policy of the Carter Administration (1981). - Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a tese Origem, estrutura e eficácia das normas de proteção dos Direitos Humanos na ordem interna e internacional (1982). - Livre-docente em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a tese Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil (1994). -

The Social Function of Property in Brazilian Law
Fordham Law Review Volume 80 Issue 3 Article 7 December 2011 The Social Function of Property in Brazilian Law Alexandre dos Santos Cunha Follow this and additional works at: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr Part of the Law Commons Recommended Citation Alexandre dos Santos Cunha, The Social Function of Property in Brazilian Law, 80 Fordham L. Rev. 1171 (2011). Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol80/iss3/7 This Symposium is brought to you for free and open access by FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History. It has been accepted for inclusion in Fordham Law Review by an authorized editor of FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History. For more information, please contact [email protected]. THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY IN BRAZILIAN LAW Alexandre dos Santos Cunha* INTRODUCTION The idea that rights serve a social function was first introduced into Brazilian legal culture about a century ago. Although the concept is historically linked to the French scholar Léon Duguit, the Brazilian version is distinct and does not share these French origins. Twentieth-century Italian jurists Pietro Cogliolo and Enrico Cimbali, who both exerted overwhelming influence over the so-called “Renovators” of Brazilian Private Law, are primarily responsible for Brazil’s version.1 Unlike Duguit, Cogliolo and Cimbali construed the concept of a social function as a justification for imposing only external limits on the exercise of rights.2 Consequently, Brazilian courts have never considered Duguit’s understanding of the social function of property as a source of internal limitations. The concept of the social function of rights first appeared in the Brazilian Constitution in 1934, and has become considerably stronger since the country adopted a new Civil Code in 2002. -

Diálogo Institucional Nas Sabatinas Para O Stf, Poder E Profissionalismo
Heloisa Bianquini Araujo QUAL O GÊNERO DO SUPREMO? DIÁLOGO INSTITUCIONAL NAS SABATINAS PARA O STF, PODER E PROFISSIONALISMO Monografia apresentada à Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público –SBDP, sob a orientação da Profa Luciana de Oliveira Ramos. SÃO PAULO 2015 Agradecimentos Uma das maiores dificuldades que tive ao decorrer desta pesquisa foi aprender a me expressar de forma mais organizada e concisa. Já coloco o aprendizado em prática logo nessa seção, pois os agradecimentos são inúmeros e variados. Agradeço primeiramente à minha orientadora, Luciana Ramos, que me acompanhou muito, ajudou-me com dicas, revisões e conselhos que pretendo levar para sempre na minha vida acadêmica. Agradeço também pela compreensão, pela amizade e pela disponibilidade. Agradeço à toda equipe da Escola de Formação da SBDP pelo auxílio valioso durante a elaboração desta monografia, pelas críticas que certamente acrescentaram muito a este trabalho, pela convivência neste ano de EF e pelo estímulo ao debate franco e honesto durante todos nossos encontros. Agradeço às minhas colegas e aos meus colegas – na verdade, amigas e amigos – de Escola de Formação, que, além de terem também contribuído muito com críticas e sugestões, contribuiram com um companheirismo muito bem-vindo nesta aventura que é escrever uma monografia. Agradeço aos amigos e amigas do CAPEJur (Centro de Análise e Pesquisa em Educação Jurídica). O CAPEJur foi meu primeiro contato com pesquisa empírica em direito, e foi uma surpresa muito grata encontrar pessoas que compartilhem as mesmas afinidades, interesses e esperanças que sempre tive em relação ao direito e ao ensino jurídico. Agradeço aos meus amigos e amigas que me aguentaram durante todo esse tempo, com todos os altos e baixos de humor que tive (e não foram poucos!). -

Formalismo Inconsistente E Textualismo Oscilante No Direito Constitucional Brasileiro1
“A CONSTITUIÇÃO DIZ O QUE EU DIGO QUE ELA DIZ”: FORMALISMO INCONSISTENTE E TEXTUALISMO OSCILANTE NO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO1 Fernando Leal Doutor em Direito pela Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Alemanha) com apoio do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). Doutor e Mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ - Rio de Janeiro/RJ). Professor pesquisador da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio - Rio de Janeiro/RJ). E-mail: <[email protected]>. Resumo: Este artigo identifica e examina alguns problemas de uma aplicação inconsistente (talvez estratégica) do texto constitucional como mecanismo de justificação de decisões entre constituciona- listas brasileiros e na prática decisória do Supremo Tribunal Federal. Após diferenciar versões caricatas de formalismo de versões efetivamente defendidas por autores que se declaram formalistas, este trabalho explora uma possível defesa estratégica do textualismo por autores do constitucionalismo brasileiro da efetividade e apresenta exemplos de aplicação oscilante do texto constitucional em casos envolvendo a delimitação de poderes do Supremo e a concretização de direitos fundamentais por seus ministros. Palavras-chave: Formalismo jurídico. Textualismo. Supremo Tribunal Federal. Constitucionalismo brasileiro da efetividade. Regras. Sumário: 1 Introdução – 2 Duas defesas do formalismo – 2.1 Formalismo sem caricaturas – 2.2 Formalismo e efetividade – 3 O textualismo oscilante do Supremo Tribunal Federal – 3.1 Limites textuais, poderes da corte e desenho institucional – 3.2 Limites textuais e concretização de direitos – 3.2.1 Por que interpretar o texto se é possível passar direto para a ponderação de princípios? – 3.2.2 Prisão em segunda instância e formalismo ideológico – 3.2.3 Mesmo o texto claro não é um limite definitivo – 4 Conclusão – Referências “É preciso dizer isso de forma muito clara, sob pena de cairmos num voluntarismo e numa interpretação ablativa; quando nós quisermos, nós interpretamos o texto cons- titucional de outra maneira. -

Nº 221 Brasília | Janeiro – Março/2019 Ano 56 Revista De Informação Legislativa
nº 221 Brasília | janeiro – março/2019 Ano 56 Revista de Informação Legislativa Brasília | ano 56 | no 221 janeiro/março – 2019 SENADO FEDERAL Mesa Biênio 2019 – 2020 Senador Davi Alcolumbre PRESIDENTE Senador Antonio Anastasia PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE Senador Lasier Martins SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE Senador Sérgio Petecão PRIMEIRO-SECRETÁRIO Senador Eduardo Gomes SEGUNDO-SECRETÁRIO Senador Flávio Bolsonaro TERCEIRO-SECRETÁRIO Senador Luis Carlos Heinze QUARTO-SECRETÁRIO SUPLENTES DE SECRETÁRIO Senador Marcos do Val Senador Weverton Senador Jaques Wagner Senadora Leila Barros Revista de Informação Legislativa MISSÃO A Revista de Informação Legislativa (RIL) é uma publicação trimestral, produzida pela Coordenação de Edições Técnicas do Senado Federal. Publicada desde 1964, a Revista tem divulgado artigos inéditos, predominantemente nas áreas de Direito, Ciência Política e Relações Internacionais. Sua missão é contribuir para a análise dos grandes temas em discussão na sociedade brasileira e, consequentemente, em debate no Congresso Nacional. FUNDADORES Senador Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal – 1961-1967 Isaac Brown, Secretário-Geral da Presidência – 1946-1967 Leyla Castello Branco Rangel, Diretora – 1964-1988 DIRETORA-GERAL: Ilana Trombka SECRETÁRIO-GERAL DA MESA: Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho IMPRESSA NA SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES DIRETOR: Fabrício Ferrão Araújo PRODUZIDA NA COORDENAÇÃO DE EDIÇÕES TÉCNICAS COORDENADOR: Aloysio de Brito Vieira EDITOR RESPONSÁVEL: Aloysio de Brito Vieira. CHEFIA DE PRODUÇÃO EDITORIAL: Raphael Melleiro. GESTÃO DE ARTIGOS: Glaucia Cruz. REVISÃO DE ORIGINAIS: Vilma de Sousa e Walfrido Vianna. EDITORAÇÃO ELETRÔNICA: Glaucia Cruz, Marcus Aurélio Oliveira e Rejane Campos. CAPA: Angelina Almeida. Não são objeto de revisão artigos ou segmentos de texto redigidos em língua estrangeira. Revista de Informação Legislativa / Senado Federal. -
![Nelson Jobim Fernando De Castro Fontainha Christiane Jalles De Paula Leonardo Seiichi Sasada Sato Fabrícia Corrêa Guimarães [Orgs.] 9 EDIÇÃO FGV DIREITO RIO](https://docslib.b-cdn.net/cover/2501/nelson-jobim-fernando-de-castro-fontainha-christiane-jalles-de-paula-leonardo-seiichi-sasada-sato-fabr%C3%ADcia-corr%C3%AAa-guimar%C3%A3es-orgs-9-edi%C3%A7%C3%A3o-fgv-direito-rio-1332501.webp)
Nelson Jobim Fernando De Castro Fontainha Christiane Jalles De Paula Leonardo Seiichi Sasada Sato Fabrícia Corrêa Guimarães [Orgs.] 9 EDIÇÃO FGV DIREITO RIO
9 História Oral do Supremo [1988-2013] Nelson Jobim Fernando de Castro Fontainha Christiane Jalles de Paula Leonardo Seiichi Sasada Sato Fabrícia Corrêa Guimarães [orgs.] 9 EDIÇÃO FGV DIREITO RIO Obra Licenciada em Creative Commons Atribuição – Uso Não Comercial – Não a Obras Derivadas Impresso no Brasil / Printed in Brazil Fechamento da 1ª edição em novembro de 2015 Este livro consta na Divisão de Depósito Legal da Biblioteca Nacional. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Coordenação Sacha Mofreita Leite, Thaís Teixeira Mesquita e Rodrigo Vianna Projeto gráfico e capa eg.design Evelyn Grumach Diagramação Antonio Valério Revisão Marcia Glenadel Gnanni Ernesto História oral do Supremo (1988-2013), v.9: Nelson Jobim / Fernando de Castro Fontainha, Christiane Jalles de Paula, Leonardo Seiichi Sasada Sato, Fabrícia Corrêa Guimarães (orgs.). – Rio de Janeiro : Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2015. 346 p. Em colaboração com a Direito GV e o CPDOC. Inclui bibliografia. ISBN: 978-85-63265-55-5 1. Brasil. Supremo Tribunal Federal. 2. Jobim, Nelson, 1946- . I. Fontainha, Fernando de Castro. II. Paula, Christiane Jalles de. III. Sato, Leonardo Seiichi Sasada. IV. Guimarães, Fabrícia. V. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. VI. Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. VII. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. CDD – 341.4191 Todos os direitos desta edição reservados à FGV DIREITO RIO Praia de Botafogo, -

15 Tribunal Superior Do Trabalho
Nº 85, terça-feira, 6 de maio de 2008 ISSN 1677-7018 15 <!ID1076761-0> 1. Não houve omissão desta c. Corte quanto à interposição de recurso PUBLICAÇÃO DE DECISÕES No- 140/2008 1. Incabível a realização de revisão de eleitorado em ano eleitoral, extraordinário contra o v. acórdão exarado no Agravo de Instrumento quando não comprovada a situação excepcional, prevista no § 2º do RESOLUÇÕES nº 4.579/CE. Com efeito, o decisum embargado consignou que "(...) art. 58 da Resolução-TSE nº 21.538/2003. em 29.10.2007, ocorreu o trânsito em julgado do Agravo de Ins- 22.760 - CONSULTA Nº 1.567 - CLASSE 5ª - BRASÍLIA 2. Pedido de revisão indeferido. trumento nº 4.579/CE, após o exaurimento do prazo recursal da de- - DISTRITO FEDERAL. cisão do Presidente desta Corte, que negou seguimento ao recurso Relator Ministro Felix Fischer. Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por extraordinário, que fora interposto pelo ora recorrente. Este não ob- Consulente José Sarney Filho, deputado federal. unanimidade, indeferir o pedido de revisão, nos termos do voto do teve êxito na tentativa de reverter a condenação a ele imposta, que Ementa: r e l a t o r. prevalece, a toda evidência, nos exatos termos fixados pela Corte CONSULTA. REELEIÇÃO. CHEFE DO PODER EXECUTIVO Presidência do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio. Presentes Regional" (fl. 873). MUNICIPAL. FORMULAÇÃO AMPLA. FALTA DE ESPECIFICI- 2. Embargos de declaração rejeitados. DADE. NÃO-CONHECIMENTO. os Srs. Ministros Carlos Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Ari Par- Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 1. É assente no e. -

Freedom House
COUNTRIES AT THE CROSSROADS 2012: BRAZIL DAVID FLEISCHER INTRODUCTION Brazil has been an independent nation since 1822, and a republic governed by a federalist constitution since 1889. Starting in 1930, Getúlio Vargas led a period of considerable autocratic modernization and incipient industrialization. Vargas was toppled by the military in December 1945, and the 1946 Constitution installed a democratic regime. Vargas returned by direct election as president in 1950, but his populist regime ended in August 1954, when he committed suicide rather than again be removed by the military. In 1955, Juscelino Kubitschek was elected president, promising “50 years of progress in 5” with a new intense phase of import-substitution-industrialization and the construction of the new inland capital Brasilia. The 1960s and 1970s were characterized by intense rural-urban migration. In March 1964 the military removed President João Goulart and proceeded to rule Brazil until March 1985. Unlike other military regimes in South America, Brazil held congressional elections every four years and political parties were allowed to operate, though with severe restrictions. After a prolonged 10-year “political transition,” democracy finally returned when, in January 1985, the Electoral College chose Brazilian Democratic Movement Party (PMDB) member Tancredo Neves as president. Neves died before taking office and Vice- President José Sarney completed the five-year mandate. During this period, a new constitution was approved in 1988, but rampant inflation inhibited development. On November 15, 1989, the first direct elections for president since 1960 were held and Fernando Collor de Mello of the Party of National Reconstruction (PRN) narrowly defeated the Workers’ Party (PT) candidate. -
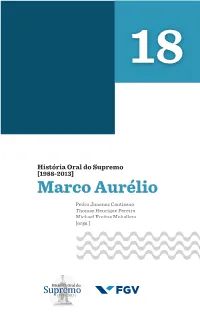
Marco Aurélio.Pdf
18 18 História Oral do Supremo [1988-2013] Marco Aurélio Pedro Jimenez Cantisano Thomaz Henrique Pereira Michael Freitas Mohallem [orgs.] 18 EDIÇÃO FGV DIREITO RIO Obra Licenciada em Creative Commons Atribuição – Uso Não Comercial – Não a Obras Derivadas Impresso no Brasil / Printed in Brazil Fechamento da 1ª edição em novembro de 2017 Este livro consta na Divisão de Depósito Legal da Biblioteca Nacional. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Coordenação Rodrigo Vianna, Sérgio França e Thaís Mesquita Projeto gráfico e capa eg.design Evelyn Grumach Diagramação Agência Tipping. Shirley Dal Ponte e Priscilla Tipping 1ª Revisão Marcia Glenadel Gnanni 2ª Revisão Antônio dos Prazeres Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV História oral do Supremo (1988-2013), v.18: Marco Aurélio Mello / Pedro Cantisano / Thomaz Pereira / Michael Mohallem (orgs.). - Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2017. 117p. Em colaboração com a Direito GV e o CPDOC. Inclui bibliografia. ISBN: 978-85- 9597-006-9 1. Brasil. Supremo Tribunal Federal. 2. Mello, Marco Aurélio Mendes de Faria, 1946-. I. Cantisano, Pedro. II. Pereira, Thomaz. III. Mohallem, Michael Freitas. IV. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. V. Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. VI. Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas. CDD – 341.4191 Todos os direitos desta edição reservados à FGV Direito Rio Praia de Botafogo, 190 | 13º -

Federal Supreme Court Full Text of the Decision - ADI 4306 / DF
Unofficial Translation Federal Supreme Court Full Text of the Decision - ADI 4306 / DF 12/20/2019 PLENARY SESSION DIRECT ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY 4306 FEDERAL DISTRICT REPORTER : JUSTICE EDSON FACHIN PLAINTIFF(S) : NATIONAL CONFEDERATION OF COMMERCE OF GOODS, SERVICES AND TOURISM (CNC) ATTORNEY(S) : NEUILLEY ORLANDO SPINETTI DE SANTA RITA MATTA AND OTHERS DEFENDANT(S) : GOVERNOR OF THE STATE OF RIO DE JANEIRO DEFENDANT(S) : LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE STATE OF RIO DE JANEIRO AMICUS CURIAE : ACT - TOBACCO CONTROL, HEALTH PROMOTION AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION (ACT - PROMOÇÃO DA SAÚDE) ATTORNEY(S) : CLARISSA MENEZES HOMSI AND OTHERS AMICUS CURIAE : ARY FRAUZINO FOUNDATION FOR CANCER RESEARCH AND CONTROL ATTORNEY(S) : FRANCISCO DE ASSIS GARCIA AND OTHERS AMICUS CURIAE : NATIONAL CONFEDERATION OF WORKERS IN TOURISM AND HOSPITALITY - CONTRATUH ATTORNEY(S) : AGILBERTO SERÓDIO AND OTHER(S) SUMMARY: DIRECT ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE. LAW NO. 5517 OF 2009, OF RIO DE JANEIRO. PROHIBITION OF SMOKING PRODUCTS IN COLLECTIVE ENVIRONMENTS. LEGITIMATE EXERCISE OF THE STATES COMPETENCE TO SUPPLEMENT FEDERAL LEGISLATION. VIOLATION TO FREE ENTERPRISE. INEXISTENCE. ACTION DISMISSED. 1. In cases in which the doubt about legislative competence falls upon a norm that covers more than one theme, the interpreter must accept an interpretation that does not limit the competence held by the smaller entities to dispose of a certain matter. 2. Because federalism is an instrument of political decentralization that aims to realize fundamental rights, if the federal or state law clearly indicates, in a necessary, adequate, and reasonable manner, that the effects of its application exclude the power of complementation held by the smaller entities, it is possible to rule out the presumption that, in the regional sphere, a certain subject must be regulated by the larger entity. -

Report of Activities 2011
2011 - 2013 BRAZIL INSTITUTE Report of Activities BRAZIL INSTITUTE TABLE OF CONTENTS LEADERSHIP & VISION 1 11 MAJOR INITIATIVES WOODROW WILSON 7 AWARDS 17 EVENTS LEADERSHIP & VISION Message from the President of the Wilson Center Message from the Chair of the Advisory Council Message from the Director of the Brazil Institute Staff Scholars Advisory Council A Message from our President, Director, and CEO of the Wilson Center JANE HARMAN During my two decades as a Member engaged dozens of Brazilian legislators of the US Congress, I traveled several with experts from the policy and times to Brazil to study our countries’ business worlds. The Brazil Institute shared interests in education, science is doing its part to improve on that and technology; energy and climate exchange of ideas, and I recently had change; international security the pleasure of opening – alongside cooperation; and the rule of law. I’ve Librarian of Congress James Billington witnessed firsthand how often our – a newly published report on the 2011 societies outpace our governments, Brazil-United States Judicial Dialogue. highlighting the way forward for These are just a few examples of the bilateral engagement. As an example, Brazil Institute’s contribution to an the Center’s annual symposia with ongoing conversation. the São Paulo Research Foundation (FASPESP) and a number of American Established in 2006, the Brazil universities brings together remarkable Institute serves as a lane of excellence scientific and scholarly research that for the Wilson Center, our nation’s experts from both nations are already living memorial to President pursuing – and pursuing together. Woodrow Wilson. The Center honors his memory by bridging his two Brazil’s growing middle class needs passions: scholarship and policy. -

“Com Menos Efetivo, Reduzimos a Criminalidade”
VEM AÍ O TRF6 2019 O TUDO SOBRE A CRIAÇÃO ST O G DA NOVA CORTE EM MG A 1807-779X JUSTIÇA PRESENTE N ANO 20 | ISB PELA RECUPERAÇÃO DO | SISTEMA PENITENCIÁRIO DITADURA SUTIL #228 CASTELLS E A RELAÇÃO COMUNICAÇÃO X DEMOCRACIA “COM MENOS EFETIVO, REDUZIMOS A CRIMINALIDADE” WilsON WitZel, GOverNADOR DO estADO DO riO DE JANeirO WWW.EDITORAJC.COM.BR QUALIDADE. PRATICIDADE. INOVAÇÃO SUMÁRIO 06 EDITORIAL 46 NOVAS TENDÊNCIAS Questão de Saúde pública e privada Turismo e crescimento sustentável dos apps 08 CAPA 49 DIREITO CONSTITUCIONAL Conheça o novo site. “Com menos efetivo, reduzimos A PEC das Diretas e a garantia do poder popular O conteúdo que você quer, a qualquer hora ou lugar. a criminalidade” 50 PROCESSO CIVIL Prisão alimentar: entre o cárcere e a tornozeleira 53 OPINIÃO Mais rápido, fácil e Habemus Autoridade Nacional de direto ao ponto. Proteção de Dados 54 ESPAÇO AGU Precisamos falar sobre educação corporativa na Advocacia Pública Área de busca otimizada e conteúdo ESPAÇO AJUFE Foto: Alan Santos/PR Foto: 56 organizado em Varas federais ambientais categorias do Direito Entrevista com o Governador Wilson Witzel 58 MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM Ferramentas disruptivas para a construção da 17 JUSTIÇA FEDERAL paz e da tolerância Vem aí o TRF6 62 ESPAÇO ANADEP 24 NOVAS TENDÊNCIAS Defensoria para todos(as)? Comunicação, Política e Democracia 64 OPINIÃO 30 CORREGEDORIAS O papel da advocacia em defesa da Agenda 2030 Corregedores de Justiça do Brasil, uni-vos! para o Desenvolvimento Sustentável 32 DIREITO DO TRABALHO Tutela da saúde e da segurança no local de trabalho 36 DIREITO DO TRABALHO Uberização, liberdade econômica e escolhas (in)conscientes 40 DIREITO PENAL “Nosso sistema prisional já não admite inércia” Siga-nos: Facebook.com/editorajc Agosto 2019 | Justiça & Cidadania no 228 5 Orpheu Santos Salles Edição 228 • Agosto de 2019 • Capa: Carlos Magno B ASI L I O 1921 - 2016 ADVOGADO S CONSELHO EDITORIAL Bernardo Cabral Presidente Adilson Vieira Macabu Julio Antonio Lopes Alexandre Agra Belmonte Luis Felipe Salomão Ana Tereza Basilio Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho Av.