A DIALÉTICA DA HEROIFICAÇÃO Sobre Como Um Ministro E Uma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diálogo Institucional Nas Sabatinas Para O Stf, Poder E Profissionalismo
Heloisa Bianquini Araujo QUAL O GÊNERO DO SUPREMO? DIÁLOGO INSTITUCIONAL NAS SABATINAS PARA O STF, PODER E PROFISSIONALISMO Monografia apresentada à Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público –SBDP, sob a orientação da Profa Luciana de Oliveira Ramos. SÃO PAULO 2015 Agradecimentos Uma das maiores dificuldades que tive ao decorrer desta pesquisa foi aprender a me expressar de forma mais organizada e concisa. Já coloco o aprendizado em prática logo nessa seção, pois os agradecimentos são inúmeros e variados. Agradeço primeiramente à minha orientadora, Luciana Ramos, que me acompanhou muito, ajudou-me com dicas, revisões e conselhos que pretendo levar para sempre na minha vida acadêmica. Agradeço também pela compreensão, pela amizade e pela disponibilidade. Agradeço à toda equipe da Escola de Formação da SBDP pelo auxílio valioso durante a elaboração desta monografia, pelas críticas que certamente acrescentaram muito a este trabalho, pela convivência neste ano de EF e pelo estímulo ao debate franco e honesto durante todos nossos encontros. Agradeço às minhas colegas e aos meus colegas – na verdade, amigas e amigos – de Escola de Formação, que, além de terem também contribuído muito com críticas e sugestões, contribuiram com um companheirismo muito bem-vindo nesta aventura que é escrever uma monografia. Agradeço aos amigos e amigas do CAPEJur (Centro de Análise e Pesquisa em Educação Jurídica). O CAPEJur foi meu primeiro contato com pesquisa empírica em direito, e foi uma surpresa muito grata encontrar pessoas que compartilhem as mesmas afinidades, interesses e esperanças que sempre tive em relação ao direito e ao ensino jurídico. Agradeço aos meus amigos e amigas que me aguentaram durante todo esse tempo, com todos os altos e baixos de humor que tive (e não foram poucos!). -

1995,Brazil's Zumbi Year, Reflections on a Tricentennial Commemoration
1995,Brazil’s Zumbi Year, Reflections on a Tricentennial Commemoration Richard Marin To cite this version: Richard Marin. 1995,Brazil’s Zumbi Year, Reflections on a Tricentennial Commemoration. 2017. hal-01587357 HAL Id: hal-01587357 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01587357 Preprint submitted on 10 Mar 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Richard Marin 1995, BRAZIL’S ZUMBI YEAR: REFLECTIONS ON A TRICENTENNIAL COMMEMORATION In 1995, the Brazilian commemorations in honor of the tricentennial of the death of Zumbi, the legendary leader of the large maroon community of Palmares, took on every appearance of a genuine social phenomenon. The Black Movement and part of Brazilian civil society, but also the public authorities, each in different ways, were all committed to marking the event with exceptional grandeur. This article advances a perspective on this commemorative year as an important step in promoting the "Black question" along with Afro-Brazilian identity. After describing the 1995 commemorations, we aim to show how they represented the culmination of already-existing movements that had been at work in the depths of Brazilian society. We will finish by considering the period following the events of 1995, during which "the Black question" becomes truly central to debates in Brazilians society. -
![Nelson Jobim Fernando De Castro Fontainha Christiane Jalles De Paula Leonardo Seiichi Sasada Sato Fabrícia Corrêa Guimarães [Orgs.] 9 EDIÇÃO FGV DIREITO RIO](https://docslib.b-cdn.net/cover/2501/nelson-jobim-fernando-de-castro-fontainha-christiane-jalles-de-paula-leonardo-seiichi-sasada-sato-fabr%C3%ADcia-corr%C3%AAa-guimar%C3%A3es-orgs-9-edi%C3%A7%C3%A3o-fgv-direito-rio-1332501.webp)
Nelson Jobim Fernando De Castro Fontainha Christiane Jalles De Paula Leonardo Seiichi Sasada Sato Fabrícia Corrêa Guimarães [Orgs.] 9 EDIÇÃO FGV DIREITO RIO
9 História Oral do Supremo [1988-2013] Nelson Jobim Fernando de Castro Fontainha Christiane Jalles de Paula Leonardo Seiichi Sasada Sato Fabrícia Corrêa Guimarães [orgs.] 9 EDIÇÃO FGV DIREITO RIO Obra Licenciada em Creative Commons Atribuição – Uso Não Comercial – Não a Obras Derivadas Impresso no Brasil / Printed in Brazil Fechamento da 1ª edição em novembro de 2015 Este livro consta na Divisão de Depósito Legal da Biblioteca Nacional. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Coordenação Sacha Mofreita Leite, Thaís Teixeira Mesquita e Rodrigo Vianna Projeto gráfico e capa eg.design Evelyn Grumach Diagramação Antonio Valério Revisão Marcia Glenadel Gnanni Ernesto História oral do Supremo (1988-2013), v.9: Nelson Jobim / Fernando de Castro Fontainha, Christiane Jalles de Paula, Leonardo Seiichi Sasada Sato, Fabrícia Corrêa Guimarães (orgs.). – Rio de Janeiro : Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2015. 346 p. Em colaboração com a Direito GV e o CPDOC. Inclui bibliografia. ISBN: 978-85-63265-55-5 1. Brasil. Supremo Tribunal Federal. 2. Jobim, Nelson, 1946- . I. Fontainha, Fernando de Castro. II. Paula, Christiane Jalles de. III. Sato, Leonardo Seiichi Sasada. IV. Guimarães, Fabrícia. V. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. VI. Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. VII. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. CDD – 341.4191 Todos os direitos desta edição reservados à FGV DIREITO RIO Praia de Botafogo, -

15 Tribunal Superior Do Trabalho
Nº 85, terça-feira, 6 de maio de 2008 ISSN 1677-7018 15 <!ID1076761-0> 1. Não houve omissão desta c. Corte quanto à interposição de recurso PUBLICAÇÃO DE DECISÕES No- 140/2008 1. Incabível a realização de revisão de eleitorado em ano eleitoral, extraordinário contra o v. acórdão exarado no Agravo de Instrumento quando não comprovada a situação excepcional, prevista no § 2º do RESOLUÇÕES nº 4.579/CE. Com efeito, o decisum embargado consignou que "(...) art. 58 da Resolução-TSE nº 21.538/2003. em 29.10.2007, ocorreu o trânsito em julgado do Agravo de Ins- 22.760 - CONSULTA Nº 1.567 - CLASSE 5ª - BRASÍLIA 2. Pedido de revisão indeferido. trumento nº 4.579/CE, após o exaurimento do prazo recursal da de- - DISTRITO FEDERAL. cisão do Presidente desta Corte, que negou seguimento ao recurso Relator Ministro Felix Fischer. Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por extraordinário, que fora interposto pelo ora recorrente. Este não ob- Consulente José Sarney Filho, deputado federal. unanimidade, indeferir o pedido de revisão, nos termos do voto do teve êxito na tentativa de reverter a condenação a ele imposta, que Ementa: r e l a t o r. prevalece, a toda evidência, nos exatos termos fixados pela Corte CONSULTA. REELEIÇÃO. CHEFE DO PODER EXECUTIVO Presidência do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio. Presentes Regional" (fl. 873). MUNICIPAL. FORMULAÇÃO AMPLA. FALTA DE ESPECIFICI- 2. Embargos de declaração rejeitados. DADE. NÃO-CONHECIMENTO. os Srs. Ministros Carlos Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Ari Par- Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 1. É assente no e. -

Freedom House
COUNTRIES AT THE CROSSROADS 2012: BRAZIL DAVID FLEISCHER INTRODUCTION Brazil has been an independent nation since 1822, and a republic governed by a federalist constitution since 1889. Starting in 1930, Getúlio Vargas led a period of considerable autocratic modernization and incipient industrialization. Vargas was toppled by the military in December 1945, and the 1946 Constitution installed a democratic regime. Vargas returned by direct election as president in 1950, but his populist regime ended in August 1954, when he committed suicide rather than again be removed by the military. In 1955, Juscelino Kubitschek was elected president, promising “50 years of progress in 5” with a new intense phase of import-substitution-industrialization and the construction of the new inland capital Brasilia. The 1960s and 1970s were characterized by intense rural-urban migration. In March 1964 the military removed President João Goulart and proceeded to rule Brazil until March 1985. Unlike other military regimes in South America, Brazil held congressional elections every four years and political parties were allowed to operate, though with severe restrictions. After a prolonged 10-year “political transition,” democracy finally returned when, in January 1985, the Electoral College chose Brazilian Democratic Movement Party (PMDB) member Tancredo Neves as president. Neves died before taking office and Vice- President José Sarney completed the five-year mandate. During this period, a new constitution was approved in 1988, but rampant inflation inhibited development. On November 15, 1989, the first direct elections for president since 1960 were held and Fernando Collor de Mello of the Party of National Reconstruction (PRN) narrowly defeated the Workers’ Party (PT) candidate. -
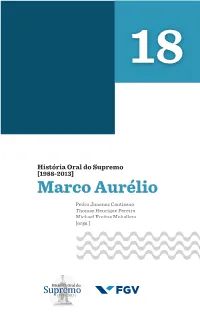
Marco Aurélio.Pdf
18 18 História Oral do Supremo [1988-2013] Marco Aurélio Pedro Jimenez Cantisano Thomaz Henrique Pereira Michael Freitas Mohallem [orgs.] 18 EDIÇÃO FGV DIREITO RIO Obra Licenciada em Creative Commons Atribuição – Uso Não Comercial – Não a Obras Derivadas Impresso no Brasil / Printed in Brazil Fechamento da 1ª edição em novembro de 2017 Este livro consta na Divisão de Depósito Legal da Biblioteca Nacional. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Coordenação Rodrigo Vianna, Sérgio França e Thaís Mesquita Projeto gráfico e capa eg.design Evelyn Grumach Diagramação Agência Tipping. Shirley Dal Ponte e Priscilla Tipping 1ª Revisão Marcia Glenadel Gnanni 2ª Revisão Antônio dos Prazeres Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV História oral do Supremo (1988-2013), v.18: Marco Aurélio Mello / Pedro Cantisano / Thomaz Pereira / Michael Mohallem (orgs.). - Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2017. 117p. Em colaboração com a Direito GV e o CPDOC. Inclui bibliografia. ISBN: 978-85- 9597-006-9 1. Brasil. Supremo Tribunal Federal. 2. Mello, Marco Aurélio Mendes de Faria, 1946-. I. Cantisano, Pedro. II. Pereira, Thomaz. III. Mohallem, Michael Freitas. IV. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. V. Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. VI. Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas. CDD – 341.4191 Todos os direitos desta edição reservados à FGV Direito Rio Praia de Botafogo, 190 | 13º -

Daniel Barile Da Silveira Terrie Ralph Groth
DANIEL BARILE DA SILVEIRA TERRIE RALPH GROTH O PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO FUNCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PADRÃO DE RECRUTAMENTO E CARREIRAS POLÍTICAS REA: GT17 - Judiciário e Política : teorias e debates contemporâneos ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS - ANPOCS 36. ENCONTRO ANUAL - ÁGUAS DE LINDÓIA – SP - 2012 1 O PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO FUNCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PADRÃO DE RECRUTAMENTO E CARREIRAS POLÍTICAS Daniel Barile da Silveira1 Terrie Ralph Groth2 Não somente a diretriz tomada no exercício de competências de um Tribunal, mas também a forma da composição de seus membros são fortes indicativos de diferenciação funcional de instituições. Neste sentido, uma marca indelével dessa diferenciação é de que seus partícipes devem constituir um discreto grupo com um papel bem definido no sistema político (EISENSTADT apud MCGUIRE, 2004, p. 130). Por certo, uma forma comum de aferição desse pressuposto teórico reside na extensão de como os membros de determinada instituição judicial são recrutados diante de uma gama infinita de pessoas versadas no conhecimento do Direito a ser aplicado aos casos julgados, permitindo ao observador moldar certo perfil institucional de um organismo colegiado. Pensando em Cortes Constitucionais, o resultado não é diferente. Diante de sua natureza mista, no sentido de que seus membros exercem uma função dúplice, na perspectiva de serem guardiões dos textos legais e ao mesmo tempo constituírem o gargalo de disputas acerca de políticas nacionais, a atenção prestada pelo estudioso na forma em que se recrutam esses agentes reforça a preocupação de como organicamente se molda a Câmara mais alta da Corte de Justiça de um país. -

Report of Activities 2011
2011 - 2013 BRAZIL INSTITUTE Report of Activities BRAZIL INSTITUTE TABLE OF CONTENTS LEADERSHIP & VISION 1 11 MAJOR INITIATIVES WOODROW WILSON 7 AWARDS 17 EVENTS LEADERSHIP & VISION Message from the President of the Wilson Center Message from the Chair of the Advisory Council Message from the Director of the Brazil Institute Staff Scholars Advisory Council A Message from our President, Director, and CEO of the Wilson Center JANE HARMAN During my two decades as a Member engaged dozens of Brazilian legislators of the US Congress, I traveled several with experts from the policy and times to Brazil to study our countries’ business worlds. The Brazil Institute shared interests in education, science is doing its part to improve on that and technology; energy and climate exchange of ideas, and I recently had change; international security the pleasure of opening – alongside cooperation; and the rule of law. I’ve Librarian of Congress James Billington witnessed firsthand how often our – a newly published report on the 2011 societies outpace our governments, Brazil-United States Judicial Dialogue. highlighting the way forward for These are just a few examples of the bilateral engagement. As an example, Brazil Institute’s contribution to an the Center’s annual symposia with ongoing conversation. the São Paulo Research Foundation (FASPESP) and a number of American Established in 2006, the Brazil universities brings together remarkable Institute serves as a lane of excellence scientific and scholarly research that for the Wilson Center, our nation’s experts from both nations are already living memorial to President pursuing – and pursuing together. Woodrow Wilson. The Center honors his memory by bridging his two Brazil’s growing middle class needs passions: scholarship and policy. -

( Judgments on Environmental Law in Br
Essential Readings in Environmental Law IUCN Academy of Environmental Law (www.iucnael.org) JUDGMENTS ON ENVIRONMENTAL LAW IN BRAZIL Coordinated by: Márcia Dieguez Leuzinger, Brasília University Center – UniCEUB, Brazil Carina Costa de Oliveira, University of Brasília-UnB, Brazil Priscila Pereira de Andrade, Brasília University Center - UniCEUB, Brazil OVERVIEW OF KEY JUDGMENTS . Public participation and the creation of protected areas in Brazil 1. Writ of Mandamus Nº 24184, (2004) Supreme Federal Court . Precautionary principle and the reversal of burden of proof 2. Special Appeal N° 1330027/SP, (2012) Superior Court of Justice . Enforcement of public policies related to invasive species 3. Public Civil Action N° 2006.71.00.021446-8/RS, (2013) 9th Division of Porto Alegre’s Federal Court . Legislative powers of member States to prohibit asbestos 4. Direct Action of Unconstitutionality N° 3937-7, (2008) Supreme Federal Court . Criminal liability of legal entities for environmental crimes 5. Special Appeal N° 564960/SC, (2008) Superior Court of Justice 6. Appeal in writ of mandamus Nº 39.173/BA, (2015) Superior Court of Justice . Compensation for environmental damages 7. Special Appeal N° 1.114.893/MG, (2012) Superior Court of Justice 8. Direct Action of Unconstitutionality Nº 3378/DF, (2008) Supreme Federal Court . Distinctions between material, moral and collective environmental damage 9. Special Appeal N°904.324/RS, (2009) Superior Court of Justice . Civil liability for environmental damage 10. Special Appeal N° 1.164.630/MG, (2010) Superior Court of Justice . Propter rem obligation of property owners to repair environmental damages 11. Special Appeal Nº 1.090.968/ SP, (2010) Superior Court of Justice . -

The Social Function of Property in Brazilian Law
THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY IN BRAZILIAN LAW Alexandre dos Santos Cunha* INTRODUCTION The idea that rights serve a social function was first introduced into Brazilian legal culture about a century ago. Although the concept is historically linked to the French scholar Léon Duguit, the Brazilian version is distinct and does not share these French origins. Twentieth-century Italian jurists Pietro Cogliolo and Enrico Cimbali, who both exerted overwhelming influence over the so-called “Renovators” of Brazilian Private Law, are primarily responsible for Brazil’s version.1 Unlike Duguit, Cogliolo and Cimbali construed the concept of a social function as a justification for imposing only external limits on the exercise of rights.2 Consequently, Brazilian courts have never considered Duguit’s understanding of the social function of property as a source of internal limitations. The concept of the social function of rights first appeared in the Brazilian Constitution in 1934, and has become considerably stronger since the country adopted a new Civil Code in 2002. This Essay focuses on the 2002 Code’s impact on the way jurists and courts understand the concept, especially with respect to the social function of property. This Essay is divided into four parts. Part I presents a brief history of Brazilian property law, Part II discusses the social function of property as a legal principle, Part III discusses it as a structural element of property, and Part IV discusses it as a structural element of rights. * J.D., LL.M., S.J.D (Federal University of the State of Rio Grande do Sul—UFRGS, Porto Alegre, Brazil), Researcher at the National Institute for Applied Economic Research—IPEA, Brasília, Brazil. -

Notas Sobre O Supremo Tribunal (Império E República)
Supremo Tribunal Federal Notas sobre o Supremo Tribunal (Império e República) Ministro Celso de Mello Brasília 2014 Supremo Tribunal Federal Notas sobre o Supremo Tribunal (Império e República) 4ª edição Ministro Celso de Mello Brasília 2014 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Ministro Enrique Ricardo Lewandowski (16-3-2006), Presidente Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha (21-6-2006), Vice-Presidente Ministro José Celso de Mello Filho (17-8-1989), Decano Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello (13-6-1990) Ministro Gilmar Ferreira Mendes (20-6-2002) Ministro José Antonio Dias Toffoli (23-10-2009) Ministro Luiz Fux (3-3-2011) Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa (19-12-2011) Ministro Teori Albino Zavascki (29-11-2012) Ministro Luís Roberto Barroso (26-6-2013) Disponível também em: <http://www.stf.jus.br/portal> Secretaria-Geral da Presidência Manoel Carlos de Almeida Neto Secretaria de Documentação Dennys Albuquerque Rodrigues Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência Juliana Viana Cardoso Capa Jorge Luiz Villar Peres e Camila Penha Soares Projeto gráfico e diagramação Eduardo Franco Dias Revisão Amélia Lopes Dias de Araújo Lilian de Lima Falcão Braga Rochelle Quito Viviane Monici Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Supremo Tribunal Federal – Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal) Mello Filho, José Celso de, 1945-. Notas sobre o Supremo Tribunal (Império e República) / Ministro Celso de Mello. 4. ed. – Brasília : Supremo Tribunal Federal, 2014. 36 p. 1. Tribunal supremo, história, Brasil. 2. Ministro de tribunal supremo, Brasil. I. Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF). CDD-341.419109 Seção de Distribuição de Edições Maria Cristina Hilário da Silva Supremo Tribunal Federal, Anexo II-A, Cobertura, Sala C-624 Praça dos Três Poderes – 70175-900 – Brasília-DF [email protected] Fone: (61) 3217-4780 SUMÁRIO As várias denominações históricas dos órgãos de cúpula da Justiça no Brasil ........ -

A Construção Da Imagem Do Ministro Joaquim Barbosa Pela Revista Veja
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESCOLA DE COMUNICAÇÃO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS JORNALISMO A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO MINISTRO JOAQUIM BARBOSA PELA REVISTA VEJA BARBARA DE JESUS SOUZA RIO DE JANEIRO 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESCOLA DE COMUNICAÇÃO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS JORNALISMO A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO MINISTRO JOAQUIM BARBOSA PELA REVISTA VEJA Monografia submetida à Banca de Graduação como requisito para obtenção do diploma de Comunicação Social/Jornalismo. BARBARA DE JESUS SOUZA Orientador: Prof. Dr. Paulo Guilherme Domenech Oneto RIO DE JANEIRO 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESCOLA DE COMUNICAÇÃO TERMO DE APROVAÇÃO A Comissão Examinadora, abaixo assinada, avalia a Monografia A Construção da Imagem do ministro Joaquim Barbosa pela Revista Veja, elaborada por Barbara de Jesus Souza. Monografia examinada: Rio de Janeiro, no dia ........./........./.......... Comissão Examinadora: Orientador: Prof. Dr. Paulo Guilherme Domenech Oneto Doutor em Filosofia – Universidade de Nice (França) Departamento de Comunicação – UFRJ Prof. Dr. Márcio Tavares D’Amaral Pós-doutor - Universidade de Paris V (França) Departamento de Comunicação – UFRJ Profa. Dra. Marialva Carlos Barbosa Doutora em História - UFF Departamento de Comunicação – UFRJ RIO DE JANEIRO 2015 FICHA CATALOGRÁFICA SOUZA, Barbara de Jesus. A Construção da Imagem do ministro Joaquim Barbosa pela revista Veja. Rio de Janeiro, 2015. Monografia (Graduação em Comunicação Social/ Jornalismo) – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Escola de Comunicação – ECO. Orientador: Paulo Guilherme Domenech Oneto SOUZA, Barbara de Jesus. A Construção da Imagem do ministro Joaquim Barbosa pela Revista Veja. Orientador: Paulo Domenech Oneto. Rio de Janeiro: UFRJ/ECO. Monografia em Jornalismo.