Formalismo Inconsistente E Textualismo Oscilante No Direito Constitucional Brasileiro1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Social Function of Property in Brazilian Law
Fordham Law Review Volume 80 Issue 3 Article 7 December 2011 The Social Function of Property in Brazilian Law Alexandre dos Santos Cunha Follow this and additional works at: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr Part of the Law Commons Recommended Citation Alexandre dos Santos Cunha, The Social Function of Property in Brazilian Law, 80 Fordham L. Rev. 1171 (2011). Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol80/iss3/7 This Symposium is brought to you for free and open access by FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History. It has been accepted for inclusion in Fordham Law Review by an authorized editor of FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History. For more information, please contact [email protected]. THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY IN BRAZILIAN LAW Alexandre dos Santos Cunha* INTRODUCTION The idea that rights serve a social function was first introduced into Brazilian legal culture about a century ago. Although the concept is historically linked to the French scholar Léon Duguit, the Brazilian version is distinct and does not share these French origins. Twentieth-century Italian jurists Pietro Cogliolo and Enrico Cimbali, who both exerted overwhelming influence over the so-called “Renovators” of Brazilian Private Law, are primarily responsible for Brazil’s version.1 Unlike Duguit, Cogliolo and Cimbali construed the concept of a social function as a justification for imposing only external limits on the exercise of rights.2 Consequently, Brazilian courts have never considered Duguit’s understanding of the social function of property as a source of internal limitations. The concept of the social function of rights first appeared in the Brazilian Constitution in 1934, and has become considerably stronger since the country adopted a new Civil Code in 2002. -

Nº 221 Brasília | Janeiro – Março/2019 Ano 56 Revista De Informação Legislativa
nº 221 Brasília | janeiro – março/2019 Ano 56 Revista de Informação Legislativa Brasília | ano 56 | no 221 janeiro/março – 2019 SENADO FEDERAL Mesa Biênio 2019 – 2020 Senador Davi Alcolumbre PRESIDENTE Senador Antonio Anastasia PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE Senador Lasier Martins SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE Senador Sérgio Petecão PRIMEIRO-SECRETÁRIO Senador Eduardo Gomes SEGUNDO-SECRETÁRIO Senador Flávio Bolsonaro TERCEIRO-SECRETÁRIO Senador Luis Carlos Heinze QUARTO-SECRETÁRIO SUPLENTES DE SECRETÁRIO Senador Marcos do Val Senador Weverton Senador Jaques Wagner Senadora Leila Barros Revista de Informação Legislativa MISSÃO A Revista de Informação Legislativa (RIL) é uma publicação trimestral, produzida pela Coordenação de Edições Técnicas do Senado Federal. Publicada desde 1964, a Revista tem divulgado artigos inéditos, predominantemente nas áreas de Direito, Ciência Política e Relações Internacionais. Sua missão é contribuir para a análise dos grandes temas em discussão na sociedade brasileira e, consequentemente, em debate no Congresso Nacional. FUNDADORES Senador Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal – 1961-1967 Isaac Brown, Secretário-Geral da Presidência – 1946-1967 Leyla Castello Branco Rangel, Diretora – 1964-1988 DIRETORA-GERAL: Ilana Trombka SECRETÁRIO-GERAL DA MESA: Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho IMPRESSA NA SECRETARIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES DIRETOR: Fabrício Ferrão Araújo PRODUZIDA NA COORDENAÇÃO DE EDIÇÕES TÉCNICAS COORDENADOR: Aloysio de Brito Vieira EDITOR RESPONSÁVEL: Aloysio de Brito Vieira. CHEFIA DE PRODUÇÃO EDITORIAL: Raphael Melleiro. GESTÃO DE ARTIGOS: Glaucia Cruz. REVISÃO DE ORIGINAIS: Vilma de Sousa e Walfrido Vianna. EDITORAÇÃO ELETRÔNICA: Glaucia Cruz, Marcus Aurélio Oliveira e Rejane Campos. CAPA: Angelina Almeida. Não são objeto de revisão artigos ou segmentos de texto redigidos em língua estrangeira. Revista de Informação Legislativa / Senado Federal. -

Daniel Barile Da Silveira Terrie Ralph Groth
DANIEL BARILE DA SILVEIRA TERRIE RALPH GROTH O PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO FUNCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PADRÃO DE RECRUTAMENTO E CARREIRAS POLÍTICAS REA: GT17 - Judiciário e Política : teorias e debates contemporâneos ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS - ANPOCS 36. ENCONTRO ANUAL - ÁGUAS DE LINDÓIA – SP - 2012 1 O PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO FUNCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PADRÃO DE RECRUTAMENTO E CARREIRAS POLÍTICAS Daniel Barile da Silveira1 Terrie Ralph Groth2 Não somente a diretriz tomada no exercício de competências de um Tribunal, mas também a forma da composição de seus membros são fortes indicativos de diferenciação funcional de instituições. Neste sentido, uma marca indelével dessa diferenciação é de que seus partícipes devem constituir um discreto grupo com um papel bem definido no sistema político (EISENSTADT apud MCGUIRE, 2004, p. 130). Por certo, uma forma comum de aferição desse pressuposto teórico reside na extensão de como os membros de determinada instituição judicial são recrutados diante de uma gama infinita de pessoas versadas no conhecimento do Direito a ser aplicado aos casos julgados, permitindo ao observador moldar certo perfil institucional de um organismo colegiado. Pensando em Cortes Constitucionais, o resultado não é diferente. Diante de sua natureza mista, no sentido de que seus membros exercem uma função dúplice, na perspectiva de serem guardiões dos textos legais e ao mesmo tempo constituírem o gargalo de disputas acerca de políticas nacionais, a atenção prestada pelo estudioso na forma em que se recrutam esses agentes reforça a preocupação de como organicamente se molda a Câmara mais alta da Corte de Justiça de um país. -

Federal Supreme Court Full Text of the Decision - ADI 4306 / DF
Unofficial Translation Federal Supreme Court Full Text of the Decision - ADI 4306 / DF 12/20/2019 PLENARY SESSION DIRECT ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY 4306 FEDERAL DISTRICT REPORTER : JUSTICE EDSON FACHIN PLAINTIFF(S) : NATIONAL CONFEDERATION OF COMMERCE OF GOODS, SERVICES AND TOURISM (CNC) ATTORNEY(S) : NEUILLEY ORLANDO SPINETTI DE SANTA RITA MATTA AND OTHERS DEFENDANT(S) : GOVERNOR OF THE STATE OF RIO DE JANEIRO DEFENDANT(S) : LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE STATE OF RIO DE JANEIRO AMICUS CURIAE : ACT - TOBACCO CONTROL, HEALTH PROMOTION AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION (ACT - PROMOÇÃO DA SAÚDE) ATTORNEY(S) : CLARISSA MENEZES HOMSI AND OTHERS AMICUS CURIAE : ARY FRAUZINO FOUNDATION FOR CANCER RESEARCH AND CONTROL ATTORNEY(S) : FRANCISCO DE ASSIS GARCIA AND OTHERS AMICUS CURIAE : NATIONAL CONFEDERATION OF WORKERS IN TOURISM AND HOSPITALITY - CONTRATUH ATTORNEY(S) : AGILBERTO SERÓDIO AND OTHER(S) SUMMARY: DIRECT ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE. LAW NO. 5517 OF 2009, OF RIO DE JANEIRO. PROHIBITION OF SMOKING PRODUCTS IN COLLECTIVE ENVIRONMENTS. LEGITIMATE EXERCISE OF THE STATES COMPETENCE TO SUPPLEMENT FEDERAL LEGISLATION. VIOLATION TO FREE ENTERPRISE. INEXISTENCE. ACTION DISMISSED. 1. In cases in which the doubt about legislative competence falls upon a norm that covers more than one theme, the interpreter must accept an interpretation that does not limit the competence held by the smaller entities to dispose of a certain matter. 2. Because federalism is an instrument of political decentralization that aims to realize fundamental rights, if the federal or state law clearly indicates, in a necessary, adequate, and reasonable manner, that the effects of its application exclude the power of complementation held by the smaller entities, it is possible to rule out the presumption that, in the regional sphere, a certain subject must be regulated by the larger entity. -

The Social Function of Property in Brazilian Law
THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY IN BRAZILIAN LAW Alexandre dos Santos Cunha* INTRODUCTION The idea that rights serve a social function was first introduced into Brazilian legal culture about a century ago. Although the concept is historically linked to the French scholar Léon Duguit, the Brazilian version is distinct and does not share these French origins. Twentieth-century Italian jurists Pietro Cogliolo and Enrico Cimbali, who both exerted overwhelming influence over the so-called “Renovators” of Brazilian Private Law, are primarily responsible for Brazil’s version.1 Unlike Duguit, Cogliolo and Cimbali construed the concept of a social function as a justification for imposing only external limits on the exercise of rights.2 Consequently, Brazilian courts have never considered Duguit’s understanding of the social function of property as a source of internal limitations. The concept of the social function of rights first appeared in the Brazilian Constitution in 1934, and has become considerably stronger since the country adopted a new Civil Code in 2002. This Essay focuses on the 2002 Code’s impact on the way jurists and courts understand the concept, especially with respect to the social function of property. This Essay is divided into four parts. Part I presents a brief history of Brazilian property law, Part II discusses the social function of property as a legal principle, Part III discusses it as a structural element of property, and Part IV discusses it as a structural element of rights. * J.D., LL.M., S.J.D (Federal University of the State of Rio Grande do Sul—UFRGS, Porto Alegre, Brazil), Researcher at the National Institute for Applied Economic Research—IPEA, Brasília, Brazil. -

Aposentadoria De Ellen Gracie Do Supremo É Oficializada - Notícias Em Política Página 1 De 2
G1 - Aposentadoria de Ellen Gracie do Supremo é oficializada - notícias em Política Página 1 de 2 08/08/2011 06h57- Atualizado em 08/08/2011 21h02 Aposentadoria de Ellen Gracie do Supremo é oficializada 'Diário Oficial' desta segunda publica saída da ministra do STF. Três mulheres são cotadas para ocupar vaga na mais alta Corte. Débora Santos Do G1, em Brasília imprimir A edição desta segunda-feira (8) do "Diário Oficial da União" publicou a aposentadoria da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Ellen Gracie Northfleet. Com a saída de Ellen Gracie, a mais alta Corte brasileira passará a julgar com dez ministros. A ministra participou de sua última sessão na última quinta (4) e deixou o plenário sem se despedir publicamente dos colegas. Na semana passada, a pauta do STF foi quase toda dedicada a processos de relatoria de Elloen Gracie. Após o último julgamento, nos bastidores, ela fotos com assessores do gabinete. Primeira mulher a integrar a Corte, aos 63 anos, a ministra Ellen Gracie ainda poderia permanecer no cargo até 2018, quando faria 70 anos, idade estabelecida para aposentadoria compulsória dos ministros do STF. Ela ainda teria pretensão de ocupar uma vaga em uma corte internacional. Ellen Gracie tomou posse na Corte em 2000, nomeada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Natural do Rio de Janeiro, é especialista em direito civil, formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/08/aposentadoria -de -ellen -gracie -e-oficializ ... 18/ 10/ 2012 G1 - Aposentadoria de Ellen Gracie do Supremo é oficializada - notícias em Política Página 2 de 2 do Sul. -

January 22, 2010 Dear BSH Supporters, in June, 2009, Judge Pinto
January 22, 2010 Dear BSH Supporters, In June, 2009, Judge Pinto ruled for the immediate return of Sean to his father, David Goldman. This ruling was then confirmed by an appellate ruling. From this, came a firestorm of legal maneuvering. Ultimately, the Chief Justice of the Federal Supreme Court of Brazil (STF), Gilmar Mendes, took it upon himself to rule on the merits of the numerous forms of legal relief sought by both parties. Beyond the first few pages, both of Justice Mendes' rulings are identical. As such, we chose to include both as part of one packet of translated documents. As we translated the documents, we took great pains to reproduce Judge Mendes' intentions through the use of bold, italics, and underlining. Throughout the rulings, we chose to retain the original Latin terminology as well as the original Portuguese when there was no direct translation into English. In each instance, we included a thorough definition on the following pages. These translations err on the side of fidelity to the original text. Each of us contributed in different ways to the translation process. We list our names in no particular order: • tweinstein: Intermediate translation, text formatting, introduction, final preparation • ::ultranol:: Intermediate and final translation, text formatting • Andre Felipe: Intermediate and final translation, legal terminology • FC_Florida: Intermediate and final translation, text formatting • cmdealin: Rough and intermediate translation • Sashia: Intermediate translation, text formatting Sincerely, tweinstein, ::ultranol::, Andre Felipe, FC_Florida, cmdealin, Sashia Latin terminology used in Judge Mendes' ruling Term Definition decisum decision Refers to an error in the application of the law which has a procedural nature. -

OS PEDIDOS DE VISTA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Uma Análise Quantitativa Nos Casos De Controle Concentrado De Constitucionalidade
Saylon Alves Pereira OS PEDIDOS DE VISTA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Uma análise quantitativa nos casos de controle concentrado de constitucionalidade. Monografia apresentada à Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público-SBDP, sob orientação do Professor Diogo R. Coutinho. SÃO PAULO 2010 Resumo: Muito se especula acerca dos pedidos de vista. Em face disso, essa monografia buscou identificar, a partir de análise de dados, as possíveis formas de utilização desse instrumento que, em minha concepção, podem ser políticas ou estratégicas. Estas formas de utilização variam de acordo com as necessidades do STF, ora influenciando na sua relação com os demais poderes, ora atuando como forma de controle extraprocessual do tempo da ação pelos ministros na disputa pela efetivação de seus argumentos. Para fundamentar essas hipóteses a análise foi dividida em dois momentos. No primeiro, identifiquei alguns indicadores gerais da utilização desse instrumento no Tribunal, tais como: períodos, matérias e quantidade média de dias que os processos ficam sob vista. A partir disso, já é possível identificar alguns dados importantes como, por exemplo, o fato de nenhum ministro respeitar os prazos previstos no CPC e o aumento médio de 23% do tempo nas ações onde os pedidos de vista são utilizados. Na segunda parte da análise busquei estudar os dados dos pedidos de vista sob uma perspectiva individual, demonstrando o desempenho de cada ministro nas ações em que pediram vistas. Contudo, muito mais do que uma mera análise de dados, esse trabalho traz diversos questionamentos e hipóteses acerca dos usos dos pedidos de vista no STF, dos efeitos gerados por esse controle temporal informal, de suas possíveis consequências e, ainda, do papel do STF na sociedade dentro do contexto atual da democracia brasileira. -
Lawfare (Or, Simply, War)
! ! ! "! 978-987-722-309-5 Introduction “Comments on a notorious verdict: The trial of Lula” might be the most important judicial document published in Brazil for decades. The present selection of articles came to exist after a spontaneous movement, and significant enough as well, of Brazilian and foreign lawyers who carefully verified the verdict rendered in the extent of the procedure which was processed at the 13ª Vara Federal de Curitiba, in the case that was known at the media as “the Guarujá triplex”. Beyond the unprecedented aspect of the criminal conviction of an ex-President in political circumstances, in thesis not comparable to last century Brazilian dictatorships, the verdict, which in large scale was expected as a non-surprising closure of this criminal process, provoked immediate reaction between the ones who read it and were committed only with the purpose of trying to understand the reasons why Luiz Inácio Lula da Silva is being punished for the criminal acts of passive corruption and illicit asset laundering. The certainty of conviction was a fact. Admirers and opponents of the ex-President were aware that there wouldn’t be another verdict. The hesitation was in knowing the conviction reasons, normative requirement of the 1988 Constitution, which by the inevitable political repercussions of the cited procedure, showed the 1987-1988 Constituent’s right act when lifting the decision foundations to the constitutional warranty level of the process. Only recently, after twenty years of an intense judicial battle starred by Fernando Fernandes, by coincidence Paulo Tarciso Okamoto’s lawyer, who is a defendant together with the ex- President in this “Guarujá triplex” case, it was achieved to accomplish the Federal Supreme Court decision, bringing the trials audios to be known which the Superior Military Court (SMC) recorded during 1964-1985 dictatorship. -

Ministro Nelson Jobim Politização Do Supremo
MINISTRO NELSON JOBIM POLITIZAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JURISPRUDÊNCIA DE EXTREMA RELEVÂNCIA POLÍTICA E GRANDE REPERCUSSÃO PÚBLICA NACIONAL Monografia de conclusão da Escola de Formação Sociedade Brasileira de Direito Público Aluno: Fernando Akira Sakuma Orientador: Prof. Paulo Todescan Lessa Mattos São Paulo Dezembro de 2005 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO ESCOLA DE FORMAÇÃO 2005 MINISTRO NELSON JOBIM POLITIZAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JURISPRUDÊNCIA DE EXTREMA RELEVÂNCIA POLÍTICA E GRANDE REPERCUSSÃO PÚBLICA NACIONAL Fernando Akira Sakuma Monografia apresentada na Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público, como requisito de conclusão do ano letivo de 2005. São Paulo 2005 Sumário 1. Introdução............................................................................................................04 1.1 Hipótese e justificativa do tema..................................................................04 1.2 Desenvolvimento do trabalho e comprovação da hipótese.......................07 2. Histórico do Min. Nelson Jobim........................................................................09 3. Casos selecionados..............................................................................................17 3.1 Caso do processo de cassação do mandato parlamentar de José Dirceu.............................................................................................................17 3.2 Caso da “Reforma da Previdência”: a questão da cobrança previdenciária dos servidores inativos........................................................24 -

Voto-Vista E Deliberação No Supremo Tribunal Federal
Caio Gentil Ribeiro VOTO-VISTA E DELIBERAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Monografia apresentada à Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP, sob a orientação do Prof. Victor Marcel Pinheiro. SÃO PAULO 2011 Resumo: Há certa percepção de que o modelo decisório do Supremo Tribunal Federal é caracterizado pelo pouco diálogo entre seus ministros, que ele é corte em que há déficit de deliberação. Há instrumentos no tribunal, contudo, que parecem ter potencial para promover deliberação. O voto-vista é um deles. Este trabalho pretende verificar se, de fato, esse instrumento serve à promoção de deliberação no tribunal. Para isso, verifica se os votos-vista levam em consideração os argumentos lançados nos votos e debates anteriores aos respectivos pedidos de vista, identifica aspectos recorrentes dos votos-vista que não promovem deliberação e, por fim, conclui que o voto-vista tem potencial de promover deliberação (foram identificados votos-vista que efetivamente a promovem), mas na maioria das vezes não o faz. Acórdãos citados: ADI 3772/DF, ADI 2980/ DF, ADI 1045/DF, ADPF 130/ DF, ADI 1194/ DF, ADPF 46/ DF, ADI 2800/RS, ADI 255/RS, ADI 4033/DF, ADI 3791/DF, ADI 3096/ DF, ADI 3028/RN, ADI 2182/DF, ADI 2855/MT, ADI 341/PR, ADI 1916/MS, ADI 1933/DF, ADI 3106/MG, ADI 3235/AL e ADI 3916/DF Palavras-chave: argumentação, decisão, deliberação, diálogo, voto-vista 2 Agradecimentos Agradeço à SBDP e a seus professores pelas aulas da Escola de Formação e dos cursos de Direito Constitucional, que chamaram atenção para tantos temas interessantes relacionados à atividade do STF, inclusive o deste trabalho. -
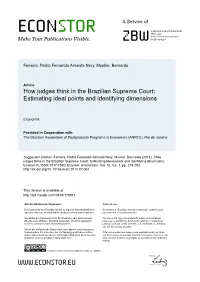
How Judges Think in the Brazilian Supreme Court: Estimating Ideal Points and Identifying Dimensions
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Ferreira, Pedro Fernando Almeida Nery; Mueller, Bernardo Article How judges think in the Brazilian Supreme Court: Estimating ideal points and identifying dimensions EconomiA Provided in Cooperation with: The Brazilian Association of Postgraduate Programs in Economics (ANPEC), Rio de Janeiro Suggested Citation: Ferreira, Pedro Fernando Almeida Nery; Mueller, Bernardo (2014) : How judges think in the Brazilian Supreme Court: Estimating ideal points and identifying dimensions, EconomiA, ISSN 1517-7580, Elsevier, Amsterdam, Vol. 15, Iss. 3, pp. 275-293, http://dx.doi.org/10.1016/j.econ.2014.07.004 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/179577 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.