000 Apresent REV ANT 14
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fip Zone “A” World Polo Championship Playoffs
FIP ZONE “A” WORLD POLO CHAMPIONSHIP PLAYOFFS APRIL 26-30, 2017 LETTER FROM THE USPA CHAIRMAN Dear Polo Enthusiasts, The United States Polo Association®, the International Polo Club Palm Beach and Port Mayaca Polo Club are honored to host the FIP Zone “A” World Championship Playoffs. We welcome coaches, players, family members and spectators to South Florida and are excited for the opportunity to witness international polo at its finest. We are proud to provide a venue to showcase the best athletes from Mexico, Guatemala and the United States and look forward to each team competing for an opportunity to advance to the XI FIP World Polo Championship in Australia. I would also like to extend my most sincere gratitude to all of those involved in putting this tournament together. Without the support from FIP, our dedicated staff, Member Clubs and Members around the country, an event of this magnitude would not be possible. Please join us in supporting all three countries throughout the week as they compete for a spot in the World Championship. Sincerely, Joseph Meyer Chairman United States Polo Association® FIP PRESIDENT “On behalf of the Federation of International Polo I would like to sincerely thank the USPA and all those who have so kindly assisted in hosting the FIP Zone “A” Playoffs at the `Home of American Polo’ in Florida. This championship give an opportunity for the up and coming players to show off their talent and skills with the added honour of playing for their country. May I take this opportunity to wish all those participating the very best of luck for a safe and enjoyable tournament and may the best team win. -

EUSA Year Magazine 2019-2020
EUROPEAN UNIVERSITY SPORTS ASSOCIATION YEAR 2019/20MAGAZINE eusa.eu CONTENTS Page 01. EUSA STRUCTURE 4 02. EUROPEAN UNIVERSITIES CHAMPIONSHIPS 2019 9 03. ENDORSED EVENTS 57 04. CONFERENCES AND MEETINGS 61 05. PROJECTS 75 06. EU INITIATIVES 85 07. UNIVERSITY SPORT IN EUROPE AND BEYOND 107 08. PARTNERS AND NETWORK 125 09. FUTURE PROGRAMME 133 Publisher: European University Sports Association; Realisation: Andrej Pišl, Fabio De Dominicis; Design, Layout, PrePress: Kraft&Werk; Printing: Dravski tisk; This publication is Photo: EUSA, FISU archives free of charge and is supported by ISSN: 1855-4563 2 WELCOME ADDRESS Dear Friends, With great pleasure I welcome you to the pages of Statutes and Electoral Procedure which assures our yearly magazine to share the best memories minimum gender representation and the presence of the past year and present our upcoming of a student as a voting member of the Executive activities. Committee, we became – and I have no fear to say – a sports association which can serve as an Many important events happened in 2019, the example for many. It was not easy to find a proper year of EUSA’s 20th anniversary. Allow me to draw tool to do that, bearing in mind that the cultural your attention to just a few personal highlights backgrounds of our members and national here, while you can find a more detailed overview standards are so different, but we nevertheless on the following pages. achieved this through a unanimous decision- making process. In the build up to the fifth edition of the European Adam Roczek, Universities Games taking place in Belgrade, I am proud to see EUSA and its Institute continue EUSA President Serbia, the efforts made by the Organising their active engagement and involvement in Committee have been incredible. -

Are Driverless Cars Just Around the Corner?
FREE MAGAZINE FEBRUARY - MARCH 2017 TACSAÍIRELAND’S ONLY FREE INDEPENDENT TACSAÍ MAGAZINE FOR DRIVERS & INDUSTRY PROFESSIONALS ARE DRIVERLESS TAXI SPY ON-THE-SPOT CARS JUST AROUND PRIZES FOR DRIVERS FOUND WITH THE CORNER? TACSAÍ MAGAZINE IN THEIR CAR PLUS INSIDE… HAILO COMPLAINTS SKYROCKET SPSV TAXI TRAINING NOW IN AFTER SUMMER TAKEOVER P.6 ITS 25TH YEAR IN MARCH P.48 LIMERICK DRIVERS RAGE AT UBER PROTEST IN NEW YORK OVER RANK REMOVAL P.22 TRUMP’S MUSLIM BAN P.12 ALL NORTHSIDE AREAS IN PARTICULAR DRIVERS SEE P.34 FOR DETAILS DIAL-A-CAB WANTED 80-80-800 01_TM_IRL_02-03_17_ED_COVER.indd 1 07/02/2017 22:51 The Hybrid Motor Centre The Hybrid Motor Centre is a supplier of used cars based in Rush, Co. Dublin. We specialise in fuel ef cient cars ideal for the taxi trade. • 20,000km warranty on all cars. • Low fuel consumption. • Ideal for the taxitrade. Call today: 01 870 2000 or 086 180 6220 www.hybridmotorcentre.ie The Hybrid Motor Centre 60 Upper Main Street, Rush, Dublin T: 01 870 2000 M: 086 180 6220 M: 086 307 0718 02_TM_IRL_02-03_17_AD_Hybrid_Motor.indd 1 07/02/2017 20:07 CONTENTS 06. HAIL’ STORM AT APP COMPANY EDITORIAL All is not well at Hailo these days e have a jam- in Uber) are ready to roll out the 09. THE MAGIC STUFF packed edition driverless car after tests in Asia and We talk to Drew from Dipetane of Tacsaí this Pittsburgh. ey believe it will only 12. #DELETEUBER month guys be a matter of time before all taxis are Thousands delete app in protest W and girls. -
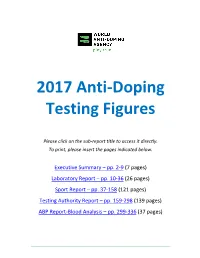
2017 Anti-Doping Testing Figures Report
2017 Anti‐Doping Testing Figures Please click on the sub‐report title to access it directly. To print, please insert the pages indicated below. Executive Summary – pp. 2‐9 (7 pages) Laboratory Report – pp. 10‐36 (26 pages) Sport Report – pp. 37‐158 (121 pages) Testing Authority Report – pp. 159‐298 (139 pages) ABP Report‐Blood Analysis – pp. 299‐336 (37 pages) ____________________________________________________________________________________ 2017 Anti‐Doping Testing Figures Executive Summary ____________________________________________________________________________________ 2017 Anti-Doping Testing Figures Samples Analyzed and Reported by Accredited Laboratories in ADAMS EXECUTIVE SUMMARY This Executive Summary is intended to assist stakeholders in navigating the data outlined within the 2017 Anti -Doping Testing Figures Report (2017 Report) and to highlight overall trends. The 2017 Report summarizes the results of all the samples WADA-accredited laboratories analyzed and reported into WADA’s Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS) in 2017. This is the third set of global testing results since the revised World Anti-Doping Code (Code) came into effect in January 2015. The 2017 Report – which includes this Executive Summary and sub-reports by Laboratory , Sport, Testing Authority (TA) and Athlete Biological Passport (ABP) Blood Analysis – includes in- and out-of-competition urine samples; blood and ABP blood data; and, the resulting Adverse Analytical Findings (AAFs) and Atypical Findings (ATFs). REPORT HIGHLIGHTS • A analyzed: 300,565 in 2016 to 322,050 in 2017. 7.1 % increase in the overall number of samples • A de crease in the number of AAFs: 1.60% in 2016 (4,822 AAFs from 300,565 samples) to 1.43% in 2017 (4,596 AAFs from 322,050 samples). -

POLO+10 World 01/2018
21 o WOR L D 2018, Volume 7 • N 2018, Volume / I POLO+10 WORLD – The Polo Magazine • Est. 2004 • Published Worldwide www.poloplus10.com Printed in Germany & Argentina I / 2018, Volume 7 • No 21 The Polo Magazine • Est. 2004 Published Worldwide 75,00 AED 200,00 ARS 24,00 AUD 8,00 BHD 19,00 CHF 130,00 CNY 16,00 EUR 13,00 GBP 160,00 HKD 1.300,00 INR 2.200,00 JPY 75,00 QAR 850,00 RUB 27,00 SGD 21,00 USD 230,00 ZAR POLO+10 WORLD – EDITORIAL POLO +10 WORLD 3 NEW IDEAS Many polo clubs, players, associations and experts are heading for new shores this year. We are on. Not only new tournaments and the Polo Euro- pean Championship in the Italian Villa Sesta are on the program this year. In many places and on many topics there is renewal and optimism in the air. Whether it is the new HPA safety regulations on polo helmets, which has been in force since the Be confident. beginning of the year and which we report on in this issue. Or be it the first Ladies Argentine Open in Buenos Aires, which took place last Decem- ber for the first time in great public interest. Great Own your success. ladies teams played their final in the run-up to the men‘s Argentine Open Finals in front of crowded stands in Palermo. Overall, Ladies Polo is on the rise all over the world. No polo or division grows as fast and durable as Ladies Polo. -

Sydney Wins Bid to Host 2017 World Polo Championship
Stuart Ayres Minister for Trade, Tourism and Major Events Minister for Sport Friday, 11 December 2015 SYDNEY WINS BID TO HOST 2017 WORLD POLO CHAMPIONSHIP The NSW Government, in partnership with the Sydney Polo Club, will host the 2017 World Polo Championship, a tournament that will see the world’s eight best nations compete for the world title in Sydney’s Hawkesbury region. Minister for Trade, Tourism and Major Events and Minister for Sport Stuart Ayres said the victory was confirmed overnight by the Federation of International Polo (FIP) in Buenos Aires, Argentina. “The World Polo Championship is the sport’s most prestigious event and I’m thrilled Sydney has been chosen by the FIP as the host of the 2017 event. This is yet another major sporting event secured exclusively for our State by Destination NSW,” Mr Ayres said. “Polo is a popular sport in Australia, with 50 clubs and associations around the country; half of those in NSW. The NSW Polo Association is the oldest in the country, formed in 1892.” Member for Hawkesbury Dominic Perrottet said the event delivers part of the NSW Government’s election commitment to grow tourism in the Hawkesbury region. “It’s a great win for Hawkesbury, with more than 5,000 domestic and international visitors expected to spend $3.3 million,” Mr Perrottet said. “The World Championships will give this historic sport a great boost locally, and see our polo fields broadcast around the world.” The tournament will consist of eight teams – the winner of each geographic region and Australia, the host nation. -

Federation of International Polo World Championship
FEDERATION OF INTERNATIONAL POLO WORLD CHAMPIONSHIP AND ZONE PLAY-OFF TOURNAMENT PROCEDURES January 2018 INDEX 1. World Polo Championships ............................................................................... 2 2. Federation of International Polo ........................................................................ 2 3. Hosting of a Qualifying Tournament or World Championships ................................ 2 A. Requirements ........................................................................................... 2 B. Expenses ................................................................................................. 3 C. Sponsorship: ............................................................................................ 4 4. Host Country Organizing Committee .................................................................. 8 5. FIP’s Event Tournament Committee. ................................................................ 10 6. FIP Tournament Director ................................................................................ 11 7. FIP Tournament Coordinator ........................................................................... 12 Annex A. Procedures for Entering .......................................................................... 13 A. Team Entry Form - Attachment 1 .............................................................. 13 B. Players Biography Form - Attachment 2 ..................................................... 15 C. Hold Harmless and Waiver of Intellectual Property Rights -

Buenos Aires: a Creative City?
Buenos Aires: A Creative City? November 2016 Prepared by the Creative Class Group Forward from Richard Florida Buenos Aires has been through a lot of transformations in its history. It started as a colonial outpost in a rural hinterland and grew into the industrial, financial, and commercial capital of a nation. Now, as Argentina enters a new period of stability, prosperity, and growth, it is shaping up as a leader in the post-industrial creative economy. Like every big city, Buenos Aires faces vexing challenges, among them poverty and brain drain. Fortunately, it has an incredible set of assets in its great universities, a government that is prepared to make the investments in quality of place that it needs—and most importantly of all, a diverse, dynamic, and highly-creative citizenry. If any global city is well-positioned to make the most of an Art Basel Cities, it is Buenos Aires. 2 Executive Summary Simply put, how well does Buenos Aires measure up as a global creative hub? What are its strengths and weaknesses according to the Creative Class Group’s proprietary metrics for urban creativity? How can the city use Art Basel to help cement its status as an emerging creative hub while bolstering its on-going place-making efforts? In the report that follows, we address these questions and offer our key findings and recommendations. Buenos Aires’ Creative Assets and Industries Key findings: • Buenos Aires has 142,213 jobs in creative industries (design, technology, audio-visual, and arts and culture) and creative employment is growing at a faster rate than overall employment for the city. -

Country Date Event Location Description Austria June
European Week of Sport 2019 Country Date Event Location Description Various exercise programmes taking place in public places throughout Austria during the summer months, that are easily accessible and led by Being active in course instructors from the Austria June - September the park Across the country grassroots sports associations. Austrian Schools offer different sport activities within the whole months in the framework of the ESSD European School and especially also during the Austria 1-27 September Sport Day Across the country European Week of Sport. Under the motto "Together fit. Move with me", people in Austria will be motivated to exercise more and advertise what sports clubs and 7 September - 30 50 Days of communities offer suitable Austria October Movement Across the country offers in the vicinity. Schools starting active into the new school year. From 9 to 13 o´clock school classes can try out different sports in Day of School the area of the Day of Sports Austria 20 September Sport Vienna (21 September). Austria's largest free open-air sports event with over 100 sports associations and #BeActive organisations, and stars and European Village athletes for selfies and Austria 21 September at Day of Sports Vienna autographs. Encourage workplace activities, focusing on apprentices and installing Austria 23-27 September #BeActive at Work Across the country Nudging tools. Open days and taster sessions #BeActive Trial in sports clubs during the Austria 23-30 September Week Across the country European Week of Sport. The 15th ENSE Forum will be held at the University of Vienna’s Institute for Sport Science under the theme Sport – Education – Society. -

Organizer's Manual
TWG Cali 2013 Organizer’s Manual Artistic & Dance Ball Sports Martial Arts Precision Strength Trend Sports Sports Sports Sports INDEX IF Commitment 5 History 6 Sports by Cluster 10 Artistic & DanceSports 13 Acrobatic Gymnastics 15 Aerobic Gymnastics 19 Artistic Roller Skating 23 DanceSport 27 Rhythmic Gymnastics 31 Trampoline 35 Tumbling 39 Ball Sports 43 Beach Handball 45 Canoe Polo 49 Fistball 53 Korfball 57 Racquetball 61 Rugby 65 Squash 69 Martial Arts 73 Ju-jitsu 75 Karate 79 Sumo 83 Precision sports 87 Sports of TWG2013 as of 21.07.2013 Page 2 Billiard Sports 89 Boules Sports 95 Bowling 101 World Archery 105 Strength sports 109 Powerlifting 111 Tug of War 115 Trend Sports 119 Air Sports 121 Finswimming 125 Flying Disc 129 Roller Inline Hockey 133 Life Saving 137 Orienteering 141 Speed Skating 145 Sport Climbing 149 Waterski & Wakeboard 153 Invitational sports 159 Canoe Marathon 161 Duathlon 165 Softball 169 Speed Skating Road 173 Wushu 177 Schedule 180 Contact 185 Page 3 Sports of TWG2013 as of 21.07.2013 Page 4 IF COMMITMENT International Sports Federations The IWGA Member International Sports Federations ensure: The IWGA Member International Sports Federations ensure the participation of the very best athletes in their events of The World Games by establishing the selection and qualification criteria accordingly. Together with the stipulation for wide global representation of these athletes, the federations’ commitment guarantees top-level competitions with maximum universality. As per the Rules of The World Games, federations present their events in ways that allow the athletes to shine while the spectators are well entertained. -
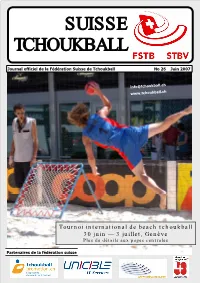
Suisse Tchoukball
SUISSE TCHOUKBALL Journal officiel de la Fédération Su isse de Tchoukball No 26 Juin 2007 [email protected] www.tchoukball.ch Tournoi international de beach tchoukball 30 juin — 3 juillet, Genève Plus de détails aux pages centrales Partenaires de la fédération suisse Nouvelles de la FSTB Éditorial Championnat suisse de tchou En cette fin de saison, il est l'heure de Pour la première fois séparé en chainement disponible sur le site Inter- faire quelques bilans. Au niveau deux ligues, le championnat net de la FSTB. suisse, le tchoukball se développe de 2006 / 2007 n’a pas manqué de manière réjouissante notamment rebondissements. En ligue A, l’é- grâce au travail de fond de tous les quipe de Lausanne 1 a conservé acteurs concernés. son titre pour la quatrième sai- son consécutive en affichant une Sur le plan purement quantitatif, la saison parfaite (aucune défaite) FSTB a passé cette saison la barre tandis qu’en ligue B, l’équipe symbolique des 1000 membres et 20 suisse féminine a ravi le titre aux clubs. Cette augmentation importante Nyonnais lors de la finale. Par vient notamment du dynamisme du contre elle n’a pas réussi à s’im- mouvement junior. En effet, les poser face à la Chaux-de-Fonds juniors actifs représentent plus du lors du match de promotion/ double des actifs adultes ce qui est un relégation. indice indiscutable de la vitalité d'un Au niveau sportif, à noter le titre de sport. Nous en profitons ici pour Lausanne 1 qui s’impose devant Ge- remercier tous les entraîneurs, Finales du championnat nève 1 par 59 à 49. -

Uspa Board of Governors Meeting
USPA BOARD OF GOVERNORS MEETING April 18-20, 2019 Embassy Suites, West Palm Beach, Florida DELEGATES/MEMBERS BOOK UNITED STATES POLO ASSOCIATION 2019 APRIL BOARD OF GOVERNORS MEETING Board of Governors Meeting Agenda ..................................................................................................Section 1 Secretary’s Report ..............................................................................................................................................Section 2 Treasurer’s Report ................................................................................................................................................Section 3 Finance Committee .........................................................................................................................................Section 4 Executive Committee ......................................................................................................................................Section 5 Arena Polo Committee ...................................................................................................................................Section 6 Armed Forces Polo Committee .................................................................................................................Section 7 Audit Committee ................................................................................................................................................Section 8 Board and Staff Development Committee .......................................................................................Section